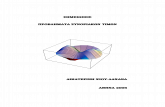ApostilaDireitoCivil
description
Transcript of ApostilaDireitoCivil
-
APOSTILA DIREITO CIVIL
DIREITO PRIVADO Composto, inteira ou predominantemente, por normas de ordem privada, que so normas de carter supletivo, que vigoram apenas enquanto a vontade dos interessados no dispuser de modo diferente do previsto pelo legislador. No direito de ordem pblica, as normas so imperativas, de obrigatoriedade inafastvel.
DIREITO CIVIL Ramo do direito privado destinado a reger relaes familiares patrimoniais e obrigacionais que se formam entre indivduos encarados como tais, ou seja, enquanto membros da sociedade.
DIREITO EMPRESARIAL Ramo do direito privado que regula as relaes de comrcio ou com este conexas, e a atividade econmica do empresrio e concilia a liberdade contratual com a segurana jurdica e a celeridade nos negcios.
LEI DE INTRODUO AO CDIGO CIVIL
VIGNCIA DAS LEIS Salvo disposio contrria, a lei comea a vigorar em todo o pas quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. (artigo 1)
Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia trs meses depois de oficialmente publicada. (Vide Lei 2.145, de 1953)
Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicao de seu texto, destinada a correo, o prazo deste artigo e dos pargrafos anteriores comear a correr da nova publicao.
As correes a texto de lei j em vigor consideram-se lei nova.
MODIFICAO DAS LEIS No se destinando vigncia temporria, a lei ter vigor at que outra a modifique ou revogue. (artigo 2)
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatvel ou quando regule inteiramente a matria de que tratava a lei anterior.
A lei nova, que estabelea disposies gerais ou especiais a par das j existentes, no revoga nem modifica a lei anterior.
Salvo disposio em contrrio, a lei revogada no se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigncia.
CUMPRIMENTO DAS LEIS Ningum se escusa de cumprir a lei, alegando que no a conhece.(artigo 3)
OMISSO DA LEI Quando a lei for omissa, o juiz decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princpios gerais de direito. (artigo 4)
FINS SOCIAIS DA LEI
-
Na aplicao da lei, o juiz atender aos fins sociais a que ela se dirige e s exigncias do bem comum. (artigo 5)
DIREITO ANTERIOR A Lei em vigor ter efeito imediato e geral, respeitados o ato jurdico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (artigo 6)
Reputa-se ato jurdico perfeito o j consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. (Pargrafo includo pela Lei n 3.238, de 1957)
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou algum por le, possa exercer, como aqules cujo como do exerccio tenha trmo pr-fixo, ou condio pr-estabelecida inaltervel, a arbtrio de outrem. (Pargrafo includo pela Lei n 3.238, de 1957)
Chama-se coisa julgada ou caso julgado a deciso judicial de que j no caiba recurso. (Pargrafo includo pela Lei n 3.238, de 1957)
REGRA GERAL DO DOMICILIO A lei do pas em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o comeo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de famlia. (artigo 7)
Realizando-se o casamento no Brasil, ser aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e s formalidades da celebrao.
O casamento de estrangeiros poder celebrar-se perante autoridades diplomticas ou consulares do pas de ambos os nubentes. (Redao dada pela Lei n 3.238, de 1957)
Tendo os nubentes domiclio diverso, reger os casos de invalidade do matrimnio a lei do primeiro domiclio conjugal.
O regime de bens, legal ou convencional, obedece lei do pas em que tiverem os nubentes domiclio, e, se este for diverso, a do primeiro domiclio conjugal.
O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuncia de seu cnjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalizao, se apostile ao mesmo a adoo do regime de comunho parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoo ao competente registro. (Redao dada pela Lei n 6.515, de 1977)
O divrcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cnjuges forem brasileiros, s ser reconhecido no Brasil depois de 1 (um) ano da data da sentena, salvo se houver sido antecedida de separao judicial por igual prazo, caso em que a homologao produzir efeito imediato, obedecidas as condies estabelecidas para a eficcia das sentenas estrangeiras no pas. O Superior Tribunal de Justia, na forma de seu regimento interno, poder reexaminar, a requerimento do interessado, decises j proferidas em pedidos de homologao de sentenas estrangeiras de divrcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. (Redao dada pela Lei n 12.036, de 2009).
Salvo o caso de abandono, o domiclio do chefe da famlia estende-se ao outro cnjuge e aos filhos no emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda.
Quando a pessoa no tiver domiclio, considerar-se- domiciliada no lugar de sua residncia ou naquele em que se encontre.
LEI APLICVEL A BENS Para qualificar os bens e regular as relaes a eles concernentes, aplicar-se- a lei do pas em que estiverem situados. (artigo 8)
Aplicar-se- a lei do pas em que for domiciliado o proprietrio, quanto aos bens moveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.
-
O penhor regula-se pela lei do domiclio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada.
LEI APLICVEL S OBRIGAES Para qualificar e reger as obrigaes, aplicar-se- a lei do pas em que se constituirem. (artigo 9)
Destinando-se a obrigao a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, ser esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrnsecos do ato.
A obrigao resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que residir o proponente.
LEI APLICVEL SUCESSO A sucesso por morte ou por ausncia obedece lei do pas em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situao dos bens. (artigo 10)
A sucesso de bens de estrangeiros, situados no Pas, ser regulada pela lei brasileira em benefcio do cnjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que no lhes seja mais favorvel a lei pessoal do de cujus. (Redao dada pela Lei n 9.047, de 1995)
A lei do domiclio do herdeiro ou legatrio regula a capacidade para suceder.
LEI APLICVEL AS ONGS As organizaes destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundaes, obedecem lei do Estado em que se constituirem. (artigo 11)
No podero, entretanto ter no Brasil filiais, agncias ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas lei brasileira.
Os Governos estrangeiros, bem como as organizaes de qualquer natureza, que eles tenham constituido, dirijam ou hajam investido de funes pblicas, no podero adquirir no Brasil bens imveis ou susceptiveis de desapropriao.
Os Governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prdios necessrios sede dos representantes diplomticos ou dos agentes consulares.
DIREITO PARA ESTRANGEIROS competente a autoridade judiciria brasileira, quando for o ru domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigao. (artigo 12)
S autoridade judiciria brasileira compete conhecer das aes relativas a imveis situados no Brasil.
A autoridade judiciria brasileira cumprir, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pele lei brasileira, as diligncias deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta, quanto ao objeto das diligncias.
NACIONALIDADE DAS PROVAS A prova dos fatos ocorridos em pas estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao nus e aos meios de produzir-se, no admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconhea. (artigo 13)
No conhecendo a lei estrangeira, poder o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigncia.
SENTENA ESTRANGEIRA
-
Ser executada no Brasil a sentena proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes requisitos (artigo 15):
a) haver sido proferida por juiz competente;
b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessrias para a execuo no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por intrprete autorizado; e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. (Vide art.105, I, i da Constituio Federal). Pargrafo nico. No dependem de homologao as sentenas meramente declaratrias do estado das pessoas. (Revogado pela Lei n 12.036, de 2009).
ATOS CIVIS DE BRASILEIROS Tratando-se de brasileiros, so competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de bito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no pas da sede do Consulado. (Redao dada pela Lei n 3.238, de 1957) (artigo 18)
DIREITO CIVIL: PESSOAS, CAPACIDADE E DOMICLIO
PESSOAS
PESSOA FSICA NATURAL: todo ser humano, sujeito de direitos e obrigaes. Para ser considerado PESSOA NATURAL basta que o homem exista. Todo homem dotado de personalidade, isto , tem CAPACIDADE para figurar numa relao jurdica, tem aptido para adquirir direitos e contrair obrigaes.
CAPACIDADE: DE DIREITO E DE FATO a medida da personalidade.
Capacidade de Direito: prpria de todo ser humano, que a adquire assim que nasce (comea a respirar) e s a perde quando morre; Em face do ordenamento jurdico brasileiro a personalidade se adquire com o nascimento com vida, ressalvados os direitos do nascituro desde a concepo.
Capacidade de Fato: nem todos a possuem; a aptido para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil (capacidade de ao). S se adquire a Capacidade de Fato com a plenitude da conscincia e da vontade.
A pessoa tem a capacidade de direito, mas pode no ter a capacidade de fato. Capacidade Plena: quando a pessoa tem as duas espcies de capacidade (de direito e de fato). Incapacidade: Quando a pessoa possui somente a capacidade de direito; ela denominada incapaz, e necessita de outra pessoa que a substitua, auxilie e complete a sua vontade.
Ex.: Os recm nascidos e os loucos tm somente a capacidade de direito, pois esta capacidade adquirida assim que a pessoa nasce. Eles podem, por exemplo, exercer o direito de herdar. Mas no tm capacidade de fato, ou seja, no podem exercer o direito de propor qualquer ao em defesa da herana recebida, precisam ser representados pelos pais ou curadores.
COMEO E FIM DA PERSONALIDADE
-
Comeo da Personalidade: A personalidade comea com o nascimento com vida, o que se constata com a respirao (docimsia hidrosttica de Galeno). Antes do nascimento no h personalidade, mas a lei, todavia, lhe resguarda direitos para que os adquira se vier a nascer com vida.
Extino da Personalidade: A personalidade se extingue com a morte real, fsica.
a) Morte Real: A sua prova se faz pelo atestado de bito ou pela justificao, em caso de catstrofe e no encontro do corpo. A existncia da pessoa natural termina com a morte, e suas conseqncias so: extino do ptrio poder; dissoluo do casamento; extino dos contratos pessoais; extino das obrigaes; etc
c) Morte Civil: Quando um filho atenta contra a vida de seu pai ele pode ser excludo da herana por indignidade, como se morto fosse, somente para o fim de afast-lo da herana. Outra forma de Morte Civil a ofensa honra (injria, calunia e difamao), ou a pessoa evitar o cumprimento de um testamento.
d) Morte Presumida ocorre quando a pessoa for declarada ausente, desaparecida do seu domicilio, ou que deixa de dar noticias por longo perodo de tempo. Os efeitos da Morte Presumida so apenas patrimoniais. O ausente no declarado morto, nem sua mulher considerada viva. Os herdeiros podero requerer a sucesso definitiva 05 (cinco) anos aps a constatao do desaparecimento.
GRAUS DE CAPACIDADE CAPAZES Maiores de 21 anos (excetuando-se as pessoas possuidoras de uma ou mais caractersticas abaixo elencadas);
ABSOLUTAMENTE INCAPAZES Devem ser representados; no podem participar do ato jurdico o ato NULO; Os atos praticados pelos absolutamente incapazes so considerados nulos de pleno direito quando no tiverem sido realizados por seu representante legal. So absolutamente incapazes: menores de 16 anos; loucos/alienados de todo gnero (submetidos percia mdica); surdos e mudos que no conseguirem exprimir sua vontade; ausentes (declarados judicialmente morte presumida).
RELATIVAMENTE INCAPAZES Devem ser assistidos; o ato jurdico pode ser anulvel. Os atos praticados pelos relativamente incapazes so considerados anulveis quando praticados sem a devida assistncia. So relativamente incapazes:
maiores de 16 anos e menores de 21 anos; prdigos (que tm compulso em gastar e comprar); o prdigo para casar precisa de autorizao do seu curador. silvcolas (ndios).
Observaes: Quanto incapacidade relativa, pode-se afirmar que o menor - entre 16 e 18 anos - equipara-se ao maior quanto s obrigaes resultantes de atos ilcitos, em que for declarado culpado. A incapacidade do menor cessar com o seu casamento. (s com autorizao dos pais ou responsvel e s a partir dos 16 anos)
-
Se uma pessoa relativamente incapaz vender um imvel, o adquirente sabendo que ele s tinha menos de 18 anos de idade, sem a devida assistncia dos seus representantes legais, este ato ser anulvel.
Os relativamente incapazes podem ser mandatrios.
EMANCIPAO: a aquisio da plenitude da capacidade antes dos 18 anos, habilitando-o para todos os atos da vida civil. A emancipao, por concesso dos pais ou por sentena judicial, s produzir efeito aps sua inscrio no Registro Civil.
Adquire-se a emancipao e conseqente capacidade civil plena:
por ato dos pais ou de quem estiver no exerccio do ptrio poder, se o menor tiver entre 16 e 18 anos. Neste caso no precisa homologao do juiz, bastando uma escritura pblica ou particular, e registrada em cartrio; por sentena do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos; pelo casamento; pelo exerccio de emprego pblico efetivo, na Administrao Direta; pela formatura em grau superior; pelo estabelecimento civil ou comercial com economia prpria.
A capacidade plena civil (maioridade civil) se d aos 18 anos e a maioridade penal tambm se d aos 18 anos.
DOMICLIO E RESIDNCIA
Domiclio: a sede jurdica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito. o lugar pr-fixado pela lei onde a pessoa presumivelmente se encontra.
Residncia: uma situao de fato
Domiclio da Pessoa Natural: o lugar onde a pessoa estabelece a sua residncia com nimo definitivo. A residncia , portanto, um elemento do conceito de domiclio, o seu elemento objetivo. O elemento subjetivo o nimo definitivo.
Algumas regras para se estabelecer o domiclio das pessoas naturais
Regra Bsica: O domiclio da pessoa natural o lugar onde ela estabelece sua residncia com nimo definitivo;
Outras Regras:
Pessoas com vrias residncias onde alternativamente vivam ou com vrios centros de ocupao habitual: domiclio qualquer um deles;
Pessoas sem residncia habitual, nem ponto central de negcios (ex.: circenses): domiclio o lugar onde for encontrado;
Domiclios necessrios e legais:
-
a) dos incapazes: o dos seus representantes; b) da mulher casada: o do marido; c) do funcionrio pblico: o lugar onde exerce suas funes, no temporrias; d) do militar: o do lugar onde serve; e) dos oficiais e tripulantes da marinha mercante: o do lugar onde o navio est matriculado f) do preso: o do lugar onde cumpre a sentena
DOMICLIO CONTRATUAL Tambm chamando de Foro de Eleio: o domiclio eleito pelas partes contratantes.
DOMICLIO EMPRESARIAL OU COMERCIAL Domiclio das Pessoas Jurdicas: a pessoa jurdica tem por domiclio a sede ou a filial, para os atos ali praticados.
No Brasil, prevalece a teoria da pluralidade de domiclios.
DIREITO CIVIL - BENS
CONCEITO Coisa tudo o que existe fora do homem. Ex.: o ar, a terra, a gua, uma jia.
Bens so coisas economicamente valorveis, qualquer coisa que sirva para satisfazer uma necessidade do indivduo ou da comunidade, tanto material como espiritual. bens so valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relao de direito. Toda relao jurdica entre dois sujeitos tem por objeto um bem sobre o qual recaem direitos e obrigaes.
CLASSIFICAO
TANGVEIS: bens com existncia fsica, so os percebidos pelos sentidos. So objetos de contratos de compra e venda. Ex.: imveis, jias, dinheiro, etc. Tambm so chamados de Corpreos ou Materiais.
INTANGVEIS: bens com existncia abstrata e que no podem ser percebidos pelos sentidos. So objetos de contratos de cesso (transferncia). No podem ser objeto de usucapio. Ex.: propriedade literria, direito autoral, marcas e patentes, direito sucesso aberta, etc. Tambm so chamados de Incorpreos ou Imateriais.
Imveis: tudo aquilo que estiver incorporado ao solo, no sentido amplo. Podem ser objeto de Hipoteca
por natureza: o solo e sua superfcie mais acessrios (rvores, frutos) mais adjacncias (espao areo, subsolo); por acesso fsica: tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, no podendo remov-lo sem destruio. Ex: sementes plantadas, construes. Os materiais provisoriamente separados de um prdio, no perdem o carter de imveis. por destinao: esto servindo ao imvel e no ao proprietrio. Ex: mquinas, tratores, veculos, etc. Podem, a qualquer momento, ser mobilizados.
-
por disposio legal: direitos reais sobre imveis. Ex.: direito de propriedade, de usufruto, o uso, a habitao, a servido, a enfiteuse; penhor agrcola, direito sucesso aberta (cuja herana formada exclusivamente de bens mveis);etc. As aplices da dvida pblica - oneradas com a clusula de inalienabilidade; As jazidas e as quedas dgua com aproveitamento p/ energia hidrulica.
MVEIS: podem ser objeto de Penhor.
por natureza: so os bens suscetveis de movimento prprio ou por fora alheia. Ex.: uma cadeira, um boi, um carro, um livro, etc. O Navio e o Avio so bens mveis sui generis, de natureza especial, sendo tratados, em vrios aspectos, como se fossem imveis, necessitando de registro e admitindo hipoteca. Ambos tm nacionalidade. por disposio legal: direitos reais sobre bens mveis (propriedade, usufruto); direitos de obrigao e as aes respectivas; os direitos do autor. por equiparao pela doutrina: a energia eltrica
Observaes: Os bens mveis se adquirem pela tradio; os bens imveis se adquirem pela transcrio da escritura pblica no Cartrio de Registro de Imveis; Outorga uxria: os bens imveis para serem alienados, por pessoa casada, necessitam do consentimento do cnjuge; os mveis no. Usucapio em imveis: de boa f (5 anos se at 50 hectares de terra no campo ou 250m se na cidade. Sem boa f, 10 anos se morador e 15 anos se no) Usucapio em mveis: de boa f (3 anos); sem boa f (5 anos)
FUNGVEIS: so os bens mveis que podem ser substitudos por outros da mesma espcie, qualidade e quantidade. Ex.: arroz, feijo, papel, dinheiro, etc.
INFUNGVEIS: so os bens que no podem ser substitudos por outros da mesma espcie, qualidade e quantidade. Ex.: os imveis, um carro, uma jia, livro de edio esgotada, etc.
Mtuo: emprstimo gratuito de coisas fungveis; Comodato: emprstimo gratuito de coisas infungveis; Aluguel: emprstimo oneroso de bens infungveis;
CONSUMVEIS: bens mveis cujo uso importa destruio imediata da prpria coisa. Admite apenas uma utilizao. Ex.: cigarro, giz, alimentos, tinta de parede, etc.
INCONSUMVEIS: so os que proporcionam reiterados usos. Ex.: vestido, sapato, etc.
DIVISVEIS: so os que podem ser partidos em pores reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito. Ex.: papel, quantidades de arroz, etc.
INDIVISVEIS: so os bens que no podem ser partidos em pores, (por determinao legal ou vontade das partes), pois deixariam de formar um todo perfeito. Ex.: uma jia, um anel, uma rgua, a herana, etc.
SINGULARES: so todas as coisas que embora reunidas, se consideram independentes das demais. So considerados em sua individualidade. Ex.: um cavalo, uma casa, etc
-
COLETIVOS: so as coisas que se encerram agregadas em um todo. Ex. Biblioteca, massa falida, esplio, fundo de comrcio, etc. Nas coisas coletivas, em desaparecendo todos os indivduos, menos um fica extinta a coletividade.
PRINCIPAIS: so os que existem por si s, tm existncia prpria. Ex.: o solo, um crdito, uma jia, etc.
ACESSRIOS: so as coisas cuja existncia pressupe a de um bem principal. Ex.: uma rvore, um prdio, os juros, a clusula penal, os frutos, etc.
Regra: o bem acessrio segue o principal. Quem for proprietrio do principal, ser tambm do acessrio. So bens acessrios:
a) As benfeitorias melhoramentos executados em um bem qualquer;
necessrias: as que tm por fim conservar ou evitar que o bem se deteriore. Ex.: restaurao de telhado, de assoalhos, de alicerces.
teis: so as que aumentam ou melhoram o uso da coisa. Ex.: garagem
volupturias: so as de mero embelezamento. Ex.: uma pintura artstica, uma piscina, etc.
b) Os frutos, que podem ser:
naturais: da natureza. Ex: fruto de uma rvore, nascimento de um animal;
industriais: interveno direta do homem, produto manufaturado;
civis: rendimentos produzidos pela coisa principal. Ex.: juros, aluguel.
c) Os produtos: so utilidades que se extraem da coisa. Ex.: pedras de uma pedreira, minerais de uma jazida, etc.
PBLICOS: so os que pertencem a uma entidade de direito pblico. Exs.: bens pertencentes Unio, ao Estado, aos Municpios;
de uso comum do povo: os rios, os mares, ruas, praas, estradas, etc.
de uso especial: so os bens pblicos (edifcios, terrenos) destinados ao servio pblico. Exs: prdio da Secretaria da Fazenda.
DOMINICAIS: so os que constituem o patrimnio da Unio, Estado e Municpios, sem uma destinao especial. Ex: terras devolutas, terrenos da marinha, etc.
Observaes: os bens pblicos so inalienveis, com exceo dos dominicais (necessitam de autorizao legislativa); todos os bens pblicos so impenhorveis e no podem ser hipotecados; nem podem ser objeto de usucapio; o uso dos bens pblicos de uso comum do povo pode ser gratuito ou oneroso.
-
PARTICULARES: so os bens que pertencem s pessoas fsicas ou pessoas jurdicas de direito privado. Exs.: um imvel particular, um automvel, etc.
Res Nullius: so as coisas de ningum, so as coisas sem dono. Ex: prolas no fundo do mar, coisas abandonadas, animais selvagens, peixes do mar, etc.
Bens legalmente inalienveis: o bem de famlia; os bens gravados com clusula de inalienabilidade; os bens das fundaes; os bens pblicos de uso comum e uso especial.
BOA F X M F NA POSSE DE BENS Possuidor de Boa F: a pessoa que no tem conscincia da posse de um bem do qual no legtimo proprietrio. As benfeitorias indenizveis so as necessrias e as teis.
Possuidor de M F: a pessoa que tem conscincia da posse de um bem do qual no legtimo proprietrio. As benfeitorias indenizveis so somente as necessrias. Em nenhuma hiptese as benfeitorias volupturias sero objeto de indenizao.
BEM DE FAMLIA um instituto do direito civil pelo qual o chefe da famlia vincula o destino de um prdio para seu domiclio ou residncia de sua famlia;
Observaes:
Um bem de famlia dura enquanto viverem os cnjuges e existirem filhos menores no emancipados. Bem de famlia no entra em inventrio, nem ser partilhado enquanto continuar a residir nele, o cnjuge sobrevivente ou filhos menores; Fica isento de execues por dvidas, exceto as tributrias; inalienvel e impenhorvel; pode ser hipotecado;
IMPENHORABILIDADE
Bem de Famlia legal o institudo pela Lei 8.009/90, que estabeleceu a impenhorabilidade geral de todas as moradias familiares prprias, uma para cada famlia, independentemente de qualquer ato ou providncia dos interessados;
EXCEES
Bem de famlia pode ser objeto de penhora quando existirem: dbitos fiscais provenientes do prprio imvel (itr, iptu), ou dbitos trabalhistas relacionados com empregados domsticos.
Quando a pessoa for proprietria de mais de um imvel, o bem de famlia ser o bem de menor valor, salvo se estiver expresso na escritura pblica que o bem de maior valor ser o bem de famlia.
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRA-CONTRATUAL
Contratual: quando o agente descumpre o contrato ou fica inadimplente.
Extra-Contratual: quando o agente pratica ato ilcito, violando deveres e lesando direitos.
Responsabilidade Contratual: quando uma pessoa causa prejuzo a outrem por descumprir uma obrigao contratual, um dever contratual. O inadimplemento contratual acarreta a responsabilidade de indenizar as perdas e danos.
Responsabilidade Extracontratual: quando a responsabilidade no deriva de contrato, mas de infrao ao dever de conduta, um dever legal, imposto genericamente no art. 159 do CC. Tambm chamada de aquiliana.
Diferenas:
a) na responsabilidade contratual, o inadimplemento presume-se culposo, o credor lesado encontra-se em posio mais favorvel, pois s est obrigado a demonstrar que a prestao foi descumprida sendo presumida a culpa do inadimplente. Na extracontratual, ao lesado incumbe o nus de provar a culpa ou dolo do causador do dano;
b) a contratual tem origem na conveno, enquanto a extracontratual a tem na inobservncia de dever genrico de no lesar outrem (neminem laedere);
c) a capacidade sofre limitaes no terreno da responsabilidade contratual, sendo mais ampla no campo extracontratual.
Pressupostos da responsabilidade extracontratual:
a) ao ou omisso: a responsabilidade por derivar de ato prprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente e, ainda, de danos causados por coisas e animais que lhe pertenam.
Para que se configure a responsabilidade por omisso necessrio que exista o dever jurdico de praticar determinado dano (de no se omitir) e que demonstre que, com a sua prtica, o dano poderia ter sido evitado.
O dever jurdico de no se omitir pode ser imposto por lei ou resultar de conveno (dever de guarda, de vigilncia, de custdia) e at da criao de alguma situao especial de risco.
b) culpa ou dolo do agente: para que a vtima obtenha a reparao do dano, exige o referido dispositivo legal que prove dolo ( a violao deliberada, intencional, do dever jurdico) ou culpa stricto sensu (aquiliana) do agente (imprudncia, negligncia ou impercia).
-
c) relao de causalidade: a relao de causalidade (nexo causal ou etiolgico) entre a ao ou omisso do agente e o dano verificado. Se houver o dano mas sua causa no est relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relao de causalidade e, tambm, a obrigao de indenizar.
As excludentes da responsabilidade civil, como a culpa da vtima e o caso fortuito e a fora maior, rompem o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade do agente.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA
Teoria sobre a reparao do dano (no civil)
Subjetiva h obrigao de indenizar sempre que se prova a culpa do agente.
Teoria Aquiliana
Requisitos ao ou omisso (negligncia); dano ou prejuzo; Nexo de Causalidade; Dolo ou Culpa (necessria comprovao);
Dolo comete o Dolo quem pratica um ato ou assume o risco de praticar tal ato. realizado por vontade prpria e consciente de praticar um ato ilcito;
Conduta Dolosa - Ex.: uma pessoa inabilitada p/ prtica de medicina (estudante de medicina) realiza uma cirurgia sem Ter condies para tal.
Culpa ausncia do dever de cuidado objetivo, caracterizado pela imprudncia, negligncia ou impercia. o desvio padro do Homem Mdio. Ex.: O dito Homem Mdio procura, ao dirigir um automvel, no atropelar os pedestres e respeitar os sinais de trnsito.
Imprudncia - (conduta ativa) quando ele trafega em alta velocidade em uma via pblica;
Negligncia - (conduta passiva) quando ele no toma cuidados de manuteno com seu veculo;
Impercia - Falta de habilidade tcnica.
Objetiva h obrigao de indenizar, independentemente da prova de culpa do responsvel. Ex.: a responsabilidade da empresa pelos danos causados clientela, em atos praticados por empregado no exerccio da funo ou em razo do servio. Nesse caso, a empresa responsvel pelo dano, mas poder ter direito de regresso contra o empregado se este for culpado.
praticado contra a Administrao Pblica;
Requisitos - ao ou omisso; dano ou prejuzo; Nexo Causal;
-
Fundamento Jurdico - As pessoas jurdicas de direito pblico e as de direito privado prestadoras de servios pblicos RESPONDERO pelos danos que seus AGENTES (funcionrios), em trabalho, causarem a terceiros , assegurado o DIREITO DE REGRESSO contra o responsvel nos casos de dolo ou culpa. O pagamento, quando for o caso, realizado atravs de PRECATRIO.
Teoria do Risco Administrativo quando presente os 3 requisitos (imprudncia, negligncia ou impercia), o Estado tem que indenizar a vtima; contudo pode demonstrar caso fortuito (ou fora maior) ou culpa exclusiva da vtima.
Teoria do Risco Integral quando presente os 3 requisitos (imprudncia, negligncia ou impercia), a vtima deve ser indenizada pelo causador . Nesse caso, o risco o fator preponderante da existncia do lucro. Ex.: as atividades seguradoras.
Ato ilcito o praticado com infrao ao dever legal de no lesar a outrem. Tal dever imposto a todos no art. 159 do CC, que prescreve: Aquele que, por ao ou omisso voluntria, negligncia ou imprudncia, violar direito, ou causar prejuzo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Portanto, ato ilcito fonte de obrigao, a de indenizar ou ressarcir o prejuzo causado.
OBRIGAO DE INDENIZAR
Responsabilidade Civil: a obrigao de indenizar o dano causado a outrem, tanto por dolo como por culpa, sendo que a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, pois mesmo que o ato ilcito no seja um crime, no deixar de existir a obrigao de indenizar as perdas e os danos.
o interesse diretamente lesado o privado. O prejudicado poder pleitear ou no de reparao. Esta responsabilidade patrimonial, o patrimnio do devedor que responde por suas obrigaes.
Ningum pode ser preso por dvida civil, exceto o depositrio infiel e o devedor de penso alimentcia oriunda do direito de famlia.
No cvel, h vrias hipteses de responsabilidade por ato de terceiros (diferente de penal). A culpabilidade bem mais ampla na rea cvel, a culpa, ainda que levssima, obriga a indenizar. A imputabilidade tambm tratada de maneira diferente, os menores entre 16 e 21 anos so equiparados aos maiores quanto s obrigaes resultantes de atos ilcitos em que forem culpados.
A responsabilidade civil pode ser contratual ou Extra-Contratual.
DO DANO E SUA REPARAO
-
dano: sem a prova do dano, ningum pode ser responsabilizado civilmente. A inexistncia de dano torna sem objeto a pretenso sua reparao.
s vezes a lei presume o dano, como acontece na Lei de Imprensa, que presume haver dano moral em casos de calnia, injria e difamao praticados pela imprensa. Acontece o mesmo em ofensas aos direitos da personalidade.
Pode ser lembrado, como exceo ao princpio de que nenhuma indenizao ser devida se no tiver ocorrido prejuzo, a regra que obriga a pagar em dobro ao devedor quem demanda divida j paga, como uma espcie de pena privada pelo comportamento ilcito do credor, mesmo sem prova de prejuzo.
O dano pode ser:
I) patrimonial, material os prejuzos econmicos sofridos pelo ofendido. A indenizao deve abranger no s o prejuzo imediato (danos emergentes), mas tambm o que o prejudicado deixou de ganhar (lucros cessantes)
II) extrapatrimonial, moral o oposto de dano econmico, dano pessoal. A expresso tem duplo significado: (veja que a expresso no adequada mas, assim consagrada)
-
PESSOA JURDICA
CONCEITO Grupos humanos dotados de personalidade, para a realizao de fim comum (Orlando Gomes)
REQUISITOS Vontade convergente Licitude dos fins Legalidade
CLASSIFICAO 1. De Direito Pblico
1.1 Externo (regulamentadas pelo Direito Internacional) Ex: ONU, OEA, UNESCO, etc
1.2 Interno a) Da administrao direta (Unio, Estados, DF e Municpios) b) Da administrao indireta (autarquias e fundaes pblicas) So criadas por meio de lei
2. De Direito Privado 2.1 De natureza civil
a) Fundaes Particulares (universalidade de bens personalizada pela ordem jurdica em considerao a um fim estipulado pelo fundador) So criadas por meio de lei
b) Associaes (reunio de pessoas com objetivo comum sem inteno de lucro) So criadas por meio de registro no cartrio de registro de pessoa jurdica
c) Sociedades Civis (constitudas para o exerccio de certas profisses no-comerciais) So criadas por meio de registro no cartrio de registro junto ao Conselho de Classe
d) Cooperativas (sociedades de pessoas de natureza civil e sem objetivo de lucro voltadas para a prestao de servios) So criadas por meio de registro no cartrio de registro de pessoa jurdica
2.2 De natureza Comercial Sociedades comerciais (empresas reguladas pelo Direito Comercial)
a) Sociedades Limitadas a sociedade formada por duas ou mais pessoas assumindo todas, de forma subsidiria, responsabilidade solidria pelo total do capital social (Fran Martins) Tem que trazer o nome de um ou mais scios (firma) ou uma denominao (nome estranho aos nomes dos scios). Os demais scios podem ser resumidos pela palavra companhia ou Cia. Em ambos os casos o nome deve ser acrescido da palavra limitada (por extenso ou abreviada) ou da expresso sociedade de responsabilidade limitada Isso constitui a razo social. Alm disso, h o nome fantasia, ou nome social, que a forma pela qual a firma conhecida.
-
So criadas por meio de registro na Junta Comercial
b) Sociedades Annimas a sociedade baseada na diviso do capital social em partes de igual valor nominal, denominadas aes. A responsabilidade dos scios limitada ao preo de emisso das aes adquiridas. H a possibilidade de transmisso das aes (venda, doao, etc) A denominao sempre acrescida de S.A. ou precedida por CIA. Estrutura constituda de rgos: assemblia geral (rgo legislativo), diretoria (rgo executivo) e conselho fiscal (rgo judicirio) Podem sofrer incorporao, transformao, ciso e fuso. So criadas por meio de lei
c) Sociedades de Economia Mista (sociedade annima com prevalncia do capital pblico) So criadas por meio de lei
d) Empresas Pblicas (empresas mantidas com capital exclusivamente do Poder Pblico). So criadas por meio de lei
-
CONTRATOS
CONCEITO Acordo de vontades Conveno estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relao jurdica patrimonial Maximilianus C. Amrico Fhrer
TIPOS DE CONTRATOS Contratos de Direito Privado (civis e comerciais ou empresariais) Contratos de Direito Pblico (feitos com a Administrao Pblica) Contratos de Direito do Trabalho (relaes trabalhistas)
REQUISITOS DE VALIDADE (art.104 NCC) - Agente capaz maiores de 18 anos - Objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel ( o objeto a obrigao) - Forma prescrita ou no defesa em lei ( a regra a informalidade)
PRINCPIOS CONTRATUAIS Princpio da Autonomia da vontade (liberdade de contratar) Princpio da Obrigatoriedade Contratual (pacta sunt servanda) Princpio do Consensualismo (parte do consenso, sem formalidades) Novos Princpios: Autonomia Privada. Boa F e Justia Contratual
FORMAO DOS CONTRATOS - Negociaes preliminares ( conversas prvias, sem vinculao das partes) - Proposta (vincula o proponente/policitante perante o aceitante/oblato) - Aceitao (concretiza o contrato pode ser expressa ou tcita/presumida) Interpretao dos contratos A inteno das partes mais importante do que o sentido literal da linguagem (art.112 NCC)
CLASSIFICAO DOS CONTRATOS - Tpicos e atpicos (quanto previso legal) - Consensuais e formais (quanto forma) - Onerosos e gratuitos (quanto aos nus das partes) - Bilaterais e unilaterais (quanto reciprocidade das obrigaes geradas) - De execuo imediata ou futura (diferida -de uma s vez- ou sucessiva) (quanto ao tempo de
cumprimento da obrigao) - Pr-estimados ou aleatrios (risco:depende de acontecimento futuro) (quanto previsibilidade
das prestaes)
EXTINO DOS CONTRATOS - Distrato ou Resilio (quando ambas as partes resolvem extinguir o contrato) - Resoluo (sem culpa das partes no h responsabilizao contratual). Pode ser for caso fortuito (ligado pessoa, como greve, morte) ou fora maior (fatores externos como fenmenos naturais e polticos) (art.393 do NCC) - Resciso (quando uma das partes descumpre suas obrigaes)
-
Pode ser tcita (art.476 do NCC, depende de notificao) ou expressa (consta do contrato e independe de notificao) A parte culpada deve ressarcir a outra, devolvendo-lhe a posio inicial. Se a mesma se recusar, ser cabvel ao de perdas e danos. - Caducidade (pelo decurso do prazo pr-fixado de durao)
CLUSULA PENAL Estipulao contratual dos nus no caso de inadimplemento da obrigao. recproca e no pode ultrapassar o valor do prprio contrato. - Compensatria pr-fixao das perdas e danos (no multa) - Coercitiva (ou moratria) carter punitivo (multa). Pode ser cumulada com perdas e danos
PREO/REMUNERAO O contrato deve estipular: valor do contrato, forma, meio e local do pagamento, data do vencimento, multa (2% nas relaes de consumo 10 a 20% nas demais), juros (ndice utilizado pela Fazenda Nacional taxa selic) e correo monetria (ndice oficial combinado) por atraso do pagamento, responsabilidade sobre os impostos (normalmente do contratado).
VIGNCIA O contrato pode ser determinado (prazo final) ou indeterminado (permanente). Neste ltimo caso pode conter clusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.
FORO Local onde deve ser exercidos os direitos relativos ao contrato. Em geral o do domiclio do ru (obrigaes) mas o NCC d liberdade de escolha do foro nos contratos escritos (art.78 NCC)
REGISTRO DOS CONTRATOS D publicidade (gerando efeitos contra terceiros) e conserva os contratos.
VCIOS REDIBITRIOS Defeito oculto que contm a coisa objeto do contrato, que a torna imprpria para o uso ou lhe diminui o valor (o defeito deve ser desconhecido ao adquirente no momento da aquisio) Se comprovada a ocorrncia, o alienante responde (mesmo que no soubesse) defazendo o negcio (ao redibitria) ou solicitando abatimento no preo (ao estimatria)
CONTRATOS PRESTAO DE SERVIOS (arts. 593 a 609 CC)
CONCEITO Contrato que, mediante remunerao, rege toda prestao de servio ou trabalho lcito, desde que o mesmo no esteja sujeito s leis trabalhistas ou legislao especial (arts. 593, 594 CC)
DIFERENA PARA O CONTRATO DE TRABALHO Atividade-fim (trabalho) x Atividade-meio (prestao de servio)
-
Contrato de trabalhos (art. 3 CLT): - empregado pessoa fsica - o servio de natureza no eventual - a relao de dependncia e subordinao - mediante pagamento de salrio
Contrato de Prestao de Servio: - empregado pessoa fsica ou jurdica - o servio de natureza eventual - a relao de independncia e capacidade tcnica - mediante retribuio/ remunerao
DIFERENA PARA O CONTRATO DE EMPREITADA (arts.610 a 626 CC)
No contrato de prestao de servio o objeto a prpria prestao e por isso ele intuitu personae (esforo fsico ou intelectual determinado independe do resultado alcanado) No contrato de empreitada, o objeto a obra em si e no a sua execuo (independe do tempo de execuo, mas depende do resultado alcanado)
NATUREZA JURDICA Bilateral, oneroso, consensual, comutativo (equivalncia nas prestaes), no-solene e em geral intuitu personae (personalssimo art.605)
REGRAS GERAIS
Pagamento aps o servio prestado (art.597) Prazo mximo de durao: 4 anos (art.598)
EXTINO DO CONTRATO (art.607) Fim do prazo estipulado Concluso do servio Fora maior Inadimplemento de qualquer das partes Morte de qualquer das partes
RESCISO MEDIANTE AVISO PRVIO (art.599) (s possvel para contratos indeterminados) Remunerao mensal aviso prvio de 8 dias Remunerao quinzenal ou semanal aviso prvio de 4 dias Contrato por menos de 7 dias aviso prvio de vspera
CONTRATO DETERMINADO No pode ser rescindido sem justa causa (art.602) Se houver resciso sem justa causa: Pelo contratante: o mesmo tem que pagar ao contratado a retribuio vencida mais a metade da vincenda Pelo contratado: o mesmo tem direito retribuio vencida, mas responder por perdas e danos (tambm vale pela resciso por justa causa)
-
ELABORAO DO CONTRATO
1 DENOMINAO E QUALIFICAO DAS PARTES Nome, nacionalidade, estado civil, profisso, RG, CPF, domiclio e residncia das partes Pessoa Jurdica: correta denominao social e CNPJ, nome dos scios-gerentes (se for LTDA) ou diretores (se for S/A). Autnomo: nmero de inscrio como autnomo junto Prefeitura
2 CLUSULA DO OBJETO DO CONTRATO Estabelece de forma sinttica o que o contratado se obriga a fazer. Deve ser lcito, possvel, determinado (ou determinvel)
3 CLUSULAS DAS OBRIGAES DAS PARTES o momento de detalhar o objeto. Podem ser quantas forem necessrias. Quanto ao contratante: em geral suas obrigaes so a remunerao e o oferecimento das condies necessrias prestao do servio Quanto ao contratado: suas obrigaes devem ser especificadas ao mximo Ateno: deve-se determinar quem ceder material e estrutura de trabalho e de quem ser a responsabilidade no caso de danos a terceiros
4 CLUSULA DO PREO E SEU AJUSTE O preo deve ser determinado. Deve-se ajustar o dia do pagamento e se h ou no a necessidade de apresentao prvia da nota fiscal ou recibo de pagamento a autnomo por parte do contratado. O reajuste a fixao de novo valor para o contrato. Trata-se da correo monetria. Regra: s ser devida nos contratos iguais ou superiores a 12 meses (ou indeterminados) e dever se dar por ndices gerais de preo (IGP, IPC, etc)
5 CLUSULA DAS OBRIGAES PREVIDENCIRIAS Lei 9711/98 O contratante obrigado a recolher 11% do valor bruto da nota fiscal /fatura de servios e recolher ao INSS a importncia retida, em nome da contratada, at o dia 02 do ms seguinte ao da emisso da nota. Se a nota for emitida pelo contratado, dever ser destacado o valor a ser retido pelo contratante.
6 CLUSULA DO PRAZO DE VIGNCIA Se no constar o prazo, ser considerado indeterminado. Em geral, estipula-se a possibilidade de resciso por qualquer das partes desde que avisado com 30 dias de antecedncia. Se no houver previso expressa do prazo de aviso, aplica-se a regra do aviso prvio do Cdigo Civil
7 CLUSULA DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS Em geral incide o ISS (municipal- Imposto sobre servio de qualquer natureza) e s vezes o ICMS (estadual - imposto sobre a circulao de mercadorias e servios) Quem o responsvel pelo pagamento perante a lei o contratado, mas nada impede que seja pactuado o repasse da obrigao ao contratante
8 CLUSULA PENAL nus estipulado entre as partes para o caso de descumprimento da obrigao - Clusula penal moratria (ou coercitiva): em caso de atraso no pagamento. Em obrigaes civis no pode ultrapassar 10% do valor da prestao (Dec.22.626/33). Nas relaes de consumo limitada a 2%. Pode ser cumulada com perdas e danos no caso de inadimplemento.
-
- Clusula penal compensatria: em caso de inadimplemento. Equivale compensao de perdas e danos e no pode ser cumulada com esta. - Ateno: importante que se estabelea qual o tipo de clusula penal utilizado. Se o valor for elevado, pode-se entender que se trata da compensatria. A mais recomendada a moratria.
9 CLUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA Estabelece a resoluo do contrato em caso de inadimplemento. Tem a vantagem de permitir a resoluo de pleno direito, sem a necessidade de prvia declarao judicial do inadimplemento Se no for utilizada, a resoluo ser tcita e depender de interpelao judicial
10 CLUSULA DE PROIBIO DE CESSO Probe o contratado de ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigaes decorrentes do contrato a eventuais subcontratados
11 CLUSULA IMPEDITIVA DE EXISTNCIA DA NOVAO A novao a substituio da obrigao anterior por outra, o que pode acarretar implicaes em outras clusulas. Ex: mudana no objeto do contrato, o que pode provocar mudanas na forma de pagamento ou na clusula penal. Deve ser evitada, pois deveria dar origem a novo contrato. Pode-se propor a seguinte redao a esta clusula: A tolerncia das partes no implica em renncia, perdo, novao ou alterao do pactuado
12 CLUSULA DO FORO As partes elegem. Deve atender a ambas. Em geral corresponde ao local de prestao do servio
13 OUTRAS CLUSULAS livre a estipulao de outras clusulas que se faam necessrias segurana das partes. Ex: respeito aos direitos autorais ou propriedade industrial
14 ASSINATURA DAS PARTES E TESTEMUNHAS O contrato ser encerrado com local, data e assinatura das partes e de duas testemunhas. O reconhecimento de firma do contratado e das testemunhas recomendvel ( mas no obrigatrio) nos contratos de valor expressivo.
-
TRIBUTOS SOBRE A PRESTAO DE SERVIOS
BASE LEGAL PARA ARRECADAO
Art. 145 da CF - A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios podero instituir os seguintes tributos: Impostos; Taxas, em razo do exerccio do poder de polcia ou pela utilizao, efetiva ou potencial, de servios pblicos especficos e divisveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposio; Contribuio de melhoria, decorrente de obras pblicas;
CONCEITO DE TRIBUTOS
Cdigo Tributrio Nacional, art. 3: "Tributo toda prestao pecuniria compulsria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que no constitua sano de ato ilcito, instituda em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".
ESPCIES DE TRIBUTOS
1 IMPOSTO
assim chamado o tributo que o Estado percebe para atender de modo global s suas necessidades gerais. Tecnicamente, segundo est no art. 16 do Cdigo Tributrio Nacional:
Art 16 do CTN: "Imposto o tributo cuja obrigao tem por fato gerador uma situao independente de qualquer atividade estatal especfica, relativa ao contribuinte".
Capacidade econmica: capacidade de contribuir para o todo, por meio dos impostos que paga, levando-se em conta no s a riqueza, mas tambm condies pessoais (situao familiar, dependente, etc.).
Base de clculo: Pode-se dizer que base de clculo o elemento sobre o qual se aplica a alquota tributria, a fim de definir o quantum pecunirio da obrigao.
Alquota: percentual estipulado para o tributo, a ser cobrado do contribuinte.
2 TAXAS
uma contraprestao em razo do exerccio do poder de polcia ou pela utilizao, efetiva ou potencial, de servios pblicos especficos e divisveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposio;
(Destinam-se a cobrir, ao menos parcialmente, o custo de um servio prestado ou posto disposio do particular. Desse modo, a taxa tem sempre uma contrapartida direta, ao contrrio do imposto)
III CONTRIBUIO SOCIAL
Esta modalidade de tributo se caracteriza por configurar uma verdadeira indenizao, ainda que parcial, de obra pblica de que resulte benefcio individualizvel, especificamente valorizao de bem particular.
-
IMPOSTOS QUE RECAEM SOBRE PRESTAO DE SERVIO
IR IMPOSTO DE RENDA
- Recai anualmente sobre pessoas fsicas e jurdicas
- Como regra geral, integram a base de clculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominao que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espcie ou da existncia de ttulo ou contrato escrito.
- Alquota: 15% + adicional de 10% sobre as parcelas que excederem a 20 mil reais mensais ou 240 mil reais anuais
- Base de clculo: lucro presumido (para rendimentos at o limite de 24 milhes de reais anuais) ou real (rendimentos acima disto neste caso pode-se deduzir os prejuzos contbeis)
CSSL - CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO
- instituda pela Lei n 7.689/1988.
- aplicam-se CSLL as mesmas normas de apurao e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurdicas, mantidas a base de clculo e as alquotas previstas na legislao em vigor (Lei n 8.981, de 1995, art. 57).
- a base de clculo corresponder a 12% (doze por cento) da receita bruta da venda de bens e servios.
- a partir de 01.09.2003, por fora do art. 22 da Lei 10.684/2003, a base de clculo da CSLL, devida pelas pessoas jurdicas optantes pelo lucro presumido corresponder a 32% para prestao de servios em geral, exceto a de servios hospitalares e transporte;
- a alquota de 9%
PIS - PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL
- criado pela Lei Complementar 07/1970.
- so contribuintes do PIS as pessoas jurdicas de direito privado e as que lhe so equiparadas pela legislao do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de servios, empresas pblicas e sociedades de economia mista e suas subsidirias
- excludas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 9.317/96).
- a alquota de 0,65% sobre o faturamento e 1% sobre a folha de pagamento
- as empresas prestadoras de servio recolhem PIS mensalmente
-
COFINS CONTRIBUIO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- instituda pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991. atualmente, regida pela Lei 9.718/98, com as alteraes subsequentes.
- so contribuintes da COFINS as pessoas jurdicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislao do Imposto de Renda
- excludas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 9.317/96).
- a alquota geral de 3% Entretanto, para determinadas operaes, a alquota diferenciada
- recolhida mensalmente
INSS CONTRIBUIO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
- devida pelos empregados, inclusive os domsticos, empresrios, autnomos, segurados, que exeram atividades remuneradas
- cooperativas, sem folhas de salrios, pagam contribuio sobre o faturamento dos servios prestados
- para as empresas, a contribuio recai sobre a folha de salrios e varia de 15% a 20%
- para os empregados, o recolhimento da contribuio ao INSS feita sobre uma alquota que varia de 8% a 11%, dependendo do salrio e respeitando o teto do salrio contribuio
- para os contribuintes individuais, a participao de 20% sobre o salrio-base (incide no caso de pagamento por RPA)
- o salrio contribuio (ou salrio-base) varia de 800 a 2600 reais
- as cooperativas e empresas prestadoras de servio tm o INSS de 11% retido na fatura pelo prestador de servio (no caso de pagamento por nota fiscal)
ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS
- Imposto sobre operaes relativas circulao de mercadorias e sobre prestaes de servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao
- de competncia dos Estados e do Distrito Federal.
- Sua regulamentao constitucional est prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada Lei Kandir), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000.
-
- Incide sobre operaes relativas circulao de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentao e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares e prestao de servios no compreendidos na competncia tributria dos municpios;
- O contribuinte qualquer pessoa, fsica ou jurdica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operaes de circulao de mercadoria ou prestaes de servios no tributados pelos municpios
- Alquota: 18% (em Minas Gerais, pois varia de estado para estado), em mdia, pois depende do produto
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA
- tem como fato gerador a prestao de servios constantes da lista anexa Lei Complementar 116/2003, ainda que esses no se constituam como atividade preponderante do prestador.
- desde 01.08.2003, o ISS regido pela Lei Complementar 116/2003.
- o contribuinte o prestador do servio.
- o servio considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domiclio do prestador
- a alquota mnima do ISS de 2% e a mxima em 5%. O prestador de servios que recolhe quando da emisso da nota fiscal
- o ISS no incide sobre as exportaes de servios para o exterior do Pas.
- so tributveis os servios desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.
- para simplificar a arrecadao, o contribuinte pode se inscrever como autnomo e pagar trimestralmente o valor de 100 reais para exerccio de servios de nvel superior e 50 reais para demais atividades
- O prestador pode recolher o ISS por sistema de recibo de pagamento de autnomo (RPA) e, neste caso, o tomador de servios quem recolhe o imposto
- nas sociedades profissionais, o ISS recolhido tendo em vista o nmero de profissionais habilitados, na proporo de 35 reais para cada um.
SIMPLES FEDERAL Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- o SIMPLES uma forma simplificada e englobada de recolhimento de tributos e contribuies, tendo como base de apurao a receita bruta.
- a partir de 1997, com a Lei 9.317/96, foi introduzido um tratamento diferenciado, simplificado e
-
- a partir da edio da IN SRF 34/2001, a empresa formalizar sua opo para adeso ao Simples, mediante alterao cadastral efetivada at o ltimo dia til do ms de janeiro do ano-calendrio (art. 16, pargrafo 1 da IN SRF 34/2001).
- caso a opo seja manifestada aps janeiro (ou fevereiro, para os optantes at 28.02.2001), esta somente produzir efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendrio seguinte.
NOVO SIMPLES NACIONAL OU "SUPER SIMPLES" - A PARTIR DE 01.07.2007
A Lei Complementar n 123/2006, instituiu, a partir de 01.07.2007, novo tratamento tributrio simplificado, tambm conhecido como Simples Nacional ou Super Simples.
O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributrio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, mediante regime nico de arrecadao, inclusive obrigaes acessrias.
Tal regime substituiu, a partir de 01.07.2007, o Simples Federal (Lei 9.317/1996), que foi revogado a partir daquela data.
DEFINIO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresria, a sociedade simples e o empresrio a que se refere o art. 966 do Cdigo Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurdicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso das microempresas, o empresrio, a pessoa jurdica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendrio, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00;
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresrio, a pessoa jurdica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendrio, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.
VEDAES
Determinadas atividades ou formas societrias esto vedadas de adotar o Super Simples - dentre essas vedaes, destacam-se:
1) pessoas jurdicas constitudas como cooperativas (exceto as de consumo);
2) empresas cujo capital participe outra pessoa jurdica;
3) pessoas jurdicas cujo scio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurdica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite R$ 2.400.000,00.
Ficaram fora da vedao ao regime, as empresas de servios contbeis, que podero ser optantes pelo Simples Nacional.
-
RECOLHIMENTO NICO
O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento nico de arrecadao, do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS.
Entretanto, em alguns desses tributos h excees, pois o recolhimento ser realizado de forma distinta, conforme a atividade.
INSCRIO
Sero consideradas inscritas no Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo Simples Federal (Lei 9.317/1996), salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedao imposta pelo novo regime do Simples Nacional.
PARCELAMENTO DE DBITOS
Ser concedido, para ingresso no regime diferenciado e favorecido do Simples Nacional, parcelamento, em at 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, dos dbitos relativos aos tributos e contribuies previstos no Simples Nacional, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou scio, relativos a fatos geradores ocorridos at 31 de janeiro de 2006.