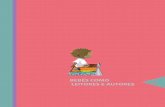ONDE FORAM PARAR AS PAUSAS SOBRE LEITURA E … · os usos previstos na caracterização de cada um...
Transcript of ONDE FORAM PARAR AS PAUSAS SOBRE LEITURA E … · os usos previstos na caracterização de cada um...

Publicado em:
Mollica, Maria Cecília (org.). 2016. #Linguisticadeprotestos: novos caminhos de pesquisa. Rio de
Janeiro: 7Letras. p. 9-33.
ONDE FORAM PARAR AS PAUSAS?
SOBRE LEITURA E PONTUAÇÃO
MARIA CARLOTA ROSA1
Resumo
Este artigo discute a caracterização da pontuação como um sistema de transcrição de pausas e melodia.
Essa caracterização ecoa uma tradição estabelecida para um mundo em que a leitura se fazia
preferencialmente em voz alta. Chama a atenção, porém, que ainda se encontre no material atual a
insistência em tratar a pontuação como transcrição de pausas e melodias, tal como em descrições mais
antigas.
Palavras-chaves: pontuação - português - sistemas de escrita
1. INTRODUÇÃO
Numa das gramáticas escolares de maior divulgação no Brasil, Celso Cunha
(1972: 591) classificava os sinais de pontuação empregados em português em dois grupos:
aqueles que marcam fundamentalmente as pausas e os que assinalam a melodia. No
primeiro grupo o autor reuniu a vírgula, o ponto e o ponto e vírgula; no segundo grupo,
os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas,
os parênteses, os colchetes e o travessão. Pouco adiante observava, porém, que a
distinção, se didaticamente cômoda, não era rigorosa porque “os sinais de pontuação
indicam, ao mesmo tempo, a pausa e a melodia” (Cunha, 1972: 591).
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Dept. de Linguística e Filologia - Programa de
PósGraduação em Linguística. E-mail: [email protected] . Agradecimentos à Prof. Maria Cecília Mollica
(UFRJ) pelas sugestões e ao Prof. Henrique Cairus (UFRJ) a ajuda com textos latinos.

A obra de Cunha foi aqui tomada como exemplo na medida em que não se distancia
de outras obras que ensinam o emprego da pontuação em português atual nem no tocante
ao elenco de sinais, nem às condições de seu emprego. Contudo a dificuldade em aplicar
os usos previstos na caracterização de cada um desses sinais, quer na leitura, mas
especialmente na escrita, permite perceber um aspecto da pontuação a que em geral não
se dá atenção (como, aliás, não se dá muita atenção à pontuação): a afluência, na descrição
sobre a pontuação em vigor no português, de tradições gráficas que se desenvolveram ao
longo das mudanças na função da leitura e das mudanças que afetaram o suporte da escrita
e a circulação do texto. A pontuação, tal como agora o português culto a conhece, é
descrita com a prioridade voltada para a relação sinal gráfico-som, sendo tratada como um
sistema de transcrição de pausas e melodia para uso do leitor, mas não de qualquer leitor:
daquele que lê em voz alta. Essa descrição, ao ser aplicada à relação som-sinal gráfico por
um escritor fluente tem de ser abandonada em favor da análise sintática, ou ainda da
organização visual do texto.
Se no passado leitura e escrita foram atividades cujo ensino não era simultâneo,
nem mesmo apresentado em sequência para todos os estudantes 2 , agora um mesmo
indivíduo é escritor e leitor, e as instruções acerca da pontuação fundamentadas em bases
distintas acarretam uma incômoda ambiguidade: levam o escritor-leitor, em especial se
iniciante, a erros, como, por exemplo, a separar o verbo de seus argumentos em razão de
indicar uma pausa que não pode assinalar na escrita.
Este artigo defende que a caracterização da pontuação do português atual nos
manuais tem seus fundamentos numa longa tradição, refletindo parcialmente uma cultura
que atribuiu à escrita bem menos importância do que se faz no mundo atual. Sendo assim,
inicialmente se enfatiza que a leitura silenciosa nem sempre se constituiu no modo mais
comum de leitura. Em seguida procura-se relacionar a leitura oral a características dos
2 Em 1872, o formulário “lista de família” do primeiro censo demográfico brasileiro ainda subdividia a
coluna “Instrucção” em “Sabe ler? (Responde-se sim ou não)” e “Sabe escrever? (Responde-se sim ou não)”
(ver Rosa, 2015: 44-45).

sistemas de escrita que marcaram a tradição greco-latina. As transformações na leitura e
o próprio conceito de pontuação constituem a parte final do artigo.
2. SOBRE LEITURA
Quando se fala em leitura na atualidade, vem à mente a leitura silenciosa, privada,
que permite a consulta rápida de um sem número de materiais disponíveis, que vão de
escritos em papel a textos de diferentes gêneros exibidos em materiais eletrônicos como
tablets e smartphones . Nem sempre foi assim, e quando nos voltamos para a Antiguidade
Clássica começamos a perceber culturas que, embora de posse da escrita, estavam muito
distantes das práticas dos grandes centros urbanos de agora.
Para demonstrar como a leitura foi concebida nos períodos Arcaico e Clássico
gregos, Svenbro (1995) focaliza os verbos para ‘ler’ ─ mais de uma dúzia de formas.
Desse levantamento, Svenbro conclui que:
En el examen a que hemos sometido a los verbos que significan "leer"
podemos anotar por lo menos tres rasgos característicos de la lectura en
la Grecia antigua, rasgos cuya importancia cabe destacar. El primero es
el carácter instrumental del lector o la voz lectora, observado en el
análisis de némein y sus formas compuestas. El segundo es el carácter
incompleto de la escritura, a la que se supone la necesidad de una
sonorización, hecho atestiguado por el verbo epilégeszai. El tercer
fenómeno es consecuencia lógica de los dos primeros. Porque si la voz
del lector es el instrumento gracias al cual la escritura se realiza en su
plenitud, eso quiere decir que los destinatarios de lo escrito no son
lectores en el sentido estricto del término, sino "oyentes", como los
mismos griegos los llamaban. Los "oyentes" del texto, los akoúontes o
los akroataíno no eran sus lectores, como afirman nuestros diccionarios.
No leían absolutamente nada si descartamos el lector "que se incluye en
la lectura" y que escucha su propia voz. No hacían más que escuchar
una lectura
(Svenbro, 1995: 80)

Em geral a discussão sobre como lia esse homem da Antiguidade toma como ponto
de partida um pequeno trecho das Confissões de Santo Agostinho (354-430), apontado
como evidência de que a leitura silenciosa não era praticada na Antiguidade. Para Santo
Agostinho, Santo Ambrósio (c. 340-397) teria sido motivo de espanto porque lia em
silêncio 3 e seria “a primeira figura na Antiguidade Ocidental descrita lendo
silenciosamente” (Gilliard, 1993: 689 – trad. MCR). A reação de Santo Agostinho face a
alguém que sempre optasse pela leitura silenciosa continua a provocar discussão, em
especial porque uma outra passagem na mesma obra demonstra que também Santo
Agostinho podia ler silenciosamente4. Vários autores reuniram exemplos de indivíduos
lendo silenciosamente em época anterior ao século IV: por exemplo, Knox (1968), Gilliard
(1993), Svenbro (1995), Manguel (1996), seja para os usarem como evidência de que a
leitura em silêncio era comum na Antiguidade, ou, ao contrário, causa de maravilha e
espanto.
A Regra de São Bento, originariamente composta no século VI, estipulou muitos
momentos destinados à leitura dos membros da Ordem Beneditina, e em pelo menos um
versículo leva a crer que falava da leitura silenciosa: aqueles que quisessem ler após a
refeição que o fizessem de modo a não incomodar os que estivessem ao redor5. Parkes
(1995: 92) vê neste mesmo trecho uma evidência de que a partir do século VI se começou
3 “No bem pouco tempo que lhe [a Ambrósio – MCR] deixavam livre, dedicava-se a reparar as forças do
corpo com o necessário alimento, ou as do espírito, com a leitura. Quando lia, seus olhos percorriam as
páginas e seu espírito penetrava-lhes o sentido, mas sua voz e sua língua repousavam. Muitas vezes [....]
vi-o ler em silêncio, e nunca de outra maneira. [....] Lia em silêncio, talvez para evitar que algum ouvinte,
suspenso e atento à leitura, encontrando alguma passagem obscura, pedisse explicações, ou o obrigasse a
dissertar sobre questões difíceis. Gastaria o tempo em tais coisas, e impedido de ler todos os livros que
desejava, embora fosse mais provável que lesse em silêncio para poupar a voz, que facilmente lhe
enrouquecia” (Santo Agostinho, Confissões, VI, 3) 4 “Depressa voltei para o lugar onde Alípio [que seria Bispo de Tagaste, mais tarde também canonizado –
MCR] estava sentado, e onde eu deixara o livro do Apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o, e li em
silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos” (Santo Agostinho, Confissões, VIII, 12). 5 “post sextam autem surgentes a mensa pausent in lecta sua omni silentio, aut forte qui voluerit legere
sibi sic legat ut alium non inquietet. (‘Depois da sexta [i.e., a hora de sexta, hora canônica equivalente ao
meio-dia - MCR], levantando-se da mesa, repousem em seus leitos com todo o silêncio; se acaso alguém
quiser ler, leia para si, de modo que não incomode a outro’] Regra de São Bento, 48, v.5.

a dar mais atenção à leitura silenciosa, argumento que reforça com o testemunho de
Isidoro: a compreensão tiraria mais proveito da leitura silenciosa (lectio tacita) que da oral
(lectio aperta)5 .
Mary Carruthers (2008), numa obra voltada para a memória como parte essencial
do estudo na Idade Média, retoma as expressões que foram traduzidas do latim como ler
silenciosamente (legere tacite e legere sibi) e como ler em voz alta (clare legere, magna
voce legere ou viva voce legere) e defende que ambas as práticas eram conhecidas e
serviam a propósitos diferentes na prática escolar medieval: meditatio e lectio.
Parece-me [....] que a leitura silenciosa, legere tacite ou legere sibi,
como Bento e outros a denominaram, e a leitura em voz alta, clare legere
em voce magna ou viva voce, foram dois métodos distintos de leitura,
ensinados para diferentes propósitos nas escolas antigas e ambos
praticados pelos leitores antigos, e que correspondiam grosso modo aos
estágios no processo de estudo chamados meditatio and lectio.
(Carruthers, 2008: 212 - trad. MCR)
Legere tacite produziria uma leitura lenta que lidava com a memória (Carruthers,
2008: 215). Por que lenta? Talvez porque somente no século XII se firmaria a escrita com
espaços entre palavras no norte da Europa continental (Saenger, 1997: 44), e ainda pelo
esforço de memorização, que permitiria a recuperação de passagens do texto sem o recurso
a índices de qualquer espécie. Carruthers retoma ainda as advertências de Marciano
Capela (séc. V): os textos a serem aprendidos seriam meditados em murmúrio. Essa é a
mesma advertência que fora feita por Quintiliano6.
5Isidoro. Libri Sententiarum, III, xiv, 9: “Acceptabilior est sensibus lectio tacita quam aperta; amplius enim
intelleclus instruitur, quando vox legentis quiescit, et sub silentio lingua movetur. Nam clare legendo et
corpus lassatur, et vocis acumen obtunditur » [‘A leitura silenciosa é melhor para a compreensão que a oral
(lit. aberta); o intelecto se instrui mais quando a voz do que lê silencia, e, sob o silêncio, a língua se move.
De fato, lendo claramente (i.e., em voz alta), além de o corpo se cansar, o agudo da voz enfada’ - trad.
Henrique Cairus). 6 “The question has been raised as to whether we should learn by heart in silence; it would be best to do
so, save for the fact that under such circumstances the mind is apt to become indolent, with the result that
other thoughts break in. For this reason the mind should be kept alert by the sound of the voice, so that the
memory may derive assistance from the double effort of speaking and listening. But our voice should be
subdued, rising scarcely above a murmur. 34 On the other hand, if we attempt to learn by heart from
another reading aloud, we shall find that there is both loss and gain; on the other hand, the process of
learning will be slower, because the perception of the eye is quicker than that of the ear, while, on the other

As observações sobre a leitura nesse passado já distante levam a questionar se
estamos diante de uma divisão realmente bipartite, distinguindo apenas leitura oral de
leitura silenciosa. Birch (2015: 57) distingue, por exemplo, a leitura oral intencional da
subvocalização não intencional ─ mais comum nos leitores não fluentes. Birch (que
focaliza o inglês-L2), tal como Isidoro, enfatiza o quanto a leitura oral intencional é
particularmente trabalhosa nas situações de L2: “os estudantes têm de processar rabiscos
em letras, fazer as letras corresponderem a sons abstratos, ativar os comandos motores
corretos e pôr em prática os comandos numa pronúncia acurada”. E termina
perguntando: “É de admirar que a compreensão do material lido oralmente sofra?”
(Birch, 2015:57 - trad MCR).
A subvocalização não intencional não se confunde com a subvocalização de fato
(Birch, 2015: 56). Nesta os comandos motores são ativados (o que a leva a classificar esse
tipo como leitura não silenciosa), mas nada se ouve e vem sendo empregada como
estratégia no aprendizado de palavras novas (Birch, 2015: 57).
A vocalização e a subvocalização seriam aliados do leitor ─ um leitor que, em
razão das características impostas aos sistemas de escrita alfabéticos de Grécia e Roma,
precisava de ajuda.
3. O OUVIDO E O OLHO
A Antiguidade ocidental viu em duas grandes civilizações o surgimento de dois
sistemas alfabéticos ─ i.e., de sistemas que representam consoantes e também vogais ─
com escritas distintas. Costuma-se datar o surgimento do alfabeto grego em torno de 750
a.C.7; quanto ao alfabeto latino, costuma-se datar seu surgimento em torno do século VII
hand, when we have heard a passage once or twice, we shall be in a position to test our memory and match
it against the voice of the reader. It is, indeed, important for other reasons to tests ourselves thus from time
to time, since continuous reading has this drawback, that it passes over the passages which we find hard to
remember at the same speed as those which we find less difficulty in retaining”. Institutio oratoria (XI, ii,
33-34 ) 7 Embora essa datação seja alvo de disputa, uma vez que a escrita fenícia de que se originou desapareceu
por volta do século XII ou XI a. C (Harris, 1989: vii-viii)

ou VI a.C. (Martin, 1994: 85). Uma vez que gregos e romanos conheciam o alfabeto,
podemos concluir que haviam deixado de ser sociedades orais? Não é simples assim.
Dispor de um alfabeto não implicou uma sociedade com necessidade de materiais
escritos e com acesso a eles tal como no Ocidente moderno. Na antiga Grécia o quadro
era bem diferente do atual, porque música, poesia e recitação eram os aspectos para os
quais se voltava a educação, não para a leitura e a escrita.
A maior parte da literatura grega [...] tinha por finalidade ser ouvida ou
cantada ─ transmitida oralmente, portanto ─ e havia uma forte corrente
de aversão pela palavra escrita, mesmo entre os altamente letrados:
documentos escritos não eram considerados, por si mesmos, prova
adequada em contextos legais até a segunda metade do século IV a.C.
[....] Sócrates conduzia suas pesquisas filosóficas por meio de conversas
e nada escreveu. Platão, seu discípulo, atacou a palavra escrita como um
meio inadequado para a verdadeira educação e a filosofia: é possível que
ele tenha publicado sua própria obra em forma de diálogo com o intuito
de recriar a atmosfera do discurso e do debate orais e, próximo do fim
de sua vida, tenha decidido não confiar nenhuma de suas concepções
mais importantes à forma escrita (Carta VII, atribuída a Platão).
(Thomas, 1999: 4-5)
O excerto de Thomas que se acaba de reproduzir traz à mente os versos de
invocação à Musa que marcam tanto a Ilíada como a Odisseia (Canta-me a cólera — ó
deusa! — funesta de Aquiles Pelida”, “Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso...”).
Relembra também um Platão avesso à escrita, quer na carta a ele atribuída (“todo homem
sério evita escrever coisas sérias para não abandoná-las à aversão e à incapacidade de
compreensão dos homens” - Carta 7), quer em Fedro8.
8 “A escrita (graphé), Fedro, tem essa estranha qualidade, e é muito semelhante à pintura (zoographía);
pois ela coloca as suas criações como seres vivos (zônta), mas se alguém lhes perguntasse algo,
continuariam a preservar seu silêncio solene. Assim são as palavras em um texto. Podemos pensar que
elas falam como se tivessem inteligência (phronoûntas), mas se lhes perguntamos algo desejando saber
mais sobre seus dizeres, elas sempre indicam só uma única coisa, o mesmo 22. E toda palavra quando é
escrita uma vez, está fadada a dizer o mesmo entre aqueles que compreendem e aqueles que não têm o
mínimo interesse, e não sabe a quem se deve falar e a quem não se deve. Quando mal tratadas ou

Se na Atenas do século V dificilmente havia livros, e ler um livro seria
“[p]erseverar ao longo de um rolo inteiro de papiro, que poderia ter até sete metros de
comprimento9, não tinha divisões de palavras e exigia uma postura especial” (Thomas,
1999: 11), o quadro já não era o mesmo no mundo romano. A sociedade romana “no fim
da República10 e do Império11 é muito mais dominada por livros e documentos que a
Grécia clássica” (Thomas, 1999: 221) e por volta do século II “havia muito o que ler (ao
menos nas cidades), um comércio de livros florescente e um público ledor razoavelmente
amplo”. Mas “malgrado a presença de documentos e literatura escritos”, a performance
oral permaneceu determinante (Thomas, 1999: 222).
3.1 A arte de compor para quem ouve
A ênfase nas características rítmicas da construção sinalizam que a retórica “ou a
arte de falar” (Thomas,1999: 4) tinha como meta a transmissão oral. É esta o objeto de
uma das cinco divisões da retórica clássica12, a pronuntiatio, que ditava as modulações
da voz, ênfases, pausas mas ainda postura corporal e a expressão facial (Corbett, 1971:
38-39). Para Demóstenes (384-322 a. C.) era a pronuntiatio a parte mais importante da
retórica (Corbett, 1971: 38-39). Não pode causar estranhamento, por conseguinte, que a
estruturação da prosa diga respeito em grande parte à fonologia da sílaba e da oração. Ao
descrever os recursos de que o orador deveria lançar mão na compositio ou estrutura do
texto em prosa artística, Quintiliano focaliza o ritmo, cujo melhor juiz é o ouvido
(Quintiliano, IX, iv, 116). Após tratar da duração das sílabas e dos efeitos que podiam ser
obtidos na composição dos diferentes pés, Quintiliano retoma os três elementos do estilo
coeso para o ritmo geral do período (Quintiliano, IX, iv, 22), focalizando primeiramente
injustamente reveladas, sempre precisam de seu pai para ajudá-las, não têm poder de protegerem a si
mesmas” (tradução em Pinheiro, 2008: 77). 9 O codex, ou formato de livro que conhecemos, que tem a folha escrita de ambos os lados, começa a se
propagar no início do Império Romano (Dahl, 1960: 24). 10 Isto é, de 509 a 27 a.C. 11 Considerado o Império do Ocidente, de 27 a.C. a 476. 12 Eram cinco partes: inventio, dispositio, elocutio, memoria e pronuntiatio.

o coma ou incisum, que define como a expressão de um pensamento incompleto quanto
ao ritmo (Quintiliano, IX, iv, 122); em seguida o cólon ou membrum, a expressão de um
pensamento que está ritmicamente completo mas a que falta sentido se separado do
restante da frase. Para o período ou conclusio, Quintiliano (IX, iv,125) uma vez mais cita
Cícero, para quem o período não deveria ter extensão maior que o fôlego decorrente de
uma inspiração, nem ser tão longo que sobrecarregasse a memória.
3.2 A arte de ler para quem ouve (apesar da scriptura continua)
Martin (1994: 54) aponta uma diferença entre sistemas de escrita consonantais e
alfabéticos: os primeiros precisam de demarcar as palavras para a leitura oral. Os gregos,
ao tomarem a escrita dos fenícios como modelo, inicialmente separaram as palavras com
barras ou com pontos, mas logo deixaram de lado essa prática, lançando mão da scriptura
continua, ou escrita sem espaços em branco que delimitam palavras. Esse complicador da
leitura, que surge nas escritas da Antiguidade no Ocidente e adentra a Idade Média, fez
da “técnica da identificação e memorização das sequências de letras que representavam
as sílabas lícitas um aspecto fundamental da pedagogia antiga e da alta Idade Média”
(Saenger, 1997: 8)13. Representadas as vogais, os gregos ─ e já por volta do século II
também os romanos ─ deixaram de lado os espaços entre palavras 14. A completa ausência
de espaços entre as palavras exigiu do leitor uma intensa preparação oral da leitura do
texto, a praelectio (Saenger, 1997: 13), uma vez que a leitura oral pública não podia ser
iniciada no primeiro contacto com o texto.
Martin (1994: 56) atribui a um esforço de padronização das escolas de Alexandria
e de Pérgamo o surgimento de diacríticos, que ajudavam o leitor a pronunciar
corretamente as palavras, mas também a dividir o texto; o ponto ─ ou na metade da altura
da linha ou na altura do topo das letras ─ podia distinguir parágrafos ou sintagmas; dois
13 A memorização de sílabas ainda faz parte das artes de ler impressas até meados do século XVI em Portugal
(Rosa, 2002). 14 Os espaços entre palavras começariam a ser reintroduzidos nos textos em latim na Europa continental
por volta do século X, por influências dos escribas das Ilhas Britânicas, onde a scriptura continua não fora
aplicada ao latim.

pontos marcaram inicialmente o final de uma frase, mas passariam a indicar a troca de
locutor num diálogo.
Segundo Martin (1994: 57) para o latim o quadro era mais complexo. Pontos
separaram palavras até o século II ou III, quando a scriptura continua generalizou-se, sem
que a pontuação fosse objeto de maior atenção. Martin (1994: 57 - trad MCR) assim
descreve os usos da pontuação, enfatizando sua complexidade e o fato de ainda ter muito
de obscuro:
os copistas que transcreviam um texto literário fizeram pouco mais que
guiar a leitura pelo estabelecimento de divisões no discurso marcadas
pela mudança de linha e pela escrita das primeiras letras de um novo
parágrafo na margem esquerda, fora da justificação vertical do texto.
Uma pausa por razões retóricas era frequentemente marcada por um
espaço em branco em meio à linha.
A ajuda ao leitor tomou também a forma de diacríticos. O latim clássico usou do
apex (com a forma do acento agudo, com ou sem um gancho para a esquerda, assim <´ >)
ou do sicilicus (semelhante a um <o> aberto, < ̛ >), ambos geminationis nota sobre vogal
ou sobre consoante. Sua função não se relacionava à tonicidade: como assinala Oliver
(1966: 156), a função era “puramente gráfica e, por assim dizer, mecânica: indicava que
a letra sobre a qual estava deveria ser lida duas vezes”. Segundo Oliver (1966: 157),
distinguir ambos os sinais, apex para as vogais e sicilicus para as consoantes, se deveu a
uma interpretação de Isidoro sobre Quintiliano: que o apex distinguia homógrafos; mas,
especialmente, que os antigos escreveram o sicilicus em lugar de escrever a consoante
duas vezes. O uso desses sinais, inicialmente usados na epigrafia, foi poucas vezes
mencionado para os escritores. Aos poucos o sicilicus cedeu lugar ao apex. Quintiliano
(De institutione oratoria I, 7, 2)15, é a referência sempre citada; o apex tornar-se-ia
obsoleto no século III.
15 “2. ut longis syllabis omnibus adponere apicem ineptissimum est, quia plurimae natura ipsa uerbi, quod
scribitur, patent, sed interim necessarium, cum eadem littera alium atque alium intellectum, prout correpta
uel producta est, facit: 3. ut “malus” arborem significet an hominem non bonum apice distinguitur,
“palus” aliud priore syllaba longa, aliud sequenti significat, et cum eadem littera nominatiuo casu breuis,
ablatiuo longa est, utrum sequamur, plerumque hac nota monendi sumus” (vide Pereira, 2006).

No Renascimento os “ápices” retornam ao uso. Acentos e trema estão no latim do
jesuíta Manuel Álvares (1526-1583), o autor da gramática latina mais reeditada: optimè,
quàm, sestertiûm, metîmur, Iacóbe, poëtis. São soluções renascentistas que não indicam
necessariamente tonicidade (Hale, 1995: 25). O trema indica um hiato (poëtis). Quanto
aos acentos, as funções foram várias. O acento grave < ` > distinguiu homógrafos, como
indicado por Quintiliano, relacionando-se, desse modo, não à pronúncia, mas ao
significado: assinalou formas indeclináveis para distingui-las de declináveis (mas também
onde não havia homógrafos - Hale, 1995: 25), o que o fez marcar o final de advérbios
(optimè por optimē). O acento circunflexo distinguiu flexões, marcando a vogal longa de
um par, como mensâ/ mensa ou ainda contrações (amâsse por amauisse). O acento agudo
marcou principalmente as enclíticas –que, -ne, -ve (Hale, 1995:25), distinguindo
contextos como imaginatióne (‘imaginação?’, nominativo mais enclítica) de imaginatione
(ablativo singular); poderia também marcar a primeira vogal de um hiato, sendo a segunda
marcada ou não pelo trema (muséum).
No contacto com o texto litúrgico, a preparação do leitor tinha de se revestir de
mais cuidados, de modo a não deixar margem para a ambiguidade. A possibilidade de
extrair mais de uma leitura de uma sequência em scriptura continua poderia divulgar uma
indesejada leitura herética, como aquela discutida por Agostinho ao tratar da pontuação16.
Atribui-se a São Jerônimo (374-420) uma disposição visual do texto que ficaria
conhecida como escrita per cola et commata (‘por cólons e comas’), na qual unidades de
texto (os cólons e comas) ocupavam diferentes linhas. Empregada na Vulgata, a escrita
per cola et commata partia da margem esquerda e colocava em cada linha uma unidade,
que poderia equivaler aos atuais frase, oração ou sintagma (Saenger, 1997: 16; Bischoff,
1986: 169) ─ produzindo a aparência de pequenos versos. A preocupação com o leitor era
manifesta: Jerônimo informa no prólogo a Isaías que dividia/pontuava a nova tradução
com um novo estilo de escrita que tomava de Demóstenes e Cícero os quais, embora
16 Em De Doctrina Christiana (III, 2, 3) Agostinho apresenta a leitura que seria herética ─ In principio
erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat. Verbum hoc erat in principio apud Deum, para
corrigi-la posteriormente: et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum.

escrevessem em prosa, não em verso, transcreviam seus textos per cola et commata para
a conveniência dos leitores17.
Assinalados na escrita com sinais de pontuação a que deram nome, comas, cólons
e períodos foram descritos não apenas em termos da completude ou não do sentido, mas
também da duração das pausas. Martin (1994: 57) refere Donato (séc. IV) ─ de quem São
Jerônimo fora aluno ─ como o primeiro a empregar cólon e coma como denominações
para sinais de pontuação.
Isidoro de Sevilha (c. 560-636) será um marco na caracterização dessa pontuação,
que se fazia por três diferentes alturas do ponto em relação à linha18. Ao longo da Idade
Média e até o século XVI surgiriam novos sinais, como a interrogação e a exclamação
(Bischoff, 1986: 171). A passagem do manuscrito em latim ao impresso em português
levaria a mais mudanças (Rosa, 1994), ao mesmo tempo em que a leitura silenciosa
começava a ganhar espaço. Mas as recomendações de uso da pontuação não se alterariam
depressa.
17 Jerônimo. Prólogo ao Livro de Isaías: “Nemo cum Prophetas versibus viderit esse descriptos, metro eos
aestimet apud Hebraeos ligari et aliquid simile habere de Psalmis vel operibus Salomonis; sed quod in
Demosthene et Tullio solet fieri, ut per cola scribantur et commata, qui utique prosa et non versibus
conscripserunt, nos quoque utilitati legentium providentes interpretationem novam novo scribendi genere
distinximus”. 18 XX. DE POSITVRIS. [1] Positura est figura ad distinguendos sensus per cola et commata et periodos,
quae dum ordine suo adponitur, sensum nobis lectionis ostendit. Dictae autem positurae vel quia punctis
positis adnotantur, vel quia ibi vox pro intervallo distinctionis deponitur. Has Graeci THESEIS vocant,
Latini posituras. [2] Prima positura subdistinctio dicitur; eadem et comma. Media distinctio sequens est;
ipsa et cola. Vltima distinctio, quae totam sententiam cludit, ipsa est periodus; cuius, ut diximus, partes sunt
cola et comma; quarum diversitas punctis diverso loco positis demonstratur. [3] Vbi enim initio
pronuntiationis necdum plena pars sensui est, et tamen respirare oportet, fit comma, id est particula sensus,
punctusque ad imam litteram ponitur; et vocatur subdistinctio, ab eo quod punctum subtus, id est ad imam
litteram, accipit. [4] Vbi autem in sequentibus iam sententia sensum praestat, sed adhuc aliquid superest de
sententiae plenitudine, fit cola, mediamque litteram puncto notamus; et mediam distinctionem vocamus,
quia punctum ad mediam litteram ponimus. [5] Vbi vero iam per gradus pronuntiando plenam sententiae
clausulam facimus, fit periodus, punctumque ad caput litterae ponimus; et vocatur distinctio, id est
disiunctio, quia integram separavit sententiam. [6] Hoc quidem apud oratores. Ceterum apud poetas ubi in
versu post duos pedes syllaba remanet, comma est, quia ibi post scansionem praecisio verbi facta est. Vbi
vero post duos pedes de parte orationis nihil superest, colon est. Totus autem versus periodus est.

Duarte Nunes de Leão (c. 1530-1608) apõe ao final daquela que é considerada a
primeira obra no processo de padronização da ortografia portuguesa, um Tractado dos
pontos das clausulas. Leão já faz referência a manuscritos e impressos.
Porque como a scriptura he hũa representação do que fallamos, para se
tirar a cõfusão, do que queremos dar a entender, & para saber onde
começamos & acabamos as clausulas, vsamos de pontos, como de hũas
balisas &marcos, que diuidão as sentenças, & os membros de cada
clausula. [....] Item serue para cõceber na memoria, o que se lee. Porque
os spaços e balisas fazem parecer o caminho mais pequeno, & ser mais
facil, & o que não stá diuidido, he mais comprido, & enfadonho.
E os pontos que neste tempo se vsão, no partir & diuidir as clausulas,
assi na scriptura de mão, como na stampada, sáo tres, .s.19 virgula,
coma, colon , que teem estas figuras.
Virgula ,
Comma :
Colon .
(Leão, 1576: Kii verso)
Os três sinais formam uma hierarquia de completude de sentidos (Kii verso-Kiii)
e quase não há menção à voz: surge para a vírgula, que deveria ser empregada quando
“ainda não stá dicto tal cousa, que dee sentido cheo, mas soomente descansa para dizer
mais”. No restante da matéria, Leão parece ter em mente alguém que lê em privado.
Começava a ser possível perceber o fim da tradição que deu prioridade à transmissão oral
do texto e que Law (1997: 250), focalizando os estudos gramaticais, definiu como um
“modo primariamente auditivo de conceber a língua”.
4. O OLHO, NÃO O OUVIDO
A pontuação é objeto de atenção basicamente apenas em manuais escolares, onde
as mudanças são lentas. Assim, em textos atuais sobre a pontuação ainda é possível
19 Abreviatura para o latim scilicet, ‘a saber’.

perceber os ecos do “modo auditivo” de que fala Vivien Law. Estavam numa gramática
latina publicada em Lisboa em 1516, do português Estêvão Cavaleiro (fl. 14-15-), que
fazia uma gradação de pausas (“A vírgula, em verdade, exige uma pequena demora na
prolação; a coma, um pouco maior, mas com a voz suspensa. O cólon e o período exigem
um intervalo pouco mais prolongado - Trad. Miguel Barbosa do Rosário e Carlos K.
Tannus - comunicação pessoal)20. Muitos séculos depois a gradação de pausas permanece
o fio condutor do emprego dos sinais, como na explicação de Cunha (1972: 591-599) de
que avírgula “marca uma pausa de pequena duração” ; o ponto, “a pausa máxima da voz
depois de um grupo fônico de final descendente” ficando o ponto e vírgula em posição
intermediária, podendo equivaler “a uma espécie de ponto reduzido” ou a “uma vírgula
alongada”.
A descrição em Cunha ecoa a cultura que priorizou a transmissão oral do texto,
mas que, adaptada aos dias atuais, trata a pontuação como uma transcrição da prosódia:
Para bem pontuar, siga-se este conselho de Galichet e Chatelain. “Para
saber onde deve colocar os seus sinais de pontuação habitue-se a ouvir
a melodia da frase que escreve e, quando hesitar, leia a frase em voz
alta: as pausas que será obrigado a observar e as mudanças de entoação
lhe indicarão geralmente a escolha e o lugar dos sinais de pontuação que
nela terá de introduzir.
(Cunha, 1972: 619)
Mas a pontuação não é uma transcrição, mesmo nos casos em que parece óbvio
que o sinal indica a melodia a ser imposta à frase, ou será necessário compreender a
pontuação como uma transcrição imperfeita. As diferentes melodias da interrogação, por
exemplo, não se distinguem na pontuação, que assinala todas com o mesmo sinal, como
em (1) a seguir (Rosa, 1994):
(1)
a. Ontem choveu? Foi isso que você disse?
20 Estêvão Cavaleiro (1516: f. 58 ): “Sane virgula paruam moram in prolatione exigit. comma longiusculam
cum suspensa tamen voce. Colus & periodus prolixius interuallum desiderant.”

b. Quando foi que choveu?
c. Choveu quando?
d. Você disse que choveu ou trovejou?
O exemplo (1a) apresenta uma questão total, com resposta do tipo sim/não, e uma
pergunta de confirmação: em ambas a entonação ascende na última tônica. O exemplo
(1b) traz uma questão parcial, com partícula interrogativa em posição inicial: começa alta
e desce até a última tônica, diferentemente de (1c), em que o elemento qu-, interrogativo,
está em posição final: a entoação sobe na sílaba acentuada que precede o elemento qu-.
Por fim, (1d) apresenta uma questão disjuntiva ou alternativa: a entoação sobe na sílaba
acentuada que precede a partícula disjuntiva.
Nunberg (1990: 14) trabalha com essa relação de modo inverso, criando o termo
transdiction (ou ‘transdição’) do texto escrito: a leitura oral é um gênero especializado da
língua falada e ao ler um determinado sinal é possível dar à voz determinada característica
─ mas como ele mesmo nota, também aqui surgem problemas, porque um mesmo sinal
pode ser usado com mais de uma função, caso, por exemplo, do ponto, empregado em
final de período e em abreviaturas.
Quem escreve não transcreve com a pontuação as pausas da fala (o que poderia
permitir uma vírgula entre escreve e não no começo desta frase), mas aponta relações
gramaticais que permitirão ao leitor compreender a informação escrita. Uma vírgula, por
exemplo, pode: (a) delimitar uma unidade que está intercalada entre o núcleo e seus
argumentos interno e externo ─ por isso se aplica a (4g) e a (4h), mas não se aplica a (4a)
nem a (4e), e não poderia ser empregada como em (4b), (4c) ou em (4f) ─; ou (b) pode
separar elementos do mesmo tipo, com em (4i)21. Pode ainda assinalar a omissão e um
elemento (4j):
(4)
a) A mãe de Maria comprou um lindo carro novo ontem.
b) *A mãe de Maria, comprou um lindo carro novo ontem.
21 Nunberg (1990: 36-37) denomina o primeiro caso vírgula delimitadora; o segundo, vírgula separadora.

c) *A mãe de Maria comprou, um lindo carro novo ontem.
d) *A mãe, de Maria comprou um lindo carro novo ontem.
e) A destruição da casa pela bomba
f) * A destruição, da casa pela bomba
g) A defesa, porém, comprou a única testemunha.
h) Nós todos, nessa hora, tínhamos saído da sala.
i) Comprei cebola, batata, tomate e frango.
j) Maria avisou os vizinhos; Joana, os colegas do trabalho.
Mas a pontuação vai além de elucidar as relações gramaticais no texto. Faz parte
de uma gramática da escrita que remete a aspectos gráficos, como a justificação das
margens, o recolhido do parágrafo, a capitalização. Ou como as regras de ordenação entre
sinais de pontuação que o Formulário Ortográfico de 1943, ainda em vigor, apresentou
na seção sobre pontuação:
• 50. Aspas - Quando a pausa coincide com o final da expressão ou
sentença que se acha entre aspas, coloca-se o competente sinal de
pontuação depois delas, se encerram apenas uma parte da proposição;
quando, porém, as aspas abrangem todo o período, sentença, frase ou
expressão, a respectiva notação fica abrangida por elas.
(ABL. Formulário Ortográfico)
• 51 - Parênteses - Quando uma pausa coincide com o início da
construção parentética, o respectivo sinal de pontuação deve ficar
depois dos parênteses: mas, estando a proposição ou frase inteira
encerrada pelos parênteses, dentro deles se põe a competente notação.
(ABL. Formulário Ortográfico)
Essas regras não têm qualquer contraparte sonora nem gramatical.
Há outros empregos de carácter nitidamente gráfico, como notou Nunberg (1990).
É o caso das “regras de promoção” (Nunberg, 1990: 44 ss), como a promoção a ponto e
vírgula ─ serão separados por ponto e vírgula, por estarem num nível hierárquico mais
alto, o(s) constituinte(s) que contêm vírgulas no seu interior ─ ou a promoção a
colchetes: “Empregam-se [....] quando se quer isolar uma construção internamente já
separada por parênteses” (Cunha, 1972: 616).
Têm também caráter gráfico as “regras de absorção” (Nunberg, 1990: 70):

a. Se uma palavra escrita abreviadamente “estiver no fim do período,
este se encerra com o ponto abreviativo, pois não se coloca outro ponto
depois dele” (Cunha, 1972: 599): Estes fatos aconteceram em 310 a.C.
b. o travessão duplo passa a simples se seu segundo elemento coincide
com o final do período.
Essa gramática visual da pontuação viu recentemente o elenco de sinais ser
adicionado de novos membros com a difusão da internet. A ajuda ao leitor face à massa
de informação agora disponível fez as marcas gráficas ganharem funções ligadas à
facilitação de acesso a uma informação específica. A arroba (@), símbolo de uma antiga
unidade de peso, passou à localização do provedor de um usuário de correio eletrônico
(usuá[email protected]ínio.país), ou à localização do usuário numa rede (@Usuário). O
sublinhado e a cor, que destacavam uma parte do texto, no mundo digital passam a marcar
um hyperlink, “elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou
por um elemento gráfico que, ao ser acionado (ger. mediante um clique de mouse),
provoca a exibição de novo hiperdocumento” (Houaiss).
Com o fenômeno das redes sociais online, # (agora hashtag) e $ (cifrão) também
ganham nova função. Compare-se a nova função com a informação sobre o emprego
tradicional desses sinais, que se encontra num dicionário como o Houaiss, por exemplo:
jogo da velha sinal gráfico (#) similar à figura sobre que esse jogo se
desenvolve, us. em informática (cerquilha), endereçamento de
correspondência (em alguns países), tb. como sinal de 'abrir espaço' em
revisão (antífen) etc.
cifrão sinal gráfico representado por um S cortado por um ou dois traços
verticais ($) e que indica as unidades monetárias de diversos países

Com as redes sociais online, a hashtag e o cifrão (ou ainda cashtag22) passaram a
permitir a pesquisa temática pela sequência gráfica imediatamente seguinte (#Lithium,
$tsla), que, no caso do cifrão remete para o mercado acionário. Esses usos não parecem
claros para muitos usuários.
Se não se percebe a existência de uma relação com a oralidade, nem com a
classificação de informações, a hashtag acaba por ser empregada como substituto de
espaços em branco: (a) em isolado, equivalendo a um espaço, como separador de palavras
(#Amor #Que #Não #Se #Mede - In Mollica & Quadros, neste volume), ou (b) numa
sequência contínua, como substituto do recolhido do parágrafo:
ESTAMOS TODOS O APOIANDO ENQUANTO ELE ESTIVER DO
NOSSO LADO E GOVERNANDO PARA TODO O POVO
BRASILEIRO DO BEM ######################## VAMOS
CONTINUAR A APOIAR A LAVA JATO E O HERÓI BRASILEIRO
JUIZ SERGIO MORO, SINTO NO AR QUE SE INICIA UM
PROCESSO PARA ABAFAR A LAVA JATO, E ISTO NOS O POVO
NÃO PODEMOS PERMITIR, DEMORE O TEMPO QUE FOR A
LAVA JATO TEM QUE IR ATÉ O FIM, AMIGOS " OLHO VIVO ",
#################################ESTÃO QUERENDO
FAZER UMA GRANDE PIZZA E NOS NÃO PODEMOS DEIXAR
(exemplo conseguido por Mollica - comunicação pessoal)
A cashtag , por sua vez, sai da área da Economia e se torna equivalente do jogo da
velha (“@VoceNaoSabiaQ: O cifrão "$" tem a mesma função da HashTag para palavras
22 O Globo, 01/08/2012: “Com o objetivo de reunir informações relevantes para investidores na sua
plataforma, o Twitter anunciou na segunda-feira o que foi rapidamente chamado de 'cashtag'. Desde então,
mensagens sobre o valor de ações de companhias listadas em bolsa de valores podem ser marcadas com
um novo símbolo, o cifrão. Similar à hastag, que usa o '#' antes das palavras para transformá-las em links,
a 'cashtag' marca tweets sobre finanças. "Agora é possível clicar em símbolos como $GE no Twitter para
ver resultados sobre ações", disse o @Twitter no início da semana. Na prática já é possível usar as
‘cashtags‘ $GOOG, $APPL, $FB ou $GE, mas a iniciativa só deve apresentar resultados nos próximos
dias. Quem marca um tweet com o cifrão hoje encontra milhares de mensagens sobre ações, dados ainda
perdidos na massa de microposts sobre a nova função”.

pequenas no Twitter. $Teste.” $Show:) e, desse modo, pode substituir também o espaço
entre palavras ( $nossa $bem $loko $Teste) .
5. E AS PAUSAS?
Coulmas (2003) retoma a proposta de Roy Harris de que o desenvolvimento da
escrita se fez de modo independente em relação à fala. Os sinais da escrita não representam
sons; recebem interpretação fonética. Assim, Coulmas (2003: 31) enfatizará que a escrita
não é um sistema de transcrição. A transcrição dispensa o conhecimento da língua
transcrita, e é possível pronunciar razoavelmente bem, por exemplo, um trecho transcrito
no Alfabeto Fonético Internacional mesmo sem a compreensão do que se pronunciou. Os
sistemas de escrita, por outro lado, estão desenhados para quem conhece a língua e podem
ser “better served by a system that filters out unnecessary phonetic information and even
omits phonological information for the sake of morphology and grammar” (Coulmas,
2003: 31).
Nunberg (1990: 14) ilustra a interpretação fonética mencionada acima. Um leitor
fluente na atualidade, caso venha a oralizar o texto , como fazem, por exemplo, os âncoras
de telejornais, poderá ler um trecho entre aspas com demonstração de ironia. Poderíamos
dizer que as aspas marcam ironia?
REFERÊNCIAS
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS/ ABL. Vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa.
Apresentação de Cícero Sandroni. São Paulo: Global, 2009.
Versão online disponível em <http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-
novocabulario?sid=23 >.
AGOSTINHO , Santo. Confissões. Trad. André Marins. São Paulo: Martin Claret, 2004.
AGOSTINHO, Santo. De Doctrina Christiana Libri Quatuor. Disponível em:
http://www.augustinus.it/latino/dottrina_cristiana/index2.htm
ÁLVARES, Manuel. 1572. De institutione grammatica libri tres. Lisboa: João Barreiro.

Ed. fac-similar: [s.l.] Junta Geral do Distrito Autônomo de Funchal, [1974].
Disponível em: http://www.scribd.com/doc/13567062/1572gramatica-latina
http://purl.pt/14122/2/
BIRCH, Barbara M. 2015. English L2 Reading: Getting to the Bottom. 3rd ed. New York &
London: Routledge.
BISCHOFF, Bernhard . 1986. Latin Palaeography. Transl. by Dáibhí Ó Cróinín & D. Ganz.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
CLANCHY, M. T. 2013. From memory to written record: England 1066-1307.
Malden/Oxford/ Chichester: Wiley-Blackwell.
COOK, Vivian & BASSETTI, Benedetta. 2005. An introduction to researching second
language writing systems. In: COOK, Vivian & BASSETTI, Benedetta (eds). 2005. Second
language writing systems. Clevedon/Buffalo/ Toronto: Multilingual Matters Ltd. p. 167.
CORBETT, Edward P. J. 1971. Classical Rhetoric for the Modern Student. New York:
Oxford University Press.
COULMAS, Florian. 1999. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford:
Blackwell.
COULMAS, Florian. 2003. Writing systems: An introduction to their linguistic analysis.
Cambridge, U.K.:Cambridge University Press.
COULMAS, Florian. 2013. Escrita e sociedade. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola
Editorial, 2014.
CUNHA, Celso Ferreira da. 1972. Gramática da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
MEC/FENAME.
DAHL, Svend. 1960. Histoire du livre de l’Antiquité a nos jours. Paris: Lamarre-Poinat.
ESTEVÃO CAVALEIRO. Noua grammatices marie matris dei virginis ars. Lisboa: Valentim
Fernandes, 1516.
GILLIARD, Frank D. 1993. More silent reading in Antiquity: Non omne verbum sonabat.
Journal of Biblical Literature 12 (4). 689-694 (Winter, 1993).

HALE, John K. 1995. Observations on Milton’s accents. Renaissance and Reformation/
Renaissance et Réforme , 10 (3). 23-34.
Disponível em
http://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/article/viewFile/11626/8529
HARRIS, William V. 1989. Ancient Literacy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
HIERONYMUS. Prologi Sancti Hieronymi in Biblia Sacra. From R. Weber, Biblia Sacra
iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart, 3rd edition (1983). Disponível em :
http://www.thelatinlibrary.com/bible/prologi.shtml
HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro Salles. 2001. Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.
ISIDORO. Isidori Hispaliensis Episcopi Etymologiarum sive Originum Libri XX.
Disponível em: http://www.thelatinlibrary.com/isidore.html , submitted by Angus
Graham from the edition of W. M. Lindsay, Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum
sive Originum libri XX (Oxford 1911).
ISIDORO. Sententiarum libri III. Disponível em:
http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0560-
0636,_Isidorus_Hispaliensis,_Sententiarum_Libri_Tres,_MLT.pdf
KNOX, Bernard M. W. 1968. Silent reading in Antiquity. Greek, Roman, and Byzantine
Studies, 9: 421-435
LAW, Vivien. 1997. Grammar and grammarians in the early Middle Ages. London:
Longman.
LEÃO, Duarte Nunes de. 1576. Orthographia da lingoa Portuguesa. Lisboa: João de
Barreira.
MANGUEL, Alberto. 1996. Uma história da leitura. Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo:
Companhia das Letras, 1997.
MARTIN, Henri-Jean.1994. The history and power of writing. Transl. by Lydia G.
Cochrane. Chicago: The University of Chicago Press.
NUNBERG, Geoffrey. 1990. The Linguistics of Punctuation. Stanford: Center for the Study
of Language and Information/ Stanford University. 141p.

O GLOBO, 01/08/ 2012. Cashtag, a hashtag para seguir a cotação de ações no Twitter.
Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/cashtag-hashtag-paraseguir-cotacao-de-acoes-no-twitter-5655225
OLIVER, Revilo P. 1966. Apex and Sicilicus. The American Journal of Philology 87(2).
129-170. Abr. 1966.
Disponível em:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/292702?sid=21105125311091&uid=2&uid=4
PARKES, M. B. 1995. Reading, copying and interpreting a text in the early Middle Ages.
In CAVALLO, Guglielmo & CHARTIER, Roger (eds.). 1995. A History of Reading in the
West. Transl. by Lydia G. Cochrane. Amherst: University of Massachusetts Press,1999.
p.90-102.
PEREIRA, Marcos Aurélio. 2006. Quintiliano gramático: o papel do mestre de Gramática
na Institutio oratoria. 2a. ed. São Paulo: USP/Associação Editorial Humanitas.
PINHEIRO, Marcus Reis. 2008. O Fedro e a escrita. In: Anais de Filosofia Clássica, 2
(4): 70-87. Disponível em: http://afc.ifcs.ufrj.br/2008/REIS.pdf
PLATO. Letter 7. http://www.logoslibrary.org/plato/letters/07.html
POIREL, Dominique. 2009. Prudens lector: La pratique des livres et de la lecture selon
Hugues de Saint-Victor. Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes 17. 209-226,
2009.
Disponível em : http://crm.revues.org/11522#bodyftn32
QUINTILIAN. The Institutio Oratoria of Quintilian with an English translation by H. E.
Butler . London & New York: William Heinemann / Putnam’Sons, 1922. 4. vol. vol. 3
(Books VII-IX)
Disponível em: https://ryanfb.github.io/loebolus-data/L126N.pdf
ORDEM DE SÃO BENTO/ ORDO SANCTI BENEDICTI/OSB. Regra de São Bento/ Regula
Sancti Benedicti. Ed. bilíngue. Trad. D. João E. Enout, OSB. 2a. ed. revista. Juiz de Fora:
Mosteiro de Santa Cruz, 1999.
ROSA, Maria Carlota. 1994. Pontuação e sintaxe em impressos portugueses
renascentistas. Rio de Janeiro: UFRJ/Faculdade de Letras. 2vol. mimeo. Tese de
Doutorado em Linguística. 2vv. 504pp.

ROSA, Maria Carlota. 2002. Cartinhas e cartilhas: as 'artes para ler' no século XVI., Diana,
3-4: p.59 - 73.
ROSA, Maria Carlota. 2015. Pera saberem pronunciar o que acharem escrito: ler
quimbundo, língua estrangeira, no século XVII. Rio de Janeiro: Universidade Federal do
Rio de Janeiro, 2015. Tese Acadêmica apresentada à Direção da Faculdade de Letras da
Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à promoção
docente à Classe E, com a denominação Professor Titular de Magistério Superior.
SAENGER, Paul . 1997. Space between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford:
Stanford University Press.
SVENBRO, Jesper. 1995. La Grecia arcaica y clásica. La invención de la lectura silenciosa.
In CAVALLO, Guglielmo & CHARTIER, Roger (eds.). 1995. Historia de la lectura en el
mundo occidental. Madrid: Taurus Minor. p. 67-109.
THOMAS, Rosalind. 1999. Letramento e oralidade na Grécia Antiga. Trad. Raul Fiker.
São Paulo: Odysseus, 2005.
Agosto, 2016