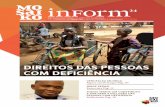Mosaiko inform 006
-
Upload
mosaiko-instituto-para-a-cidadania -
Category
Documents
-
view
221 -
download
1
description
Transcript of Mosaiko inform 006

Confira nesta edição pág. 9
O acesso à Justiça em Angola: Que desafios?
Figura em destaqueMartin Luther King Jr.
Pe. Bernard Duchêne Presidente da Comissão Mista de Direitos Humanos do Kuanza Norte
Entrevista
pág. 8
Acesso à Justiça
inform Informação sobre Direitos Humanos e o trabalho do Centro Cultural Mosaiko Edição trimestral F Distribuição gratuita
Nº 06 Março 2010MosaikoMosaiko
pág. 13

Todo o complexo conjunto das implicações ligadas ao acesso à Justi-
ça, manifesta-se, em Angola, ainda como um grande desafio. Muitos pas-
sos positivos, felizmente, foram dados. Todavia, muitíssimo ainda há por
fazer. Aliás, esta é uma tarefa sempre inacabada, algo sempre a fazer.
As vitórias alcançadas só servem, por um lado, para nos darem aquele
legítimo sentimento de satisfação, mas, por outro, para nos dizerem que o
que alcançámos ainda não é nada em relação ao que desejamos e pode-
mos alcançar. São vitórias inacabadas.
As múltiplas reflexões postas à nossa disposição são claras na afir-
mação de que nada melhorará sem o teu contributo, caro leitor, e o meu
contributo. De toda a maneira, dentro de alguns anos os registos da his-
tória estarão aí para dizer o quanto estivemos ou não à altura de tamanha
empreitada.
Não haja dúvidas de que a preocupação maior não poderá ser senão
em relação às pessoas mais fracas entre nós: mais fracas nas oportuni-
dades de acesso à informação e ao conhecimento, mais fracas nas opor-
tunidades de acesso aos recursos e de auto-desenvolvimento económico,
enfim, mais fracas no acesso ao Direito e à Justiça, nomeadamente aos
agentes e à complexa rede da administração da Justiça.
O problema é mais real do que teórico, é menos de falta de leis e mais
de carências na sua aplicação. O acesso à Justiça deve ser universal e
em condições de igualdade.
Obrigado pela tua solidariedade nesta tarefa!
José Sebastião Manuel, op
2Mosaiko
informMosaiko
ÍNDICE
Editorial .......................................................... 02
José Sebastião Manuel, op
Informando
Estrutura Orgânica e funcional do
Sistema Judicial Angolano ......................... 03
Lima de Oliveira
Estórias da História
A Conferência de Berlim ............................ 07
Hermenegildo Teotónio
Figura em destaque
Martin Luther King ..................................... 08
Hermenegildo Teotónio
Construindo
O Acesso à Justiça em Angola:
Que desafios? ........................................... 09
Dr. Miguel Pessoa
De que falamos quando falamos de Justiça:
Os vários tipos de Justiça .......................... 11
Juiz Francisco Bernardo
Entrevista com
Padre Bernard Duchêne ........................... 13
Mónica Guedes
Reflectindo
As responsabilidades do Estado e do Cidadão
no acesso à Justiça ........................................ 16
Dra. Elizete da Graça
Acesso à Justiça em Angola ........................ 17
Dr. Benja Satula
O Contributo do Mosaiko na Formação Cívica
e Jurídica dos Cidadãos ................................ 19
Faustina Icaia
Breves ............................................................ 20
e d i t o r i a l

Nº 006 / Março 2010 3
e d i t o r i a l I n f o r m a n d oESTRUTURA
ORGÂNICA E
FUNCIONAL
DO SISTEMA
JUDICIAL
ANGOLANO
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL ANGOLANO
O Sistema Judicial Angolano é composto pelos Tribunais e instituições afins com competência de administrar a justiça em nome do Povo (artº 174º CRA - Constituição da Repúblia de Angola). São os Tribunais que garantem e asseguram a observância (ou o cumprimento) da Constituição, das leis e demais disposições normativas vigentes, a protecção dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos e das instituições (177º CRA).
O Sistema Judicial angolano funciona de acordo com a divisão político-administrativa do País. Por exemplo: a competência jurisdicional do Tribunal Su-premo abrange todo o território nacional; a competência jurisdicional dos Tribunais Provinciais abrange as res-pectivas províncias; e a competência jurisdicional dos Tribunais Municipais abrange apenas a circunscrição administrativa dos respectivos municípios.
Com a aprovação da nova Constituição, o Sistema Judicial Angolano passa a ter a seguinte estrutura: Tribunais Superiores (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal de Contas e Supremo Tribunal Mili-tar), Tribunais de Relação e outros Tribunais Comuns. Poderá haver ainda a possibilidade de se criarem os Tribunais de competências administrativa, fiscal e aduaneira encabeçados por um Tribunal superior, bem como a criação de tribunais marítimos.
OBJECTIVO DO SISTEMA JUDICIAL ANGOLANOO Sistema Judicial Angolano tem como objectivo
proteger e apoiar o sistema político, económico e social do país, garantindo a defesa da legalidade e a obediência da Constituição e demais leis que se encontram em vigor; respeitar, proteger e defender a propriedade pública, privada, mista, cooperativa e familiar.(1) O Sistema assegura também a defesa dos direitos sociais dos trabalhadores e o cumprimento dos seus deveres.
No âmbito da família, o Sistema protege a harmonia e estabilidade da família, previne e resolve situações
de ruptura familiar. No tocante à defesa da dignidade da pessoa humana, o Sistema Judicial defende os direitos fundamentais e interesses legítimos dos cidadãos e em especial o direito à vida, à honra e aos bens pessoais. Mais do que sancionar, o Sis-tema Judicial Angolano tem como missão educar os cidadãos com vista ao cumprimento das leis, contribuindo assim para a elevação do nível da consciência jurídica de todos os cidadãos.
Na comunicação proferida numa das sessões da III Semana Social Nacional(2), o Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Inglês Pinto, defen-deu que «o bom funcionamento da administração
da Justiça, no seu sentido amplo, é condição
para que haja justiça e segurança social. A paz
social, o progresso, o desenvolvimento integral
do indivíduo e da sociedade em geral, passa, ne-
cessariamente, pela segurança jurídica, pelo acesso
ao Direito e à Justiça» – Justiça essa que é exercida pelos Tribunais.
CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNSA nova Constituição da República introduziu gran-
des modificações na estrutura do Poder Judicial do Estado. Ainda assim, o Sistema Judicial comum conti-nua a funcionar de acordo a Lei do Sistema Unificado de Justiça – aprovado pela então Assembleia do Povo sob a Lei nº 18/88, de 31 de Dezembro. A classificação mais conhecida é a dos Tribunais comuns:
Os Tribunais Comuns ou ordinários são: Municipais, Provinciais, de Relação(3) e Supremo.
Os Tribunais Municipais exercem a competência jurisdicional num determinado Município e o valor da causa não ultrapassa os Kz 100.000,00. Em casos pe-nais ou criminais, o Tribunal Municipal julga processos-crime instruídos pelos órgãos de investigação criminal, cuja punição vai até dois anos de prisão maior. Não existem Salas, mas existem uma espécie de Secretaria Geral, que recebe os expedientes.
Os Tribunais Provinciais exercem a competência-jurisdicional (administração da Justiça) na Província.
1 Artigo 1º da Lei do Sistema Unificado de Justiça.
2 III Semana Social Nacional, Luanda, 6 a 10 Fevereiro 2007.
3 Os Tribunais de Relação, apesar de estarem previstas na Consti-tuição, ainda não se encontram em funcionamento.

4Mosaiko
informMosaiko
i n f o r m a n d o i n f o r m a n d oJulgam casos (cíveis e penais) que acontecem em toda a extensão da Província e que ultrapassam a competência jurisdicional dos Tribunais Municipais. A competência interna dos Tribunais Provinciais é exer-cida pelas suas respectivas Salas; cada Sala tem um poder funcional próprio que lhe permite julgar casos que se coadunam com a sua natureza funcional. As Salas de que estamos a falar têm as seguintes designações: do Cível e Administrativo; da Família; do Trabalho; dos Crimes Comuns; dos Crimes contra a Segurança do Estado; Sala do Tribunal Marítimo e Sala do Julgado de Menores.
O Tribunal Supremo tem a competência de dirigir, controlar e supervisionar a actividade jurisdicional dos tribunais em todo o território nacional; apreciar a situação da criminalidade no País e propor em conjunto com os organismos competentes do Estado (Polícia Nacional, Forças Armadas, etc.) a sua prevenção e combate. Internamente, o Tribunal Supremo é dividido em três Câmaras, a saber: a Câmara do Cível e Administrativo; dos Crimes Co-muns; dos Crimes contra a Segurança do Estado, cada uma delas com competência própria para apreciar os recursos que lhes são apresentados por uma das partes do processo proferido pelo
Tribunal de 1ª instância (Tribunais Provinciais e Tribunais Municipais).
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAISA competência dos Tribunais é o conjunto dos seus
poderes funcionais, atribuídos por lei, para julgar deter-minados casos que lhes dizem respeito. Os Tribunais angolanos têm dois tipos de competência: a interna e a internacional.
A competência interna dos Tribunais manifesta-se na distribuição dos poderes jurisdicionais (poderes de julgar) a diferentes tribunais segundo:
a) a matéria – isto é, a competência de se julgar casos de acordo com a natureza e o tipo do Tribunal. Por exemplo: casos de divórcio, da filiação e da paternidade são da exclusiva competência doTribunal de Família (Sala de Família do Tribunal Provincial); impugnação
dos actos administrativos contra órgãos locais do Estado sedeadas nos Municípios e Comunas são da exclusiva competência dos Tribunais Administrativos (Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial); enquanto que os crimes de natureza militar são julgados em Tribunais de foro próprio (tribunais regionais, tribunais de guarnição e, em última instância, o Tribunal Supremo Militar).
b) o valor da causa – é o valor da demanda, ou seja, o valor limite que é atribuído a um Tribunal menor – municipal ou provincial – para poder julgar. Por exemplo: o artigo 38º da Lei do Sis-tema Unificado de Justiça diz: «Compete aos
Tribunais Municipais preparar e julgar todos os
processos cíveis de valor não superior a Kz 100
000,00». «A alçada dos tribunais municipais em
matéria cível é de Kz 50 000,00. Em matéria
penal o Tribunal Municipal não tem alçada»(4). c) a hierarquia - tem a ver com a competência que
os tribunais superiores têm em apreciar e julgar recursos emanados dos casos julgados (em 1ª mão) por tribunais inferiores sobre conflitos de competência e de acções propostas contra magistrados judiciais ou do Ministério Público em virtude das suas funções. Por exemplo: os Tribunais Provinciais apreciam recursos provindos dos casos julgados pelos Tribunais Municipais; enquanto que o Tribunal Supremo aprecia recursos dos casos julgados pelos Tribunais Provinciais;
d) o território - é o poder funcional atribuído a um tribunal de poder julgar os casos que aconte-cem na circunscrição territorial onde estiver sedeado. Por exemplo: se acontece um caso na Comuna de Yambala, Município do Cubal, em princípio, só o Tribunal Municipal do Cubal pode conhecer e julgar o mesmo caso. O caso só pode ser julgado pelo Tribunal de outro Município se na referida localidade não houver Tribunal para tal. Para além da competência exercida pelo Tribunal Municipal do Cubal, só
4 Artigo 41º da Lei do Sistema Unificado de Justiça

5Nº 06 / Março 2010
i n f o r m a n d o i n f o r m a n d oo Tribunal Provincial de Benguela poderá exer-cer a competência territorial do caso, se o seu conteúdo ultrapassar a competência material do referido Tribunal Municipal.
GESTÃO INTERNA DOS TRIBUNAISEm cada Tribunal existe uma direcção que coordena
os serviços e gere a vida administrativa da instituição. Essa direcção é composta por magistrados judiciais (juízes). Em princípio, só os juízes podem exercer a chefia dos tribunais, porque a categoria hierárquica dos tribunais angolanos, permite uma prestação de contas dos tribunais menores aos tribunais superiores. Cada juiz-presidente é responsável pela gestão do tribunal (que dirige) perante o juiz-presidente do tribunal supe-rior. Exemplo: o juiz do Tribunal Municipal presta contas ao juiz-presidente do Tribunal Provincial; este, por sua vez, presta contas ao Juiz-Presidente do Tribunal Supremo.
O Presidente doTribunal Supremo
O Tribunal Supre-mo é constituído pelo Presidente, Vice-Presi-dente e os Juízes que integram o Plenário e as Câmaras. Apesar de haver um Presidente, o Plenário do Tribunal Supremo é o verda-deiro órgão que dirige, fiscaliza e controla o funcionamento dos Tribunais do país. O Plenário anali-sa, por outro lado, a situação da criminalidade no país e propõe junto dos órgãos competentes do Estado medi-das para a sua prevenção e combate. Aprecia também o mérito profissional de todos os juízes no país.
O Presidente do Tribunal Supremo tem a função (tal como o juiz-presidente do Tribunal Provincial e o juiz municipal) de representar e dirigir o Tribunal; para além disso, o presidente tem a competência de desig-nar os juízes presidentes das Câmaras e de dar posse
aos juízes dos Tribunais Provinciais. O mesmo pode participar das sessões da Assembleia Nacional e do Conselho de Ministros mas sem direito a voto.
O Presidente do Tribunal ProvincialO Tribunal Provincial é constituído por um juiz-presi-
dente, coadjuvado pelos juízes das Salas e assessores populares. O Presidente do Tribunal Provincial tem a competência de representar e dirigir o Tribunal; cumpre e faz cumprir as orientações e resoluções superiores; assegura o funcionamento do Tribunal e dirige o pesso-al; comanda a distribuição dos processos no Tribunal; cumpre e faz cumprir as funções disciplinares, nos termos da lei; dá posse aos juízes municipais já nome-ados ou eleitos; elabora o relatório anual de prestação de contas; recebe e analisa as reclamações do público relativas ao funcionamento do Tribunal Provincial e dos
Tribunais Municipais da respectiva jurisdição.
Cada Sala (do Cí-vel e Administrativo; de Família; do Trabalho; dos Crimes Comuns; dos Crimes contra a Segurança do Estado) do Tribunal Provincial é composta por um juiz e dois assessores popu-lares. O presidente do Tribunal preside uma das Salas.
O Juiz do Tribunal Municipal
O Tribunal Municipal é constituído por um juiz e dois assessores populares. O juiz do Tribunal Municipal tem a competência de representar o Tribunal em toda a sua vertente funcional e assegurar o seu funcionamento. Quanto à apreciação e julgamento dos casos, o juiz municipal prepara os processos, realiza todos os actos que competem a um juiz de causa, preside aos julga-mentos e impõem a disciplina do processo.
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA Os agentes da administração da Justiça são
O cidadão deve
saber que a lei
proíbe o uso dos
meios de força
com o fim de rea-
lizar ou assegurar
o próprio direito,
salvo nos casos e
dentro dos limi-
tes declarados na
lei

6Mosaiko
informMosaiko
i n f o r m a n d o e s t ó r i a s d a H i s t ó r i a
Um dos deve-
res do Advoga-
do para com a
comunidade é
pugnar «pela
boa aplicação
das leis, pela
rápida adminis-
tração da Justi-
ça e pelo aper-
feiçoamento
das instituições
jurídicas»
Lima de Oliveira
pessoas com funções e categorias diversas, que ela-boram os processos orientados e asseguram o aceleramento ou a
estabilidade do seu andamento. Quem são essas pessoas? São os Magistrados Judiciais ou Juízes, os Magistrados do Ministério Públi-co ou Procuradores, os Escrivães, os Ajudantes de Escrivão, os Ofi-ciais de Diligências e, por último, os Advogados, apesar de não fazerem parte dos quadros dos Tribunais. Os juízes têm a função de julgar os casos que lhes forem apresentados; os Procuradores
têm a função de cumprir e fazer cumprir a lei, isto é, de fiscalizar se tudo está a decorrer de acordo a lei ou não. Os Escrivães são chefes do Cartório (espécie de Secretaria do Tribunal) que têm a missão de coordenar e supervisionar a preparação do expediente que permite ao juiz agir ou executar as decisões que ele tomou no pleno exercício das suas funções; também velam pelo bom cumprimento dos prazos para a prática dos actos quer pelos magistra-dos, quer pelas partes e pelos próprios funcionários do Cartório. Os Oficiais de Diligências têm a função de elaborar as notificações de todos os despachos pertinentes que lhes forem incumbidas pelos seus superiores hierárquicos.
Os Advogados não são agentes directos da admi-nistração da justiça, mas estão para colaborar na «ad-
ministração da Justiça, pugnar pela defesa do Estado
Democrático de direito e defender os direitos, liberdades
e garantias individuais dos cidadãos». Um dos deveres do Advogado para com a comunidade é pugnar «pela
boa aplicação das leis, pela rápida administração da
Justiça e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídi-
cas »(5), inclusive dos órgãos que compõem o Sistema Judicial Angolano.
IMPORTÂNCIA DO SISTEMA JUDICIAL NA VIDA SOCIAL
A existência de um Sistema Judicial traz consigo a paz e a estabilidade social, já que a sua principal tarefa é resolver os conflitos de interesses que aparecem durante as relações pessoais e sancionar os actos que colocam em causa a ordem e a tranquilidade pública, bem como a própria convivência social. Por isso, é muito importante que todos os cidadãos colaborem para o normal funcionamento das instituições de Justiça do país, adquirindo uma consciência jurídica capaz de aju-dar os Tribunais na resolução de muitos casos que não deveriam inundar desnecessariamente os cartórios.
O desconhecimento das leis, a falta de divulgação da informação jurídica, a morosidade no andamento dos processos judiciais, os altos valores dos impostos de justiça, o baixo rendimento da maior parte dos cida-dãos, são alguns dos factores que impedem o acesso à Justiça. Ainda assim, o cidadão deve saber que a lei proíbe o uso dos meios de força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limites declarados na lei.(6) Quer se dizer que a Justiça é pública e não privada; por isso, cabe somente ao Estado (através dos Tribunais) fazer justiça.
Cabe ao Estado criar todas as condições necessá-rias para que os cidadãos possam exercer, de facto, os seus direitos e cumprir cabalmente os seus deveres. A importância do Sistema Judicial ou da administração de Justiça deve ser muito divulgada para que haja maior in-teracção entre os destinatários da lei (os cidadãos) e os aplicadores da lei (os Tribunais). Por isso, os Tribunais devem estar mais próximos do cidadão comum, para que os seus direitos sejam assegurados e defendidos, sobretudo quando são violados frequentemente pelo abuso do poder. Cabe ainda ao Estado exortar e sensi-bilizar os cidadãos a recorrerem aos serviços de Justiça pública, em casos de conflitos ou de criminalidade. Esta sensibilização deve ser sempre acompanhada de condições que dignifiquem a pessoa humana, no seu todo, para se evitarem actos de vingança ou de justiça
feita por mãos próprias.
5 Artigo 3º, al. a), do Estatuto da Ordem dos Advogados de Angola.
6 Artigo 1º do Código de Processo Civil.

7Nº 06 / Março 2010
i n f o r m a n d o e s t ó r i a s d a H i s t ó r i aA Conferência de Berlim
No século XIX, o continente africano foi alvo de muitas cobiças por parte das principais potências coloniais, que pretendiam aumentar o seu domínio. O facto do continente afri-cano possuir matérias-primas, necessárias para o desenvolvimento da indústria, causou concor-rência entre os países co-lonizadores, o que gerou disputas entre eles.
Daí a necessidade, na altura, de se definirem as fronteiras dos países e partilhar o continente afri-cano. A partilha de África tem início, na Conferência de Berlim, no final do século XIX. A conferência foi realizada entre 19 de Novembro de 1884 e 26 de Fevereiro de 1885 e ins-tituiu normas para a ocupação, a serem aplicadas às potências coloniais.
A Conferência foi proposta por Portugal e orga-nizada pelo Chanceler Otto Von Bismarck da Ale-manha (país anfitrião). Estavam presentes países como: Grã-Bretanha, França, Espanha, Itália, Bél-gica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos da Amé-rica, Suécia, Áustria – Hungria, Império Otomano, Bélgica e Turquia.
Todos os países presentes, com interesses par-ticulares, tinham situações totalmente diferentes. Os Estados Unidos possuíam uma colónia em África (a Libéria), não obstante a guerra civil (1861-1865), por causa da abolição da escravatura; a Grã-Bretanha tinha abolido a escravatura no seu império em 1834; a Turquia, não possuía colónias em África, mas era o centro do Império Otomano e os seus interesses estavam voltados para o norte de África. Os res-tantes países, presentes na conferência, que não foram “considerados” na partilha, igualmente eram potências comerciais e industriais, com interesses
no continente africano.No decorrer da conferência, Portugal apresentou
um projecto, conhecido como “Mapa cor-de-rosa”, que tinha por objectivo ligar
Angola a Moçambique, para facilitar a comuni-cação, o comércio e o transporte de mercadorias entre as duas colónias. Apesar de todos concor-darem com o projecto, a Inglaterra, supostamente um antigo aliado dos por-tugueses, surpreendeu com a negação do referido projecto e fez um ultimato,
conhecido como “ultimato britânico de 1890”, ame-açando guerra se Portugal adoptasse o projecto. Com essa atitude da Inglaterra, Portugal teve de renunciar ao projecto do Mapa cor-de-rosa.
Alemanha não possuía ainda colónias em África, mas tinha esse desejo e viu-o satisfeito, passando a administrar o sudoeste africano (actual Namíbia) e o Tanganhica.
Como resultado da conferência, a Grã-Bretanha passou a administrar toda a África Austral, com ex-cepção das colónias portuguesas, o sudoeste de África, toda a África Oriental, e partilhou a costa oci-dental e o norte com a França, a Espanha e Portu-gal; o Congo, que estava no centro da disputa, con-tinuou como prioridade da Associação Internacional do Congo, cujo principal accionista era o rei Leopol-do II da Bélgica. Este país passou a administrar dois pequenos reinos, o Ruanda e o Burundi.
A partilha foi feita de maneira arbitrária, não res-peitando as características étnicas e culturais dos povos, o que contribui para muitos dos conflitos ac-
tuais no continente.
Hermenegildo Teotónio

8Mosaiko
informMosaiko
Ficha Técnica
Mosaiko Inform
PropriedadeCentro Cultural Mosaiko
NIF: 7405000860
Nº registoMCS-492/B/2008
RedacçãoBelarmino Márcio Cardoso
Fernando da SilvaFlorência ChimuandoJúlio Candeeiro, op
Mónica Guedes
Colaboradores: Dr. Benja SatulaDr. Miguel Pessoa
Dra. Elisete da Graça Faustina Icaia
Hermenegildo TeotónioJuiz Francisco Bernardo
Lima de Oliveira
Técnico GráficoGabriel Kahenjengo
ContactosCentro Cultural Mosaiko
Bairro da Estalagem Km 12 - Viana
Caixa Postal 6945 CLuanda - Angola
Telefones923 543 546 / 912 508 604
Endereço electró[email protected]
Sítio na internethttp://mosaiko.op.org
ImpressãoIndugráfica, LdaFátima - Portugal
Tiragem: 2 500 exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Martin Luther KingMartin Luther King, Jr. foi um pastor protestante e
activista político americano. Membro da Igreja Baptis-ta, tornou-se um dos mais importantes líderes do ac-tivismo pelos direitos civis (para negros e mulheres, principalmente) nos Estados Unidos da América e no mundo, através de uma campanha de não-violência e de amor para com o próximo.
Luther King nasceu a 15 de Janeiro de 1929, em Memphis, Atlanta, numa família humilde. O pai era agricultor e a mãe, pastora. Graduou-se no Morehouse College, com um bacharelado em Sociologia onde teve como mentor Benjamin Mays, um activista dos direitos civis. Depois, formou-se no Seminário Teológico Cro-zer, em Chester, Pensilvânia, tornando-se pastor da Igreja Baptista, em Montgomery, Alabama; fez também o Doutoramento em Teologia Sistemática pela Univer-sidade de Boston.
Luther King casou-se com Coretta Scott King e tiveram quatro filhos que seguiram os passos do pai como activistas de direitos civis, apesar de as opiniões e as crenças serem bastante diferentes entre eles.
Participou da fundação da Conferência de Lide-rança Cristã do Sul (CLCS), que tinha como objectivo organizar o activismo em torno da questão dos direitos civis. A CLCS era constituída principalmente por co-munidades negras ligadas às igrejas Baptistas, e King manteve-se na sua direcção até à sua morte.
Organizou e liderou marchas para conseguir o direito de voto para os negros, o fim da segregação, o fim das discriminações no trabalho e outros direitos civis bási-cos. A maior parte destes direitos foi, mais tarde, agrega-da à lei americana, com a aprovação da Lei de Direitos Civis (1964) e da Lei de Direitos Eleitorais (1965).
A partir de 1965 o líder negro passou questionar as intenções americanas na Guerra do Vietname, fazendo sérias críticas ao papel que os EUA desempenhavam na guerra.
Em 28.08.1963, liderou uma campanha pela justiça socio-económica, contra a pobreza (a Campanha dos Pobres), que tinha por objectivo principal garantir ajuda
para as comunidades mais pobres do país. E é tam-bém nesse ano que Luther King profere o seu famoso discurso “Eu tenho um Sonho” (“I have a dream”) em frente ao Memorial Lincoln, em Washington, durante a chamada “marcha pelo emprego e pela liberdade”. Este discurso simboliza a visão de um mundo mais justo:
“Viemos também a este lugar sagrado para lem-brar à América a grande urgência da hora presente. Chegou a hora de cumprir as promessas da democra-cia. Chegou a hora de sair do negro e árido vale da segregação para a estrada soalheira da justiça social. Chegou a hora de arrancar a nossa Nação às areias movediças da injustiça social e implantá-la no rochedo sólido da fraternidade. Chegou a hora de fazer da jus-tiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Não haverá sossego na América enquanto o Negro não vir garantidos os seus direitos de cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a abalar os alicerces da nossa Nação até que nasça o radioso dia da justiça”
Em 04.04.1968, foi assassinado por James Earl Ray, um racista branco, na cidade de Memphis. Dias depois da sua morte, o presidente americano Lyndon Johnson assinou uma lei que acabava com a discrimi-nação racial.
Em 1983, quinze anos depois da sua morte, foi criado um feriado nacional nos EUA para homenagear Martin Luther King, o chamado Dia de Martin Luther King e que passou a ser sempre na terceira segunda-feira do mês de Janeiro, data próxima do seu aniversá-rio. Em 1993, pela primeira vez, o feriado foi cumprido em todos os estados do país.
Luther King recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1964. Tinha apenas 35 anos de idade, tornando-se as-sim na pessoa mais jovem a receber esse Prémio.
A história reserva para Marthin Luther King o lugar do maior líder negro na história americana que lutou pela conquista da dignidade dos negros. E passados 44 anos desde seu célebre discurso, o sonho de um mundo mais justo para todos continua vivo!
Hermenegildo Teotónio
F i g u r a e m D e s t a q u e

9Nº 06 / Março 2010
C o n s t r u i n d o
Para Aristóteles, a justiça deve ser a base das relações na “polis” (cidade) e com ela assegurar-se a participação de todos os cidadãos na gestão do que é de todos, a “res publica” (coisa pública), o que, aliás, só é pensável em democracia.
O Homem, enquanto ser eminentemente social, tem a Justiça como um direito natural e inalienável, sendo hodiernamente, nos estados constitucionais, tanto o direito à Justiça como o direito ao acesso à mesma um direito humano fundamental, entendendo-se, pois, como direito fundamental todo aquele que, pela sua importância e dignidade, encontra consagra-ção destacável nas constituições políticas dos Esta-dos.
Chegados, à modernidade, ao sistema de justi-ça pública, em substituição, da justiça privada, a re-alização da justiça, tornou-se monopólio do Estado, cabendo a este, por via de regra, a sua execução, embora subsistam resquícios justificados do sistema anterior para acudir o particular carecido, em situa-ções excepcionais e concretas, quando o recurso à força pública em tempo útil possa pôr em causa a própria realização da Justiça.
Ora, sobre o acesso à Justiça em Angola, várias perguntas se colocam.
Tem o cidadão comum conhecimento efectivo desta realidade? E por outro lado, tem a grande maio-ria dos cidadãos recursos financeiros para de modo relativamente célere, ter acesso à Justiça, sempre que necessário? Tem o Estado legislação bastante para regular e acautelar todas estas situações? Tem o Estado disponíveis e suficientes recursos financei-ros, humanos e materiais (infra-estruturas, tribunais e instituições policiais) que permitam aos contribuintes facilmente aceder aos serviços da Justiça? Têm os funcionários dos cartórios dos tribunais, instrutores e
O ACESSO À JUSTIÇA EM ANGOLA: QUE DESAFIOS?
investigadores afectos à Investigação Criminal pre-paração técnica bastante para executarem as suas atribuições?
Uma juíza, num tribunal, tendo encontrado o sig-natário, por sinal Advogado, a conferenciar com o es-crivão sobre um processo a consultar, de modo pou-co cordato, impediu-o alegando que o Advogado não tinha procuração nos autos. Ora, Advogado tem de ter procuração nos autos para os consultar? Parece-nos que não, e a resposta pode ser encontrada na conjugação das disposições do artigo 193º da CRA - Constituição da República de Angola que estabe-lece a advocacia como uma instituição essencial à administração da Justiça. Sem uma advocacia exerci-da por profissionais independentes, não há Justiça. A resposta pode também ser encontrada na disposição do artigo 168º do CPC - Código de Processo Civil (ou ainda nas leis especiais, como o artigo 72º e 73º do CPP - Código de Processo Penal), onde se consagra que a consulta de processos pendentes ou arquiva-dos por profissionais forenses, na secretaria, é livre, exceptuando os processos de divórcio, anulação de casamento e impugnação de paternidade. Todos os demais processos podem livremente ser consultados, e pensamos nós que, con-trariamente a uma hipotéti-ca falta de interesse directo comummente aludida quer pelos funcionários do car-tório quer por magistrados, sejam estes judiciais ou do Ministério Público, os pro-fissionais têm sempre um interesse igual ou até mes-mo superior ao directo,
F i g u r a e m D e s t a q u e

10Mosaiko
informMosaiko
c o n s t r u i n d o
As palavras do
juiz, além de sim-
ples e sinceras
encerravam so-
bretudo uma for-
ma distinta, diria
mesmo notável de
olhar a advocacia
como um contri-
buto inestimável
ao exercício do Di-
reito ao acesso à
Justiça.
um interesse profissional pois, não se aprende ape-nas com a própria experiência, mas também com as dos demais.
Lamentável são aqueles, muitos dos quais nos-sos colegas de carteira até à formatura, que che-gando à magistratura, manifestam, até mesmo em desrespeito à Constituição e à lei, uma doentia e inexplicável aversão aos advogados, buscando pelos mais diversos meios, obstaculizar o exercício pleno da advocacia, inviabilizando, claro está por essa via, em última análise e na verdade o próprio acesso à Justiça e ao Direito. Afinal a causa pela qual lutamos é exactamente a mesma, a Justiça.
Se tais constrangimentos são vividos até mesmo pelos advogados, fácil será, pois imaginar as contra-riedades vividas pelos cidadãos.
A uma semana atrás uma cliente ligou-me às 21 horas, aflita porque o marido, que para além de insultá-la, proferiu ameaças de morte, sendo aliás portador de uma arma, posse certamente ilegal, tinha corrido com ela e com os 3 filhos menores. Pedi-lhe que se acalmasse, que iria ao seu encontro, para em seguida apresentar queixa à polícia, para que aquela em observância da lei (artigos 5º, 6º/1 e 7º da Lei nº18-A/92, de 17 de Julho, a lei da prisão preventiva em instrução preparatória), prendesse o infractor.
Alegando que era noite, furtou-se a polícia de efectuar a prisão do infractor tendo na ocasião pro-metido fazê-lo no dia seguinte, manobra cobarde e dilatória que se veio a revelar depois, manifestando claramente ignorância gritante da lei da prisão pre-ventiva e, mais grave, dos crimes em presença. Já o instrutor de serviço, por sinal estudante do 4º ano do curso de Direito, como ele mesmo nos revelou, com a falsa alegação de que o crime não era doloso e que era particular, fundamentos bastantes em seu enten-der para não se prender o infractor, quando o que na verdade ficou demonstrado era uma deprimente ig-norância das suas competências e atribuições tendo igualmente ficado claro o desconhecimento da tipifi-cação dos crimes de exposição e abandono de infan-te (artigo 345º do CP - Código Penal), o de constran-
gimento de menor a abandonar a residência dos pais (artigo 343ºdo CP), o agente da polícia, que diz ser instrutor processual há mais de 20 anos, mostrou não saber que quando um pai expulsa os filhos de casa, sendo esses menores, assume pois condutas típicas previstas e puníveis nos termos acima referidos.
Não gostaria de terminar, aliás não seria justo ter-minar, sem referir também alguns aspectos positivos que se assistem nos nossos Tribunais e obviamente ligados ao tema em abordagem, como quando, pela primeira vez, o signatário fez uma defesa forense no Tribunal Provincial do Kuanza-Sul o presidente da sessão, por coincidência o presidente do Tribu-nal, dirigiu ao defensor palavras simpáticas dizendo: “Temos felizmente nesta sessão como advogado de
defesa, um profissional que, embora estagiário, vai
certamente, marcar a diferença” no final congratulou-se o meritíssimo juiz de direito porque realmente o signatário havia feito diferente do habitual, pois o réu detido há mais de um ano veio a ser absolvido por-quanto o crime não havia sido cometido por ele mas pelo irmão.
As palavras do juiz, além de simples e sinceras, encerravam sobretudo uma forma distinta, diria mes-mo notável de olhar a advocacia como um contributo inestimável ao exercício do direito ao acesso à Justi-ça cuja consolidação passa resumidamente por uma profunda reforma dos serviços que directamente in-tervêm na administração da Justiça, nomeadamente os afectos aos Tribunais e à Polícia mormente a de Investigação Criminal, sem esquecer as Conservató-rias, os Serviços Notariais, etc, a divulgação da lei que regula a assistência judiciária, o Decreto-Lei nº 15/95 de 10 de Novembro, a recuperação da figura do Juiz de Instrução e o separar das águas entre o Ministério Público fiscalizador da legalidade e Ministério Público titular da acção penal, bem como a qualificação ou a capacitação dos respectivos recursos humanos, a criação de condições dignas de trabalho que se po-dem colocar ao serviço do cidadão para a promoção
do seu bem estar social, cultural e material.
Dr. Miguel Pessoa

11Nº 06 / Março 2010
c o n s t r u i n d o c o n s t r u i n d oDe que falamos quando falamos
de Justiça: Tipos de Justiça
Questionando-se sobre o que seja a Justiça, de-certo que, em qualquer mente, ocorre a impressão de anterioridade e a universalidade de sua petição, porque a Justiça, propõe-se sob o aspecto de espe-rança frustrada, exigência revigorada por uma cons-tatação de injustiça, denunciada como escândalo que clama por julgamento.
A Justiça corresponde a uma das mais antigas aspirações do Homem, em todas as sociedades, para lá da sua organização ou do seu sistema, por-que o Estado, sempre se constituiu baseado na fun-ção da Justiça, tanto assim é que na Antiga Grécia, a função da Soberania, teve um papel comparável ao que se manteve nas grandes Civilizações do Médio Oriente, em que o Rei, mantendo um vínculo com os deuses, esse vínculo fazia dele um “mestre
de Justiça”.A elaboração conceitual da noção da Justiça,
relaciona-se com a emergência da razão através dos processos judiciários da Grécia Clássica.
O julgamento, na Grécia Clássica, era inicial-mente a consequência da conclusão deduzida de uma formalização de mate-riais de inquérito, antes de ser analisado pelos filósofos na sua única dimensão lógi-ca, ou antes que se ques-tionassem sobre a questão da essência dos valores que implicam julgamento de avaliação, particularmente moral.
Essas avaliações não partiam de um conhecimen-to claro do que seja a Jus-tiça, foram antes de tudo, as trevas e a amargura das situações ou dos acontecimentos, que ferem a alma humana, que traçaram o caminho de uma re-flexão sobre o que é a Justiça, à qual, os Homens aspiram.
Portanto, é a injustiça, experiência mais comum dos Homens, que suscitando revolta, faz nascer o
sentimento de Justiça, e daí que, não há que haver surpresa, face a dificuldade em determinar e estabi-lizar o conceito de Justiça, porque provém de um jul-gamento meditativo ficticiamente corrector de uma situação de iniquidade.
O conflito entre as diversas concepções de Jus-tiça, remonta à Antiguidade. Platão observou que o desacordo dos Homens, no que diz respeito ao que é justo ou injusto, é tal que eles são capazes de se matar. Aristóteles considera que as querelas em torno de um conceito de Justiça colocam-no diante
do desafio de efectuar uma análise filosófica sobre o bem e o justo.
Enfim, os Séculos e os Sistemas políticos sucedem-se e os Homens nunca estão de acordo sobre a justiça que gostariam de promover. Não se encontra consenso, mes-mo na mais profunda reflexão, os filósofos não chegam a um acordo sobre os princípios da
Justiça e os Juristas ficam sempre tentados pelo Positivismo que corta o nó górdio entre o Direito e o Facto em beneficio do estado das coisas. E daqui resulta que haja da Justiça:1. Justiça distributiva, em que as representações
parecem ser o ideal, é algo como um esquema que é emprestado ao Registo da Partilha, da distribuição, tendo-se as partes na igualdade,

12Mosaiko
informMosaiko
c o n s t r u i n d o
O conceito de
Justiça, envolve
uma normativida-
de estabelecida e
normas instituí-
das, sem as quais,
a coexistência
humana, é aban-
donada ao caos.
Desse modo, a
questão da Justi-
ça, convida-nos
à uma reflexão
sobre a ética e
sobre as maneiras
de viver e de agir,
desembocando
na instauração de
regras de vida.
igualdade das relações ou proporções, de modo que a cada um, aquilo que é seu (função distri-butiva da justiça).
2. O Gládio e a Balança, dois pesos, duas medi-das, símbolo da justiça herdado do Egipto Anti-go. A balança sugere que a medida e o equilíbrio são seus atributos eficientes acompanhados do gládio que se abate sobre aquele que compro-meta a paz, que a lei faz reinar. A justiça, é apre-sentada como uma virtude individual e depois é apresentada como qualidade das estruturas básicas de uma sociedade concebida como pro-cesso distributivo. O senso comum compara a Justiça, à qualidade, mas também é tida como algo que se exprime na decisão judiciária e diz-se, “a Justiça é feita”, como se a pena aplicada ao culpado, restituísse o equilíbrio que o crime rompeu. Ainda, a Justiça é tida como um poder, exercido por aquele que é encarregado de per-severar o direito de cada um e diz-se, “a Justiça
decidirá”. Ainda, a Justiça é tida como Institui-ção, uma administração, tribunais onde a Jus-tiça é aprendida, sendo o Ministério da Justiça, a Instituição que carrega variados Sectores aos quais se indigita a mediação jurídica (Justiça Ju-diciária).
3. A Justiça, relacionada à prática Social, pressu-põe o conceito de um direito Supremo, de uma obrigação absoluta a respeito da humanidade de cada um, inclusive dos criminosos, têm direito à defesa, sendo conceito condutor de Justiça o de não tomar a violência e o arbítrio como principio de comportamento ou como argumento. Nesse sentido, a Justiça contêm um grau de norma-tividade Suprema e esse grau qualifica-se de “moral” no sentido estrito do conceito, ideal nor-mativo que permite julgar e criticar o poder polí-tico, Instituição encarregada de fazer respeitar a legalidade. A Justiça é tudo isso e muito mais.
Entretanto, nesses moldes, vêm-se escalpeliza-das a virtude de Justiça, a Justiça social, a Justiça política e a Justiça Judiciaria. A polissemia do termo “Justiça” indica que com essa noção, encontrar-nos-emos diante de um jogo decisivo para a existência humana. Trata-se de restituir a cada um aquilo que lhe é devido de maneira a estabelecer ou restabele-cer uma igualdade, uma simetria quebrada. Trata-se de reivindicar algo, de encetar processos em tribu-nais ou de reconhecer a rectidão ética e coragem dos “Justos” em tempos difíceis, tempos cheios de terror, em que a Justiça se põe em questão, como virtude excelente.
O conceito de Justiça envolve uma normativida-de estabelecida e normas instituídas, sem as quais a coexistência humana é abandonada ao caos. Des-se modo, a questão da justiça, convida-nos a uma reflexão sobre a ética, que é o estudo normativo so-bre os bons costumes, reflexão sobre as maneiras de viver e de agir, desembocando na instauração de regras de vida.
A Justiça depreende-se ainda da sede do justo que o Homem sente no seu coração, na expectativa de reparação dos danos sofridos, uma necessidade que está além do desejo de vingança; exigência da inteligência ávida de saber quem é o culpado, onde está o mal; porque a razão apaixona-se pela clareza e escandaliza-se com o facto de os culpados não serem castigados, indignando-se quando a verdade é dissimulada.
Por isso, eu concordo que a Justiça tem como tarefa fundamental encontrar o equilíbrio entre os interesses conflituantes, proferindo o direito de cada um e remetendo os Homens à uma co-responsabili-dade relativa à sua própria organização real, já que a Justiça deve almejar o bem comum, levando em consideração os interesses de todos, sem excepção, tendo em mira um bem que transcenda a particulari-
dade de cada um para dar vida à comunidade.
Juiz Francisco Bernardo

E n t r e . . . v i s t a
13Nº 06 / Março 2010
MI. O que é a Comissão Mista dos Direitos Huma-nos do Kwanza Norte?
PD. A Comissão é uma Associação de âmbito provín-cial cujos Estatutos foram publicados aos 13 de Abril de 2009 no Diário da República. O objectivo geral é divulgar e promover os Direitos Humanos no Kwanza Norte, colaborar com os diferentes sectores da sociedade para a promoção da convi-vência social pacífica e encaminhar casos de vio-lação dos direitos fundamentais às autoridades competentes e acompanhar a sua tramitação.
MI. Quando é que foi fundada e quem é que esteve envolvido nesse processo?
PD. A nossa Comissão foi fundada em 1999, após a realização de um seminário, na Paróquia S. João Baptista de Ndalatando, conduzido pelo Centro Cultural Mosaiko sobre o tema da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A iniciativa foi do CCM com o qual estavamos em contacto através dos estagiários enviados pelo ICRA- Educadores Sociais. Esses Educadores Sociais formados no ICRA começaram a estagiar na nossa Paróquia a partir de 1997, especialmente na área da alfa-betização, mas com muita abertura à dimensão dos Direitos Humanos. No primeiro seminário de Abril 1999 participaram 78 convidados, na maio-ria quadros tanto do Governo Provincial, como do Ministério do Interior, do Tribunal, das Autorida-des Tradicionais e Religiosas e mais Professo-res, Catequistas e Jornalistas. Depois de cinco dias de estudo sobre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a assembleia decidiu, com um certo entusiasmo, criar uma Co-
missão que continuasse o estudo, e sobretudo se preocupasse em fazer conhecer esta mesma DUDH. A Comissão com os seus 15 membros fundadores chamou-se Comissão Mista dos Di-reitos Humanos. “Mista”, em consideração à di-versidade dos seus membros vindos de diversas Igrejas. O primeiro presidente eleito fui eu, Padre Bernardo Duchêne, pároco da Paróquia S. João Baptista, o vice-presidente, o Reverendo Pastor Afonso Zumu, Superintendente da Igreja Metodista Uni-da em Ndalatando. Os membros, tanto os da direcção como os outros, eram todos pessoas adul-tas com responsabilida-de profissional, apenas dois ou três eram jovens estudantes, e uma reli-giosa, a Irmã Julieta da Congregação JMJ, ficou como Secretária da Co-missão. O contexto de guerra não facilitava o trabalho das nossas reu-niões quinzenais e muitos membros foram-se afastando, a começar pelos jornalistas. Ainda que só com o estudo da DUDH e da sua presença nos artigos da Lei Constitu-cional o impacto era discreto; era frequente ouvir, mesmo com uma certa reserva já, que em tem-po de guerra não há Direitos Humanos. Contu-
c o n s t r u i n d oA Comissão Mista dos Direitos Humanos do Kwanza Norte (CMDHKN) foi criada em 1999, na sequência de um Seminário de Formação sobre Direitos Humanos que foi orientado pelo Cen-tro Cultural Mosaiko, a pedido do pároco da Sé Catedral. Nascida em contexto de guerra, foram muitas as dificuldades encontradas pela Comissão para levar a cabo a sua missão: promover os Direitos Humanos no Kwanza Norte. Mas nunca desistiu. E em 2009, data em que a Comissão comemorou 10 anos de existência, os seus estatutos foram publicados no Diário da República. Para saber mais sobre as actividades da CMDHKN, o MI entrevistou o seu presidente, o padre Bernard Duchêne(PD).

PERFIL DE
Pe. Bernard Duchêne
É natural de Baugé, Fran-
ça. Fez a licenciatura em
Teologia, na Universidade
Gregoriana de Roma, entre
1965 e 1969.
Trabalhou nos Camarões
(1969-1972), em França,
(1972-1976) e desde 1977
está em Angola. Assumiu a
paróquia da Sé Catedral
de Ndalatando em 1995
até à actualidade. É mem-
bro fundador da Comissão
Mista de Direitos Huma-
nos do Kwanza Norte na
qual ocupa o cargo de Pre-
sidente.
14Mosaiko
informMosaiko
do, um dos membros, o hoje falecido Francisco Correia, Secretário do Governador, conseguiu levar uma comitiva constituída por membros do Governo Provincial e Municipal a realizar uma visita à Comarca de Ndalatando para inteirar-se das condições de vida dos detidos; o resultado foi o envio pelo MINARS de colchões e outros bens aos detidos.
MI. Quais são as principais actividades da Comis-são para alcançar os seus objectivos?
PD. Durante os primeiros anos o esforço era orienta-do para o conhecimento e a divulgação da DUDH com as suas referências na Lei Constitucional. Em paralelo, o esforço para entender um pouco o funcionamento da Justiça porque as queixas eram muitas. E aqui destacamos o Seminário so-bre os mecanismos legais de defesa dos Direitos Humanos com o jurista Bessa. Este seminário foi repetido por diversos Juristas, mormente Lima de Oliveira e Lemos. Palestras foram feitas na Co-marca e nos Municipios e no Hospital Provincial, bem como por um debate de duas horas na Rádio Provincial... Outra actividade simples mas bem acolhida e eficaz: a distribuição do calendário de parede editado pelo Mosaiko e pela ADRA sobre os Direitos Humanos aos Comandos da Polícia, aos Governos Provincial e Municipais, ao Minis-tério do Interior, ao Tribunal, Procuradoria, DPIC, Escolas etc ... Logo no princípio, assumimos a tentativa de defender detidos que nos pareciam terem qualquer motivo para ser ajudados, o que rapidamente exigiu o apoio de um advogado esta-giário. A primeira foi uma Senhora, a Dra Celmira, depois o Dr. Afonso Mbinda, o Dr. Eugénio, o Dr. Pessoa e, ultimamente, as Dras Flora e Faustina.Há a assinalar também a tentativa de programa na Rádio Provincial sobre os trâmites da Justiça, mas deu muito pouco porque era em parceria com o pessoal da Procuradoria e do Tribunal, que di-ficilmente encontra tempo para esse serviço. Em geral, estávamos mais ou menos bem sucedidos. O melhor foi conseguir, pela perseverança do Dr.
Afonso Mbinda, tirar da comarca dois detidos que tinham cumprido a sua pena havia mais de 18 meses. Outros casos depois de dois, três e mais anos não tiveram solução até hoje.
MI Quais são os casos que a CMDH acompanha e em que fórum?
PD. Os casos tratados são excesso de prisão preven-tiva, procura de liberdade condicional, negligência médica, feitiçaria, pequenos furtos, homicídios, litígio habitacional, terrenos, prisão arbitrária. A Comissão acompanha, faz-se presente no dia do julgamento e em alguns casos participa no pro-cesso, há queixas apresentadas à Procuradoria, há intervenções junto da DPIC.
MI. Quais são os critérios de selecção dos ca-sos?
PD. O grande critério é o sentimento de frustração que pode ter o detido ou a sua família perante a situação na qual ele se encontra. É por isso, que queremos um acesso bastante fácil à Comarca para podermos ouvir o detido e, eventualmente, convencê-lo a se conformar se tudo parece legal. Só podemos propôr a nossa intervenção quando a pessoa está sem recurso financeiro ou huma-no para se defender. Nos casos de acusação de violação gostaria que fossemos mais presentes porque há perigo que a acusação seja, às vezes, logo uma condenação.
MI Tem havido morosidade na resolução dos ca-sos que encaminham às autoridades?
PD. A maior dificuldade com a qual nos deparamos é na DPIC, é lá onde parece nascer o maior sen-timento de frustração, em particular por pessoas analfabetas que se queixam de não terem sido ouvidas ou que não foram tomadas em considera-ção. Depois, as declarações da DPIC chegam ao Juiz como verdades, certezas. Há outros casos que mesmo sem serem arquivados vão se per-der no silêncio e no esquecimento. Se a lentidão pode ser uma virtude da Justiça, às vezes pode aparecer como pretexto para enterrar casos. Ou-tras vezes somos reenviados da Comarca para o
e n t r e . . . v i s t a

15Nº 06 / Março 2010
Tribunal e vice-versa, mormente quando se trata da famosa “cópia de sentença” para a liberdade condicional.
MI. Qual é a relação entre a Comissão Mista de Direito Humanos do Kwanza Norte e as Insti-tuições Públicas?
De maneira geral e isso desde a sua fundação em 1999, a nossa Comissão tem recebido bom aco-lhimento da parte dos órgãos estatais e podemos dizer compreensão e, muitas vezes, apoio para facilitar o nosso trabalho. Os mesmos órgãos a nível dos municípios do interior da Província reve-lam-se, às vezes, com desconfiança mas normal-mente conseguimos ultrapassar estas reacções. Certamente que a publicação no Diário da Re-pública dos Estatutos da CMDHKN é um “passe” para identificar os membros da Comissão na Sede e nos Municípios contribui para este clima de con-fiança. Todos os Seminários organizados desde há dez anos foram abertos pelo Governador ou por um dos seus representantes e em geral foram facilitados pelo Governo. A Segunda Conferência Provincial da Sociedade Civil do Kwanza Norte, realizada em 2009 teve o apoio do Governo Pro-vincial, do qual recebemos uma verba.
MI. Como tem sido a relação com a Igreja local e as Organizações da Sociedade Civil? Quais são os desafios que antevê nesta relação?
Com a Igreja Católica, pelo menos com o seu Bispo Dom Almeida Kanda, as relações são exce-lentes. Com as outras Igrejas poderiam ser mais intensas. Mas encontramos a mesma dificuldade com a Igreja Católica, poderia ter mais cristãos comprometidos sobretudo na Comissão da Sede, Ndalatando. Desde 2008 é a nossa Comissão que reúne as várias Associações e ONG da Pro-víncia para preparar a Primeira e depois a Segun-da Conferência Provincial da Sociedade Civil e a Sub-Comissão de Dondo/Cambambe foi escolhi-da para preparar, no Dondo, a Terceira Conferên
cia Provincial da Sociedade Civil este ano.
MI. Que mensagem deixa para as pessoas que tra-balham para que haja mais justiça?
PD. Se me permitem, gostaria de transmitir a meto-dologia da CMDH : “Dar a conhecer e, na medida do possível, dá-la a conhecer às próprias auto-ridades que deveriam ser, por norma, os seus primeiros defensores, já que estes Direitos se encontram na Lei Constitucional. Anunciar esses Direitos Humanos, não como grito de vingança, mas como proclamação de uma boa nova que ilumina e reconforta, muitas das vezes em primei-ro lugar, os encarregados de fazer aplicar a Lei porque reconhecem que poderiam fazer respeitar a Lei sem se atirar, em nome da autoridade que detêm, à violência e outras violações dos direitos da pessoa humana e, assim agindo, respeitar os direitos da pessoa humana, obedecendo à Lei. Neste sentido, o descobrir como a DUDH está na Lei Constitucional liberta a consciência de quem quer agir bem. Esta descoberrta, tomada de cons-ciência, alegra e reconcilia o cidadão que supor-tava passivamente as violações dos seus direitos e os do vizinho, porque, por ignorância, tinha um olhar pessimista e resignado sobre a realidade.
MI. Qual é o reconhecimento da Comissão pela população e as autoridades do trabalho de-senvolvido no meio local?
PD. Fomos convidados duas vezes a participar na reunião trimestrial da” Família da Justiça” do Kwanza Norte, convidados em 2007 para a elabo-ração dos Relatórios dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos de Angola, orientada pelo Ministério das Relações Exteriores; convidados nos CACS Municipais e no Provincial.
Quanto ao Povo em geral, podemos medir o seu conhecimento da CMDH KN e o impacto desta na vida social da Província pelo facto de que sempre há quem venha recorrer aos nossos serviços para assuntos que dizem respeito à Justiça, mesmo se
muitas vezes não conseguimos grande coisa.
Mónica Guedes
e n t r e . . . v i s t a e n t r e . . . v i s t a
Anunciar esses
Direitos Huma-
nos, não como
grito de vingança,
mas como procla-
mação de uma boa
nova que ilumina
e reconforta os
encarregados de
fazer aplicar a Lei
porque reconhe-
cem que poderiam
fazer respeitar a
Lei sem se atirar,
em nome da auto-
ridade que detêm,
à violência e ou-
tras violações dos
direitos da pessoa
humana.

R e f l e c t i n d o
16Mosaiko
informMosaiko
r e f l e c t i n d o
Somos Seres Humanos, portadores de direitos e deveres dentre eles o direito à Justiça nas suas mais variadas nuances: conhecimento, acesso, exercício, protecção … que fazem dele um direito cívico, um direito de cidadania, um direito de que tanto se pode usufruir como abdicar.
Partindo do princípio que a constatação supra é verídica constatamos que não basta termos cons-ciência que devemos recorrer à Justiça para fazer valer os nossos direitos, tem de haver no outro pólo, e como responsabilidade do Estado, enquanto órgão que age em representação dos cidadãos politica-mente organizados, a obrigação de criar condições de índole política, legislativa, judicial, administrativa, humana, técnica, material, financeira, etc. que não só atestem a natureza básica de tal direito como per-mitam ao cidadão aceder à Justiça e sentir que ela é eficaz ao realizar e assegurar os seus direitos.
Questionamo-nos: quem tem afinal responsabi-lidades no acesso à ustiça? O Estado? O Cidadão? Ambos porque estão irremediavelmente ligados, os dois caminham juntos, um (Estado) em regra só ac-tua se for accionado pelo outro (cidadão), ou um (Es-tado) presta um serviço de qualidade quanto mais for accionado e subsidiado pelo outro (cidadão), ou ain-da um (Estado) só é accionado pelo outro (cidadão) na medida em que conheça os seus órgãos, os sinta próximos de si e neles confie; até naqueles casos em que se diz que o Estado é o dono da acção e pode realizá-la lançando mão do seu poder coercivo (ex: nos crimes públicos) tem de contar com os subsídios
e colaboração dos cidadãos sob pena de ficar sem elementos suficientes para decidir o que é bom e o que não é, o que é justo e o que não é, enfim, sob pena de ficar sem elementos para fazer justiça.
Continuando, afirmamos ser responsabilidade do Estado aproximar cada vez mais as instituições de Justiça dos cidadãos, desburocratizá-las, torná-las céleres de tal modo que o recurso às mesmas não seja sinónimo de perda de tempo, desgaste físico, emocional e quiçá patrimonial para os cidadãos a ponto destes abdicarem desse direito básico; é ain-da responsabilidade do Estado garantir que o acesso à Justiça seja feito de modo contextualizado às ne-cessidades reais dos cidadãos e do país a ponto de encontrar formas alternativas legalmente aceites de fazer justiça que sejam eficazes na salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos sempre que haja efectiva ou se esteja na eminência de violação dos mesmos.
Quanto à nós recorrer, aceder, accionar os ór-gãos de Justiça sempre que for necessário fazer va-ler os nossos direitos responsabiliza-nos e muito pois só assim, para além de salvaguardarmos as nossas legítimas expectativas, defenderemos o direito ao acesso à Justiça, elevando-o sempre e bem alto a padrão de direito fundamental, essencial, básico e por isso constitucionalmente consagrado.
Concluindo, quanto mais recorremos e acedemos à Justiça, accionando os órgãos vocacionados para o efeito - Polícia, Procuradoria, Tribunais, Provedoria, … - mais o Estado melhora a qualidade dos serviços prestados nessa área, serviço esse que, para além de ser visto e sentido pelo cidadão, porque próximo a si, actuará pedagógica e preventivamente evitando o recurso à justiça privada, a práticas costumeiras atentatórias da dignidade e direitos da pessoa hu-mana, a falta de transparência, etc. Pelo que, exor-tamos: queremos ter acesso à Justiça? Recorramos
a ela.
Dra. Elizete da Graça
O Estado, en-
quanto órgão que
age em representa-
ção dos cidadãos
politicamente or-
ganizados, tem a
obrigação de criar
condições de ín-
dole política, le-
gislativa, judicial,
administrativa,
humana, técnicas,
materiais, finan-
ceiras, etc.
As responsabilidades do Estado e do Cidadão
no Acesso à Justiça

R e f l e c t i n d o
17Nº 06 / Março 2010
r e f l e c t i n d o
Relativamente ao acesso à Justiça surpreende-
se, no novo quadro constitucional e não só, um dis-
tanciamento entre o acesso à Justiça consagrada
e pretendida e a prática recorrente dos agentes e
fazedores do Direito e garantes da Justiça e do seu
acesso. O quadro constitucional angolano consa-
gra o “Direito a julgamento justo e conforme” (artigo
72.º), “direito de petição, denúncia, reclamação e
queixa”(artigo 73.º), “Direito de acção popular” e se
vê complementado na DUDH(1) (artigos 10.º e 11.º
n.º 1), no PIDCP(2) (artigo 14.º), e na CADH(3) (ar-
tigo 7.º).
Assim, do ponto de vista da teoria, temos uma
consagração substantiva do direito à Justiça e
aquelas disposições da CRA(4) fazem parte de um
todo, quando conjugados com o conteúdo do arti-
go 67.º também da CRA, aplicável mutatis mutandi
a todos os processos independentemente da sua
natureza. As garantias fundamentais de processo
saíram reforçadas e com elas os mecanismos de
salvaguarda do direito à Justiça.
Não nos restam dúvidas de que o quadro
jurídico-constitucional está, quanto ao acesso à
Justiça, conforme o exigido universalmente, não
obstante faltar a consagração expressa do princí-
pio do acusatório, corolário da imparcialidade dos
Tribunais e dos Juízes, que pressupõe uma fase
de investigação dominada pelo Ministério Público,
em que se define o objecto do processo e uma fase
de julgamento dominada pelo Juiz, impondo uma
separação funcional entre o MP e o Juiz
e entre o Juiz da pronúncia e o Juiz da
causa. A garantia de que o Juiz de julga-
mento não esteja implicado na definição
do objecto do processo é conatural a im-
parcialidade do próprio Tribunal. O prin-
cípio do acusatório representa, pois uma
concretização constitucional do princípio
da imparcialidade do Tribunal, apesar de
se poder extrair do disposto do predito
artigo 72.º da CRA.
À margem do quadro jurídico-cos-
titucional e das normas ordinárias, an-
teriores à CRA, que irão reclamar uma
reforma, existe uma praxis e um modus
operandi que ficam aquém do desejado,
nomeadamente:
1. Uma mentalidade judicial e judiciária virada e
“formatada” para a presunção da culpa. Tradu-
zindo-se em detenções, prisões e condenações,
que violam o princípio da verdade material e do
corpo de delito, fundadas apenas na convicção
de que quem instruiu o processo fê-lo tão bem
Acesso à Justiça em Angola
1 Declaração Universal dos Direitos Huma-nos.
2 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
3 Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
4 Constituição da República de Angola.

r e f l e c t i n d oque ao arguido cabe provar o contrário e um
“comodismo investigativo” do Juiz da causa
quer na sindicância da instrução preparatória,
quer na quase ausente “ousadia” para requer
vistorias, exames e perícias na maioria dos ca-
sos;
2. Ausência marcada na instrução de processos
relativos às arbitrariedades dos “agentes” da
administração pública na concessão de terre-
nos e a consequente expropriação, despejos
e demolições sem causa e fundamento legais
e desacompanhada da competente compensa-
ção;
3. Deficiência funcio-
nal dos Tribunais,
quer por exigui-
dade de Magistra-
dos, quer pela au-
sência efectiva de
Tribunais. Despro-
porção percentual
entre o número
de Tribunais para
cada percentagem
de habitantes. Au-
sência efectiva de
Tribunais em qua-
se toda a extensão
territorial do país,
caracterizado pela
“capitalização” dos
Tribunais, o que impede que cidadãos residen-
tes nas circunscrições administrativas distantes
das capitais provinciais ignorem a existência de
Tribunais que assegurem os seus direitos e le-
gítimas expectativas.
4. Surdina dos Magistrados competentes para
abrir inquéritos e apurar a veracidade das in-
formações veiculadas por denúncias populares
através dos distintos órgãos e meios de comu-
nicação;
5. Uma (in)consciência popular de presumir que
uma pretensa denúncia nos meios de comuni-
cação social sirva para defender as suas legíti-
mas expectativas.
Tudo isto faz-nos depreender que, sendo o Di-
reito uma ciência prática, estuda o ordenamento ju-
rídico na perspectiva da positividade; tendo em vista
a intencionalidade normativa, interpreta as normas
vigentes, elabora conceitos e ordena-os com o fim
de resolver os casos concretos. É a via da dogmá-
tica jurídica que indica e deve presidir a qualquer
ilação sobre “o que é”. Entretanto esta dogmática
bem concebida contrasta, no ordenamento jurídico
angolano, com o distanciamento efectivo do aces-
so à Justiça, o que nos permite concluir que há,
na prática, uma efectiva fragilidade no acesso à
Justiça.
Dr. Benja Satula
Mosaikoinform
Mosaiko18

r e f l e c t i n d o r e f l e c t i n d oUm dos maiores pilares para o crescimento de
qualquer país é a educação dos seus cidadãos. Sendo um aspecto multifacético, a educação abrange mais do que a instrução propriamente dita, ela deve ser global, e como traço fundamental temos a educação cívica e jurídica dos cidadãos.
Em Angola, a educação moral e cívica e principal-mente o conhecimento básico dos direitos e deveres do cidadão pelo próprio, ainda é muito fraco. Este fac-to deve-se não só à falta de pessoal qualificado para formar e fazer face a um nível de exigência educacio-nal tão grande, como também ao deficiente acesso a algumas aldeias e comunidades, à língua, bem como particularidades inerentes aos diferentes povos exis-tentes (factor cultural), o que leva maioritariamente à inexistência de cultura “cívico-jurídica”, entre nós.
Ao longo dos anos, o Centro Cultural Mosaiko (CCM) foi crescendo e marcando passos. Claro que tem enfrentado vários obstáculos. Considerado como um dos principais veículos na transmissão das men-sagens, a barreira linguística, ultimamente, tem vindo a ser ultrapassada com a colaboração de tradutores locais.
Trabalhando em educação cívico-jurídica desde 1997, temos na bagagem centenas de seminários e palestras bem como outras participações de vária or-dem, várias publicações, tanto na língua oficial, como em línguas nacionais, a edição de documentos que dão um maior ênfase a transmissão da sua mensagem às populações. O CCM tem deixado a sua marca na sociedade angolana, e hoje é, um dos colossos em ter-mos de educação cívica e jurídica dos cidadãos.
Por outro lado, notamos que vai aumentando a responsabilidade social, não só do CCM, como tam-bém de outras organizações no sentido de levar estes conhecimentos às comunidades. Isto advém de um reconhecimento do grande trabalho que este organis-mo tem realizado, individualmente ou em conjunto com outras organizações, aumentando o seu espaço de abrangência. Assim se vão desbravando outros terre-nos e não são raras as vezes que se ouve dizer “nunca nos tinham dito isso”.
O CCM foi um dos primeiros, se não o primeiro or-ganismo a ter contacto com certas comunidades em
termos de orientação cívica e jurídica, e por isso temos a responsabilidade de fazê-lo bem, pois a questão da educação cívica pode tornar as pessoas agressi-vas à medida que se vão aperceben-do de determina-das realidades e da quantidade de direitos seus que têm sido violados. Mais do que formadores, somos hoje formadores de formadores, uma vez que, desde o seu surgimento, o CCM deu o seu contributo para a formação de várias pessoas individuais e colectivas que vão transmitindo o que aprenderam e vão incentivando outras pessoas a criarem o gosto pela cultura cívica e jurídica.
No sentido de ampliar o seu campo de actuação e melhor fazer chegar a sua mensagem, o Centro Cultu-ral Mosaiko tem publicado alguns manuais que servem de referência e reforço não só dos seus formadores mas de todas as pessoas interessadas em transmitir os conhecimentos cívicos e jurídicos. Podemos citar o manual de formação em Direitos Humanos, que serve não só de auxílio aos formadores do Mosaiko como já referimos, mas serve também de material de consulta para estudantes de Educação Moral e Cívica e estu-dantes de Direito. Outro grande passo dado no sentido de eliminar barreiras foi a publicação da brochura “ O cidadão e a política” que foi traduzida para várias lín-guas nacionais, aumentando e diversificando assim os seus destinatários.
Todo este trabalho é resultado de muito esforço e dedicação, pois, aquando do seu surgimento, em 1997, com apenas duas pessoas a trabalharem a tempo in-teiro e uma, a tempo parcial, nunca se pensou atingir os patamares que foram atingidos. Hoje podemos con-cluir que somos mais do que uma agulha num palheiro
em termos de educação cívica e jurídica.
Dra. Faustina Icaia
Nº 06 / Março 201019
O contributo do Mosaiko na formação
cívica e jurídica dos cidadãos

b r e v e s
Construindo Cidadania direitos Humanos
na sua rádio de Confiança
aos sábados das 08H30 às 09H30
No dia 1 de Setembro de 2009, foi enviado ao Alto Comissariado
da ONU para os direitos humanos, um relatório sobre a situação dos
direitos humanos em Angola elaborado por um grupo de 10 ONG’s e
associações de Angola.
A sessão aconteceu em Genebra- Suiça, no dia 12 de Fevereiro de
2010. Estiveram presentes diversos Estados com representação junto
do Conselho de Direitos Humanos, como a Santa Sé, oficiais do Alto
Comissariado para os Direitos Humanos e representantes dos relatores
especiais dos direitos humanos da ONU. Angola fez-se presente por
uma delegação sua.
Analisando o relatório do
Estado Angolano, a maior
parte dos países presentes
reconheceu os esforços em-
preendidos por Angola, entre
outros, na recuperação de in-
fra- estruturas sociais e eco-
nómicas, na consolidação da
paz e na normalização insti-
tucional, mas também reco-
nheceram várias violações de direitos humanos. Estas intervenções
basearam-se em grande parte nas informações disponibilizadas pelo
Estado angolano. No dia 10 de Junho do corrente ano, o Estado Ango-
lano vai pronunciar – se diante da Comissão de Direitos Humanos sobre
as recomendações e sugestões apresentadas pelos estados membros
nesta fase, aceitando-as ou recusando, no todo ou em parte.
A Constituição da República de Angola
de 2010 foi aprovada pela Assembleia Cons-
tituinte a 21 de Janeiro de 2010 e submeti-
da à apreciação do Tribunal Constitucional
que produziu o Acórdão nº 111/2010, de 30
de Janeiro de 2010. Este Acórdão permitiu
a correcção e a aprovação final da Consti-
tuição pela Assembleia Constituinte a 3 de
Fevereiro de 2010 e a assinatura do Presi-
dente da Assembleia Nacional. O Presidente da República promulgou-a a
5 de Fevereiro de 2010.
Esta Constituição contém 244 artigos e reparte-se em 8 títulos. Os
títulos, por sua vez, são divididos em capítulos e os capítulos em secções.
A Lei-Mãe de Angola está estruturada da seguinte forma:
> Título I - Princípios Fundamentais (artos 1º a 21º)
> Título II - Direitos e Deveres Fundamentais (artos 22º a 88º)
> Título III - Organização Económica, Financeira e Fiscal (artos 89º a 104º)
> Título IV - Organização do poder do Estado (artos 105º a 109º)
> Título V - Administração Pública (artos 198º a 212º)+
> Título VI - Poder Local (artos 213º a 225º)
> Título VII - Garantias da Constituição e Controlo de Constitucionalidade
(artos 226º a 237º).
> Título VIII - Disposições Finais e Transitórias (artos 238º a 244º)
Se, no título dos direitos fundamentais o novo texto constitucional tem
reunido consenso, o mesmo já não se diz da organização do poder polí-
tico.
Revisão PeRiódica univeRsal de angola
aPRovada nova constituição angolana
Cidadania aCtiVa PromoVendo os direitos Humanos
COM O APOIO:
Mosaikoinform
MosaikoUnião
Europeia
na rádio 2000
às Quartas-feiras, das 17H00 às 18H00