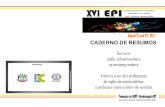Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
-
Upload
reverson-nascimento -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
1/164
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
2/164
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
3/164
II Encontro de Pesquisas Históricas PUCRS
O historiador e as novas tecnologias
Caderno de Resumos
26 a 28 de maio de 2015
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
4/164
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em História
II Encontro de Pesquisa Históricas – PUCRS
Coordenação: Prof. Dr. Marçal de Menezes Paredes
Comissão Organizadora
Ddo. Alexandre Pena MatosDdo. Cristiano Enrique de Brum
Dda. Débora Soares Karpowicz
Ddo. Fernando Comiran
Dda. Luciana da Costa de Oliveira
Dda. Luísa Kuhl Brasil
Ddo. Marcelo Vianna
Dda. Priscila Maria Weber
Mda. Wanessa Tag Wendt
Mdo. Rafael Saraiva Lapuente
Organizadores do caderno: Integrantes Comissão Organizadora II EPHIS Editoração: Marcelo Vianna, Cristiano Enrique de Brum
Crédito capa: Arte sobre fotografias – Holland House, Kensington, London, 1940 (English Heritage Collection); ativistae líder comunitária Olive Morris em protesto contra violência policial em Londres, 1972 (domínio público); “Pé ante pé” – trabalhadores na construção do Congresso Nacional, 1959 (Alberto Ferreira).
Observação: A adequação técnica e linguística dos resumos é de exclusiva responsabilidade dos autores.
Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Trilce Morales - CRB 10/2209
H673
O historiador e as novas tecnologias: caderno de resumos do II Encontro dePesquisas Históricas – PUCRS (26 a 28 de maio de 2015) / Marcelo Vianna, [et. al.](organizadores). – Porto Alegre: Memorial do Ministério Público do Rio Grande doSul, 2015.
160 p.; PDF
ISBN 978-85-88802-23-0
1. História 2. Novas tecnologias 3. Caderno de Resumos 4. História -Multidisciplinaridade I. Título
CDU 930
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
5/164
Apresentação
É com satisfação que apresentamos o Caderno de Resumos do II Encontro de Pesquisas Históricas
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (EPHIS – PUCRS) – “O historiador e asnovas tecnologias”.
Contando com mais de 230 trabalhos inscritos, para apresentação e publicação, a segunda ediçãodo Encontro – realizado entre os dias 26 e 28 de maio de 2015 - se consolida como importanteespaço científico dentro da Universidade, fortalecendo um diálogo acadêmico entre o Programa dePós-Graduação em História da PUCRS e demais Universidades brasileiras. Do mesmo modo, oevento vê fortalecido seu propósito de aproximação com os cursos de Graduação e, não obstante,com a comunidade de historiadores que vivenciam as salas de aula do Ensino Fundamental aoEnsino Superior.
Com organização do corpo discente do Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS, o IIEPHIS, a partir de sua Comissão Organizadora, agradece a todas e todos que compareceram aoevento e enviaram seus trabalhos. Compartilhamos o sucesso do II EPHIS/PUCRS e fortalecemos aintenção de expandir o evento tornando-o cada vez mais relevante para o debate, divulgação ecirculação das pesquisas históricas realizadas pelos jovens pesquisadores do país.
Comissão Organizadora
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
6/164
Sumário
Apresentação ........................................................................... 3
Conferências ........................................................................... 6
Simpósios Temáticos - Síntese ......................................................... 7
Resumos Graduados/Pós-Graduação ................................................. 9
ST 1 – IMAGENS E HISTÓRIA DA ARTE ............................................... 9
ST 2 – GÊNERO ...................................................................... 13
ST 3 – HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO ..................................... 18
ST 4 – CIDADES E SOCIABILIDADES ............................................... 22
ST 5 – IBERO-AMÉRICA: ESTUDOS E CONFLUÊNCIAS ............................ 25
ST 6 – ESTADOS UNIDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS ......................... 29
ST 7 – HISTÓRIA E EDUCAÇÃO .................................................... 32
ST 8 – HISTORIOGRAFIA E HISTÓRIA DAS IDEIAS ................................ 37
ST 9 – HISTÓRIA, MÍDIA E IMPRENSA ............................................. 43
ST 10 – HISTÓRIA E RELIGIOSIDADE .............................................. 48
ST 11 – FOTOGRAFIA E CULTURA VISUAL .......................................... 52
ST 12 – ACERVOS E NOVAS TECNOLOGIAS ........................................ 57
ST 13 – BIOGRAFIAS E TRAJETÓRIAS .............................................. 62
ST 14 – ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO ........................................... 67
ST 15 – ÁFRICA E AFRICANIDADES ............................................... 71
ST 16 – HISTÓRIA AGRÁRIA ........................................................ 78
ST 17 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA SAÚDE ...................................... 83
ST 18–
DESENVOLVIMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO ............................... 86
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
7/164
ST 19 – MUNDOS DO TRABALHO .................................................. 89
ST 20 – HISTÓRIA POLÍTICA ....................................................... 95
ST 21 – IMIGRANTES E IMIGRAÇÃO .............................................. 101
ST 22 – NACIONALISMO E REGIONALISMO ....................................... 104
ST 23 – DIMENSÕES DA GRÉCIA ANTIGA ......................................... 107
Resumos Graduandos ............................................................... 110
ST1 – EDUCAÇÃO, PRÁTICAS E ENSINO DA HISTÓRIA ......................... 110
ST2 – POSSIBILIDADES DE PESQUISA EM HISTÓRIA SOCIAL .................... 116
ST3 – ESTUDOS DE GÊNERO E RELIGIOSIDADE ................................... 121
ST4 – HISTÓRIA CULTURAL E SUAS FONTES: TEORIA E METODOLOGIA......... 127
ST5 – TEXTOS E IMAGENS: CONFLUÊNCIAS DE ESTUDOS ........................ 133
ST6 – ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO MATERIAL .................... 138
ST7 - HISTÓRIA POLÍTICA ........................................................ 144
Informações ......................................................................... 151
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
8/164
Conferências
Abertura – dia 26.05.2015 às 18h30min
“Sedução tecnológica X Tradição do ofício do historiador”
Profa. Dra. Maria Cristina dos Santos (PUCRS)
“Produzindo conhecimento histórico na web: a experiência do Atlas Digital da América Lusa”
Prof. Dr. Tiago Luís Gil (UnB)
Encerramento – dia 28.05.2015 às 18h30min
“Televisão, melodrama e representação do regime militar brasileiro”
Profa. Dra. Mônica Almeida Kornis (CPDOC-FGV)
“Internet e História do Tempo Presente: limites e possibilidades”
Prof. Dr. Fábio Chang de Almeida (Secretaria Municipal de Educação – PMPA) e Prof. Ddo. OdilonCaldeira Neto (UFRGS)
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
9/164
Simpósios Temáticos Síntese
Data e Horário Localização – Simpósio Temático
26.05.2015
8h às 12h
Prédio 03
Sala 307: ST4 – Cidades e Sociabilidades
Sala 323: ST2 – Gênero
Sala 423: ST19 – Mundos do Trabalho
Prédio 05
Auditório: ST1 – Imagem e História da Arte
26.05.2015
13h30min às 17h30min
Prédio 03
Sala 307: ST6 – Estados Unidos e Relações Internacionais
Sala 323: ST08 – Historiografia e História das Ideias
Sala 423: ST21 – Imigrantes e Imigração
Prédio 05
Auditório: ST9 – História, Mídia e Imprensa
Sala 304: ST23 – Dimensões da Grécia Antiga
Sala 503: ST05 – Ibero-América: Estudos e Confluências
Sala 504: ST04 - História Cultural e suas fontes: teoria e metodologia (Alunos de graduação)
27.05.20158h às 12h
Prédio 03
Sala 307: ST3 – História, Memória e Patrimônio
Sala 323: ST10 – História e Religiosidade
Sala 423: ST13 – Biografias e Trajetórias
Prédio 05
Auditório: ST11 – Fotografia e Cultura Visual
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
10/164
27.05.2015
13h30min às 17h30min
Prédio 03
Sala 307: ST16 – História Agrária
Sala 323: ST7 – História e Educação
Sala 423: ST22 – Nacionalismo e Regionalismo
Prédio 05
Auditório – ST12 – Acervos e Novas Tecnologias
Sala 502 – ST02 – Possibilidades de Pesquisa em História Social (Alunos de graduação)
Sala 503: ST07 – História Política (Alunos de graduação)
Sala 504: ST06 - Arqueologia, História e Patrimônio Material (Alunos de graduação)
28.05.2015
8h às 12h
Prédio 03
Sala 307: ST15 – África e Africanidades I
Sala 323: ST17 – História da Ciência e da Saúde
Sala 423: ST20 – História Política I
Prédio 05
Auditório: ST18 – Desenvolvimento e Industrialização
28.05.2015
13h30min às 17h30min
Prédio 03
Sala 307: ST15 – África e Africanidades II
Sala 323: ST14 – Arqueologia e Patrimônio
Sala 423: ST20 – História Política II
Prédio 05
Sala 502: ST03 – Estudos de Gênero e Religiosidade (Alunos de graduação)
Sala 503: ST05 – Textos e Imagens: Confluências de Estudos (Alunos de graduação)
Sala 504: ST01 – Educação, Práticas e Ensino da História (Alunos de graduação)
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
11/164
Resumos Graduados/Pós Graduação
ST 1 – IMAGENS E HISTÓRIA DA ARTECoordenador – Luciana da Costa de Oliveira
Auditório Prédio 05 [26/05/15]
Manhã – 8h às 12h
BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA E INTERNET: A PESQUISA DE DOCUMENTOS IMAGÉTICOS
SOBRE A DANÇA DE CORTE FRANCESA NOS SÉCULOS XVI E XVIIBruno Blois Nunes (Mestrando – UFPel)
O trabalho, ora apresentado, aborda o uso da tecnologia da Internet para a viabilização de umapesquisa histórica, cujas fontes não estão disponíveis no Brasil. Esta pesquisa tem como foco oestudo das imagens das danças de corte francesa nos séculos XVI e XVII além dos tratados dedança editados no mesmo período. Por meio desse acesso tecnológico, na Biblioteca Nacional daFrança, foram encontrados manuscritos, livros, tratados e imagens referentes à temática em questão.As bibliotecas, instituições que tem o dever de preservar seu acervo histórico, também se utilizamdos navegadores como meio de disponibilizar seus documentos ao público em geral e com issoreduzir o manuseio decorrente da pesquisa in loco. Foi o avanço da tecnologia que permitiu adisponibilização desses trabalhos por meio da reprodução digitalizada dos mesmos. O uso doscanner, copiando os documentos para um espaço online, evita o manuseio excessivo de obrasbastante deterioradas pela ação do tempo. Algumas dessas obras têm, no seu original, difíceisinterpretações seja por serem manuscritas, pela fonte tipográfica ser de tamanho reduzido ou peladificuldade na tradução do idioma. Entretanto, a maioria delas possui condições de tradução epesquisa. Dessa maneira, a Biblioteca Nacional da França será nosso principal local para a pesquisade fontes primárias sobre o assunto.
Palavras-chave: Biblioteca Nacional da França. Fontes Primárias. Internet. Patrimônio Documental.Dança
PEDRO FIGARI: OS ESQUECIDOS DA REPÚBLICACamila Ruskowski (Mestranda – PUCRS)
A proposta do atual projeto de dissertação se concentra em pesquisar a produção artística de PedroFigari, visando a análise de duas séries (de gaúchos e do candombe negro), em relação com aprodução vigente tanto artística quanto historiográfica oficial da República Uruguaia do início doséculo XX. Nesse período onde ideais de construção de identidade-memória estão sendodifundidos, as imagens oficiais e as produções do pintor uruguaio muitas vezes contrastam, dandomargem a um fecundo debate sobre construção de memória-identidade nacional e a visibilidade ou
ausência de tipos sociais. Busca-se aprofundar a investigação das relações semânticas entre a
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
12/164
produção de Pedro Figari, com a difusão pictórica do gaúcho e do negro, com a produção oficial do
Estado e sua divulgação de identidade nacional e como estas se articulam enquanto discursospolíticos em obras historiográficas e artísticas. Investigando as motivações de obliteração ereinterpretação de indivíduos que participaram ativamente no desenvolvimento da sociedadeuruguaia.
Palavras-chave: Pedro Figari; Tipos Sociais; Arte; Uruguai; Identidade.
SOBRE O BARROCO – QUESTÕES E PERSPECTIVASCláudio Roberto Dornelles Remião (Doutorando – PUCRS)
Se há uma palavra que tomou um rumo surpreendente nos últimos cem anos esta foi o termobarroco. Este vocábulo, que foi utilizado no Ocidente enquanto categoria estilística, noção atemporal,período histórico, entre outros usos, no mais das vezes identificado às ideias de irregular, informal eagitado, ao longo do século XX, foi motivo das mais diversas apropriações, que colaboraramconsideravelmente para sua polissemia. Hoje, se, com certeza, ainda encontra-se a categoriabarroco nos manuais escolares relacionada ao século XVII e figurando como a arte daContrarreforma – que se caracterizou por ser uma arte marcada por princípios dilemáticos econtraditórios, por tentar conciliar um teocentrismo medieval e um antropocentrismo humanista,como rezavam velhos livros – não é incomum ver-se por aí, a partir de generalidades extremamenteamplas, não raro de forte senso poético (dobra, curva, elipse), quem denomine de barroco os mais
disparatados e estranhos objetos, tais como “as pernas tortas de Garrincha”, “as circunvoluções deTostão” e a “improvisação de Pelé”. A presente comunicação tem por objetivo oferecer um panoramageral acerca do debate atual sobre o barroco, de modo a discorrer sobre algumas questõespertinentes ao estudo da noção bem como apresentar algumas perspectivas de abordagem relativasao uso dessa categoria.
Palavras-chave: barroco, arte, polissemia, história.
AS MULHERES NO MUNDO DA CRIAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR AS TRAJETÓRIASFEMININAS NA HISTÓRIA DA ARTE
Cristine Tedesco (Doutoranda – UFRGS)Neste artigo apresentaremos uma reflexão sobre a presença feminina na produção da arte no mundoocidental. Discutiremos também como se produziram os silêncios acerca da atuação das mulheresem diferentes campos do conhecimento e as formas de legitimação do esquecimento do feminino,tendo em vista que esses processos estão inscritos num período de longa duração, estiverampresentes na construção simbólica da diferença entre os “sexos” e foram reforçados por discursosreligiosos e políticos. Nesse sentido, apresentaremos algumas fontes que podem contribuir com osestudos sobre a presença feminina na produção artística em diferentes períodos históricos como, porexemplo, a obra Storia Naturale de Plinio Gaio, o Velho (23/24-79 d.C.) e Le vite dei più eccellentiscultori, pittori e architetti, obra que reúne parte dos estudos de Giorgio Vasari (1511-1574).
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
13/164
Procuramos salientar que a atuação das mulheres artistas não as torna nem vítimas nem
heroínas de sua época, mas sim mulheres de seu tempo que não deixaram de viver em lugaresdesafiadores. A pesquisa tem mostrado que as trajetórias de mulheres como ArtemísiaGentileschi (1593-1654), Lavínia Fontana (1552 -1614) e Sofonisba Anguissola (1531-1621), porexemplo, nos sugerem uma perspectiva para além de um femininio fragilizado e preso ao lar,pois construíram espaços de atuação que podem desestabilizar representações pré-estabelecidas sobre a atuação das mulheres no mundo da criação artística.
Palavras-chave: Trajetórias. Gênero. Mulheres artistas. História da arte. História das mulheres.
APROXIMAÇÕES ENTRE HISTORIOGRAFIA DA ARTE E O PÓS- ESTRUTURALISMO:
CONVERGÊNCIAS TEÓRICAS DO FINAL DO SÉCULO XXDiana Silveira de Almeida (Mestranda – UFPel)
Em meados da década de 60 a arte rompe com uma tradição: muda-se a necessidade de um objetode arte estar inserido em um estilo artístico específico. Isto porque algumas das manifestaçõesvigentes (happennings, performances, instalações) não se vêem enquadradas nas categorias epensamentos tradicionais da arte (pintura, escultura). A imagem que a arte apresenta passa a ser“aberta a diferentes sensos de valor”, de modo a permitir “múltiplas interpretações e respostascriativas” (WILLIAMS, 2013, pg. 36). O rompimento deste paradigma é uma das discussõeslevantadas por uma vertente de pensamento filosófico em ascensão neste mesmo período: o pós-
estruturalismo. Enquanto que o estruturalismo compreende as normas como imposições dos limites,o pós-estruturalismo procurará os efeitos dos limites. Em diálogo com as concepções pós-modernas,a vertente irá trabalhar com as mudanças e reavaliações, de modo à investir na ruptura no sensoseguro de significado e à propor o foco nas transformações e não nas definições. Assim, colocará emdiscussão postulados de verdade afirmados pela ciência, que por sua vez passa a ser consideradauma construção interpretativa parcial. O pós-estruturalismo considera fatores como interpretação,construção, discurso e texto, de modo que podem ser estabelecidas convergências com as teoriasque tratam a escrita da história e também da historiografia da arte. Ao considerar que esta últimaprecisa se adaptar aos novos paradigmas artísticos, este trabalho entende que as teorias pós-estruturalistas podem ser um dos caminhos para a ampliação dos rendimentos historiográficos da
arte. Intenta-se, portanto, aproximar as duas áreas do saber procurando compreender as influências,convergências e possibilidades relacionais dentre ambas.
Palavras-chave: Historiografia; História da Arte; Pós-estruturalismo
A CRIAÇÃO DA PINACOTECA APLUB DE ARTE RIO-GRANDENSE (1975)Francine Kloeckner (Bacharel História da Arte)
A presente comunicação aborda o processo de instituição da Pinacoteca Aplub de Arte Rio-Grandense (1975), tendo como foco os critérios e definições do perfil da coleção e o processo de
aquisições de obras para sua formação. Trata-se de uma coleção idealizada pelo médico e
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
14/164
empresário Rolf Udo Zelmanowicz (1931), que apresenta em seu processo de formação uma estreita
relação do colecionador com a arte do Rio Grande do Sul. Em meu trabalho de conclusão de curso,identifiquei as várias narrativas propostas para a coleção da Pinacoteca Aplub de Arte Rio-Grandense, a partir dos princípios propostos por seu instituidor, Rolf Zelmanowicz. Além de discutiraspectos relevantes sobre o contexto do sistema de arte no período em estudo e relações entrecolecionismo, museu, arte e história, abordei temas como a institucionalização de coleções e aconversão de coleções privadas em museus privados. Na presente comunicação, porém, meconcentrei em abordar somente a instituição da Pinacoteca Aplub, aspectos de sua formação ecoleção, no período compreendido entre seu início até sua inauguração, em 1975, espaço de tempode sua consolidação.
Palavras-chave: Pinacoteca Aplub de Arte Rio-Grandense, Rolf Udo Zelmanovicz, Coleções de Arte,Colecionismo, Arte no Rio Grande do Sul.
TECNOLOGIAS DO FAZER ARTÍSTICO: O CASO DAS GRAVURAS DE ANTOINE WATTEAU (1726 –1728)Laura Ferrazza de Lima (Doutoranda – PUCRS)
A imagem é uma das tecnologias mais antigas utilizadas pelo homem, no entanto, mantem-se atual.O interesse das imagens para o historiador vem ganhando força. Porém, é preciso refletir sobre esseobjeto para compreendê-lo de forma mais completa e complexa, não apenas como um documento
para a história, mas como um espaço vivo onde convivem diferentes tempos e memórias. Uma vezque a proposta desse evento é discutir as novas tecnologias, proponho a discussão da imagem sobum novo olhar. Em minha tese de doutorado trabalho com a relação entre a obra do artista francêsAntoine Watteau (1684 – 1721) e a moda. Essa última é outra tecnologia que não podemos chamarde recente, mas que ainda precisa ser melhor estudada pelos historiadores. Aliando o estudo detécnicas do fazer artístico como a pintura e a gravura e a maneira como os trajes são representadospor essas técnicas, proponho a presente comunicação.
Palavras-chave: História e Imagem; História da Arte; Gravuras de Moda; Arte francesa do séculoXVIII.
OS GAÚCHOS DE QUIRÓS, FIGARI E WEINGÄRTNER: ENTRE TEMPOS E MEMÓRIASLuciana da Costa de Oliveira (Doutoranda – PUCRS)
O presente estudo objetiva analisar, dentre a vasta obra dos artistas Cesáreo Bernaldo de Quirós,Pedro Figari e Pedro Weingärtner, três obras onde, afora a imagem do gaúcho ser o elementocentral, uma ampla rede de significações pode ser tecida. Assim, ao apresentar as pinturas Lanzas yguitarras (1925), Duelo criollo (1920/30) e Gaúchos chimarreando (1911), respectivamente dosartistas acima citados, pretende-se perceber os diferentes tempos e as múltiplas memórias de quetais pinturas são portadoras. Mesmo que o gaúcho seja um elemento contemporâneo a essesartistas, importa perceber que estes não são meras reproduções ou, também, simples
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
15/164
representações do homem do campo. Cada artista, a partir da forma como percebeu e, igualmente,
trouxe tal temática e figura para seu campo de trabalho, o problematizou a partir de diferentesquestões. Além disso, a plástica dos pintores e os elementos que estiveram no entorno de taisproduções, constituem-se como elementos de grande relevância para a análise que se propõe.Importa mencionar, por fim, que o estudo em questão é um recorte da pesquisa de doutorado queobjetiva problematizar a construção da imagem do gaúcho na arte platina e brasileira.
Palavras-chave: Gaúcho – Arte platina e brasileira – Cesáreo Bernaldo de Quirós – Pedro Figari – Pedro Weingärtner
ST 2 – GÊNEROCoordenadores – Mônica Karawejczyk e Débora Soares Karpowicz
Sala 323 – Prédio 03 [26/05/15]
Manhã – 8h às 12h
A QUESTÃO DE GÊNERO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DACONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 NO ESTUDO DE CASO DA SUBSEÇÃOJUDICIÁRIA DE RIO GRANDEAndréia Castro Dias (Mestranda em Direito e Justiça Social – FURG)
Giselda Siqueira da Silva Schneider (Mestranda em Direito e Justiça Social – FURG)
O presente estudo pretende refletir sobre a questão de gênero na Justiça Federal, investigandoacerca da trajetória histórica do tema a partir da Constituição Federal de 1988, data em que houveconsiderável reestruturação dessa Justiça. Ao eleger tal marco cronológico, passa-se a verificaracerca do ingresso de servidoras e juízas, bem como o acesso público de cidadãs em processos judiciais no sentido de evidenciar o papel dessa instituição judiciária no tocante a realização da justiça social, em especial do princípio da igualdade de gênero assegurado constitucionalmente. Orecorte regional para averiguação será o da Subseção Judiciária de Rio Grande, que integra a SeçãoJudiciária do Estado do Rio Grande do Sul. A metodologia adotada utiliza a pesquisa documental
aliada à revisão bibliográfica na perspectiva dos referenciais teóricos que adotam a categoria gêneropara análise. Conclui-se que houve uma ampliação no acesso das mulheres à Justiça Federalconsoante a própria ampliação do âmbito de atuação de tal Justiça desde 1988, além detransformações significativas relacionadas à questão, a exemplo da Recomendação nº 42 de 2012do Conselho Nacional de Justiça ao prever aos tribunais a adoção de linguagem inclusiva de gêneroquanto aos cargos ocupados por servidoras e magistradas.
Palavras-chave: Gênero; Justiça Federal; História; Igualdade; Rio Grande.
ELAS E ELES – AS RELAÇÕES DE PODER NA RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR
Ary Albuquerque Cavalcanti Junior - (Mestrando – UNEB)
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
16/164
A presente comunicação faz parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de
Pós Graduação em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia que busca refletirsobre as memorias de mulheres baianas na resistência a ditadura militar. No que tange a esteperíodo da história do Brasil, este ano se completam 51 anos de sua instauração e nos últimos anospresenciamos um “boom” de obras memorialistas sobre a ditadura civil-militar. Nesta perspectiva,este trabalho busca apresentar as relações de poder existentes entre mulheres e homens naresistência à ditadura civil-militar a partir de reflexões das obras até então pesquisadas e deentrevistas realizadas na composição das fontes deste estudo. Logo, termos como submissão,inversão da ordem, publico e privado são apenas alguns remetidos às mulheres no trato das relaçõesde poder intrínsecas aos movimentos de oposição à ditadura.
Palavras-chave: Ditadura – Mulheres – Homens- Gênero
AS EVAS TAMBÉM QUEREM A SUA PRÓPRIA ACADEMIA: CRIAÇÃO E (TRANS)FORMAÇÃO DAACADEMIA LITERÁRIA FEMININA DO RIO GRANDE DO SUL EM PORTO ALEGRE (1943-1973)Camila Albani Petró (Mestranda – UFRGS)
O presente resumo trata do assunto do Trabalho de Conclusão de Curso e do Projeto de Dissertaçãoem História – ambos têm como objeto a Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul (ALFRS),fundada em Porto Alegre no ano de 1943, e que segue em atividade na cidade. Inicialmente,analisou-se a criação da instituição a partir dos conceitos do antropólogo Gilberto Velho, tendo como
questionamento central o projeto de instituição pretendido e possível de ser construído pelasfundadoras, tomando a Porto Alegre da década de 1940 como um campo de possibilidades.Pretendeu-se, portanto, compreender como se estruturou esta academia de letras exclusivamente demulheres e quais foram suas características iniciais, fazendo um estudo das biografias dasfundadoras e da atuação que lhes foi permitida tendo em vista as dimensões de gênero e de espaçopara as práticas literarias da cidade. A fundação da ALFRS teve repercussão no âmbito intelectual dasociedade porto-alegrense, e mesmo que certos literatos não quisessem expressar nitidamente suasopiniões sobre as mulheres escritoras e em relação à ação de criarem uma entidade formadaestritamente pelo sexo feminino, o fato é que, estas opiniões apareceram em cartas e reportagens(algumas bem depreciativas e machistas). Contudo, é importante ressaltar que estas mulheres
faziam parte da elite e os privilégios de classe contribuíram no processo de constituição da entidade.Esta investigação foi/é realizada através de documentação do acervo da ALFRS – mapear o projeto –, bibliografia sobre o tema – formular o campo de possibilidades –, bem como compêndiosbiobibliográficos – estudar as trajetórias. Atualmente a pesquisa busca pensar a atuação dasescritoras em Porto Alegre da década de 1940 a 1970, através da ALFRS, utilizando suas atas e arevista Atenéia (órgão de intercâmbio cultural e de defesa dos interesses da ALFRS que circulou de1949 até 1972).
Palavras-chave: Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul (ALFRS) – gênero – – mulheres – escritoras – Porto Alegre.
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
17/164
MULHERES, ESTADO E DISCURSO RELIGIOSO EM PORTUGAL - 1945 A 1970
Daniela Garces de Oliveira (Doutoranda – PUCRS)Pensar nos regimes autoritários que partilharam ideais comuns em muitos espaços do mundo, requerfazer um exercício de reflexão sobre os lugares dos sujeitos na História. Esse empreendimento depesquisa busca investigar e identificar as diversas matizes de um sujeito especifico: as mulheres.Porém, dentro desse universo diverso que contempla variadas especificidades, cores, classes esexualidades, traremos a cena a mulher portuguesa aliada ao regime salazarista. Tomadas porserem a parte débil da humanidade, elas precisariam ser educadas para melhor servirem asociedade em que viviam. Há portanto, que se explicitar que aqui o gênero adquire o papel deorganizador do social.Sempre lembradas e questionadas de seu papel, as mulheres nos regimes
autoritários ocuparam historicamente um lugar desviante, requerendo uma atenção especial para quemelhor executassem “seu papel”. Chamadas a obediência, elas foram convocadas, através dodiscurso religioso, a serem o coração da casa, deixando o espaço público e a condução das grandesdecisões nas mãos dos homens. Foram igualmente chamadas a devotar o ditador, adquirindo umpapel central na manutenção do regime.O estudo que propomos nos assegura que discursoautoritário e discurso religioso andavam de mãos dadas no contexto estudado. Reconhecido comoum dos principais cenários da igreja católica e do conservadorismo, Portugal nos parece um casopertinente para pensarmos Igreja, Estado e Mulheres. Com poucos estudos sobre esses elementoschave na manutenção de um regime perpetrado na primeira metade do século XX e subsidiado comtoda sorte de associações e agremiações religiosas, vemos o Estado ganhar força através do
discurso religioso de rechaço a mulher no espaço público.
Palavras-chave: Mulher, Discurso Religioso, Salazarismo, imprensa, normatização
MILITÂNCIA DE MULHERES CONTRA A DITADURA E FORMAÇÃO DO MOVIMENTO FEMINISTANACIONAL: NOTAS DE UMA PESQUISADébora Strieder Kreuz (Mestranda – IFRS / Bagé)
A presente proposta de trabalho busca refletir sobre a relação entre a participação de mulheres nasorganizações de resistência à ditadura civil-militar e a formação do movimento feminista brasileiro,sobretudo a partir de 1975. Acredita-se que a maior inserção política feminina, vista a partir dos anos1960, mesmo no contexto repressivo em que se encontrava o país, foi de suma relevância para queas discussões propostas pelo feminismo de Segunda Onda passassem a ser objeto de apropriaçãopelas militantes. Como fonte para o trabalho utilizamos 3 depoimentos de mulheres que, após aaniquilação dos seus grupos pelo governo ditatorial, dedicaram-se à articulação em torno dedemandas feministas, ainda no contexto autoritário. A análise é realizada a partir de dois conceitos – o de gênero e o de memória. Entenderemos gênero de acordo com o que fala Joan Scott (1995),para a qual o gênero é a primeira forma de significar as relações de poder, estabelecendo o que émasculino e feminino. Já a memória, caracterizada como o ato de lembrar, refere-se aacontecimentos passados articulados a partir do presente (POLLAK, 1989; CANDAU, 2012). Dessa
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
18/164
maneira, intentamos compreender a forma como o movimento feminista brasileiro se organizou e
como a experiência de luta contra a ditadura das militantes auxiliou nesse processo.
Palavras-chave: Ditadura civil-militar; mulheres; feminismo; gênero; memória.
PARTEIRAS PAMPIANAS: MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES DO OFÍCIO DE PARTEJAR AO SULDO RSEduarda Borges da Silva (Mestranda – UFPel)
Este estudo aborda memórias de parteiras da metade Sul do RS, que partejaram em suascomunidades sem nenhum tipo de amparo ou reconhecimento legal de seu ofício. As parteirasentrevistadas são todas idosas com idades entre 65 e 96 anos e nenhuma atua mais. No Pampa háuma condição particular, as parteiras estão em extinção, enquanto no Sudeste há o curso deObstetrícia da USP (muitas destas obstetrizes se denominam “parteiras contemporâneas”) e noNordeste, em muitas cidades pequenas, as parteiras são as principais responsáveis peloatendimento e algumas capacitações vêm sendo realizadas pelo Ministério da Saúde em parceriascom ONGs. Como fontes nesta pesquisa são utilizadas a História Oral Temática com sete parteiras,um médico que também foi coordenador da vigilância sanitária e uma atendente de Enfermagem,Manuais de Capacitação para Parteiras, um Guia de Supervisão de Parteiras, legislações esites/blogs sobre parteiras. Em suma, pretende-se perceber os contrastes da atual condição dasparteiras da região Sul em relação às das Regiões Sudeste e Nordeste do país; observar as
narrativas quanto ao começo da atividade, atuação (saberes e práticas) e motivos que as levaram aparar de partejar; definir e diferenciar os processos de higienização, industrialização e humanizaçãodo parto nas Regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, e contribuir à construção da História dasMulheres e com os direitos das trabalhadoras.
Palavras-chave: Parteiras, memórias, higienização, industrialização, humanização.
AS MULHERES NA HISTÓRIA DA FILOSOFIAJuliana Pacheco Borges da Silva (Mestranda – PUCRS)
O presente trabalho tem como objetivo expor a presença das mulheres na história da filosofia.Mostrando que mesmo sendo escondidas e menosprezadas, elas existiram e fizeram diferençadentro da filosofia. Devido a isto, surgiram estudos investigativos que se debruçaram nas teorias defilósofos ocidentais, os quais demonstraram grande aversão às mulheres, colocando-as semprenuma posição de inferioridade. Com isso, a ausência feminina no que tange o campo doconhecimento filosófico foi reforçada pelos discursos - ainda que indiretamente - desses filósofos.Assim, busca-se restituir, por meio de uma filosofia feminina, esta ausência, trazendo luz àsmulheres que foram e são obscurecidas.
Palavras-chave: Mulheres; História; Filosofia
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
19/164
DITADURA DE SEGURANÇA NACIONAL NA ARGENTINA (1976-1983): A “VIRILIZAÇÃO” DA
IDENTIDADE FEMININAMarluce Dias Fagundes (Graduada – Unilasalle)Mariani Viegas Da Rocha (Graduada – Unilasalle)
Este presente trabalho tem como objeto de estudo o tratamento exercido sobre as presas políticas,em especial as grávidas, correlacionando com os dos homens. Para isso, usamos o conceito degênero apresentado pela historiadora Joan Scott e aplicando-o ao contexto das Ditaduras deSegurança Nacional da América Latina e dos mecanismos de Terror de Estado, tendo como focoanalítico específico à instaurada na Argentina. Este país que teve umas das ditaduras mais duras doCone Sul, principalmente a partir de 1976, com a presidência do General Jorge Rafael Videla. A
Argentina viveu sete anos de torturas, sequestros, assassinatos e desaparecimentos. Sendo esteúltimo, o principal mecanismo de terror de Estado, executado por meio de centros clandestinos.Apenas um ano depois da vigência do golpe, já havia 340 centros clandestinos. A participaçãofeminina na luta contra o regime chegava a somar 30% dos militantes desaparecidos (as) no períodocompreendido por esta pesquisa. Além disso, a luta contra o machismo e valores patriarcais estavaem efervescência com a segunda onda do feminismo, quando a utilização dos espaços públicos econtrole sobre o próprio corpo era reivindicado por muitas mulheres em vários países do Ocidente.No caso das presas políticas grávidas, fontes documentais como o Nunca Más, destacam o fato queas mesmas não deixaram de ser vítimas de todo tipo de torturas físicas e psicológicas.
Palavras-chave: Ditadura de Segurança Nacional. Argentina. Gênero. Terror de Estado. Feminismo.
“MULHER DEVE VOTAR?” DO DECRETO N.19.459 AO CÓDIGO ELEITORAL DE 1932 NASPÁGINAS DOS JORNAIS "CORREIO DA MANHÃ" E "A NOITE"Mônica Karawejczyk (Doutora – Fundação Biblioteca Nacional)
No primeiro dia de janeiro de 2015 tomou posse para o segundo mandado de Presidente daRepública Federativa do Brasil uma mulher – Dilma Roussef. Se tal fato, hoje, não nos causaestranheza, algumas décadas atrás seria inimaginável, pois durante muito tempo a esfera política epública foi vetada às mulheres, que ali eram vistas com estranheza e desconfiança. Um dosprimeiros atos administrativos de Dilma foi sancionar a Lei nº 13.086 de 8 de janeiro de 2015 queincluiu no Calendário Oficial do Governo Federal o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, 24de fevereiro. Apesar desse reconhecimento oficial por parte do governo, o brasileiro, de um modogeral, pouco conhece sobre essa importante conquista feminina. Este trabalho tem por objetivodesvelar a discussão em prol da inclusão feminina no quesito eleitor deflagrada por um decreto deGetúlio Vargas em dezembro de 1930. Quer-se assim apontar os principais argumentos defendidospelos que eram contra e a favor de tal inclusão. Essa discussão está preservada nas páginas daimprensa brasileira e, nesse sentido, quer-se também apresentar o posicionamento de doisimportantes jornais que circulavam na capital federal da época, o Correio da Manhã e A Noite. Omarco temporal da pesquisa engloba os meses de dezembro de 1930 até fevereiro de 1932, data da
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
20/164
aprovação do Código Eleitoral que reconheceu o direito de votar e serem votadas a todas as
brasileiras. Todo o trabalho de levantamento das fontes foi feito de forma on-line.
Palavras-chave: Voto feminino, Primeira República, Correio da Manhã, A Noite, imprensa.
LADIES NO BATENTE: A REPRESENTAÇÃO DO TRABALHO FEMININO NA REVISTA LADY: ACOMPANHEIRA DA MULHER (1956-1959)Paula Rafaela da Silva (Doutoranda – PUCRS)
Essa comunicação visa apresentar alguns dos dados conclusivos da pesquisa que deu origem adissertação de mestrado com título: “Ladies no batente: a representação do trabalho feminino narevista Lady: a companheira da mulher (1956-1959)”, concluída no ano de 2010, desenvolvida noPrograma de Pós-graduação em História da PUCRS, sob a orientação do Dr. Charles Monteiro comfinanciamento de bolsa Capes. A pesquisa teve por principal objetivo analisar as reportagens darevista ""Lady: a companheira da mulher”, publicada pela Editora Monumento S.A. cujo foco eram asmulheres trabalhando e a partir dessas reportagens pensar questões referente a representação degênero e espaços ocupados pelas mulheres na década de 1950 de acordo com a visão editorial darevista. A revista Lady, teve um período curto de publicação (1956-1959), mas abordou de maneirabastante direta questões referentes a modernidade e a busca de desenvolvimento corresponde aconjuntura que o Brasil vivia naquele período histórico, com uma linguagem intelectualizada e umgrupo de escritores/jornalistas de destaque nacional a revista teve uma publicação significativa para
o período com uma tiragem que variou entre 50 e 100mil exemplares. Dentre os dados obtidos estão:os tipos de profissões que levaram as mulheres a adentrar no mercado de trabalho do período, ascircunstâncias que levavam elas a ocupar esses espaços e como elas eram representadasexercendo suas funções nas reportagens das revistas.
Palavras-chave: imprensa feminina, gênero e representação
ST 3 – HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIOCoordenador – Alexandre Pena Matos
Sala 307–
Prédio 03 [27/05/15]Manhã – 8h às 12h
O CASARÃO DOS BERNARDES: UM PEDAÇO DA PORTO ALEGRE DO SÉCULO XXAdriana Augusto Neves (Graduada Arquitetura – PUCRS)
Este trabalho tem por objetivo o resgate histórico e arquitetônico do Casarão construído em 1938,pertencente à família Bernardes. Este Casarão localizado no bairro Lami, extremo sul de PortoAlegre, foi sede da Fazenda do Senhor Luiz Vieira Bernardes, mais conhecido como Seu Lulu. Umilustre comerciante da região. A edificação, bem como seu antigo proprietário, assumem importante
papel por representar a história de progresso do bairro e da cidade.Com base nos depoimentos de
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
21/164
parentes, amigos e conhecidos que presenciaram o cotidiano desta tradicional família que ali fixou
suas terras e com base num detalhado levantamento físico-visual da edificação, serão apresentadosdados sobre sua construção, cronologia arquitetônica e detalhes de sua arquitetura. Também seráutilizada pesquisa bibliográfica geral sobre o tema bem como consultas em acervo fotográfico edocumental, possibilitando revelar a história de um pedaço, ainda desconhecido, da Porto Alegre doséculo XX.
Palavras-chave: Casarão; Família Bernardes; Lami;
A VEZ, A VOZ E A PALAVRA: RELATOS SOBRE O PROJETO “BIOGRAFIA A POSTERIORI” NOMUSEU DO CENTRO HISTÓRICO CULTURAL SANTA CASA.
Amanda Mensch Eltz (Pós-graduanda – PUCRS)Renata Dariva Costa (Graduanda – PUCRS)
Este trabalho visa relatar o projeto “Biografia a Posteriori”, programa de reconstrução da memóriahistórica e social realizado no Museu Joaquim Francisco do Livramento, do Centro Histórico-CulturalSanta Casa (CHCSC), através da Metodologia de História Oral. Partindo do princípio que não existepatrimônio cultural museológico sem a ação humana de conferir valor, significado ou importância aoartefato, vê-se no sujeito e na sua fala a voz interlocutória dos diferentes saberes, práticas, valores,sentidos, usos e significados, tão fundamentais para o processo de reconstrução das memórias.Tecer relações entre “Comunidade e Museu” é um fator extremamente importante, pois o espaço
museológico se torna assim um cenário de democratização da memória e lugar de transformação,reconhecimento e representação social. Este programa “Biografia a Posteriori” objetiva entrevistarpersonagens sociais que pertencem ou pertenceram as diferentes comunidades envolvidassocialmente com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (SCMPA). O projeto atualmentepossibilita a reconstrução do histórico de utilização dos bens materiais presentes no acervo doMuseu, como também, da identidade do local produtor desta cultura à SCMPA.
Palavras-chave: Memória. História. Metodologia da História Oral. Patrimônio. Museu.
FOTOGRAFIA E MEMÓRIA: A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO PELOTAS-CANGUÇU
Cristiano Gehrke (Doutorando – UPF)O presente trabalho, tem como objetivo falar sobre o processo de construção da estrada de ferro queligava os municípios de Pelotas e Canguçu, localizados no sul do Rio Grande do Sul. Pretende-seanalisar como ocorreu o processo de instalação da estrada na região, cujo início remota ao ano de1874 quando é feita a primeira referência à sua construção na documentação consultada. Inseridadentro de um projeto nacional de modernização do país, que tinha como objetivo integrar asdiferentes regiões, e assim garantir a realização do projeto de nação desenvolvida, a estrada de ferroPelotas-Canguçu levou cerca de um século para ser concluída. Após a sua conclusão, a mesmapermaneceu em funcionamento por um período inferior a 20 anos. Desta forma, baseado nadocumentação fotográfica e em relatos orais, preservados no Museu Etnográfico da Colônia Maciel,
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
22/164
pretende-se fazer uma análise de como se deu o processo de instalação desta estrada de ferro,
quais foram os avanços que a mesma trouxe para a região, bem como os conflitos que foramgerados durante a sua implantação e as principais motivações que levaram à sua desativação.
Palavras-chave: Fotografia – Memória – Ferrovia – Imigração Italiana – História Oral
MEMÓRIAS SOBRE A AÇÃO DE MADEIREIRAS NO MUNÍCIPIO DE CASCAVEL/PRDaniele Brocardo (Mestranda – UNIOESTE)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar parte de minha pesquisa desenvolvida no Mestrado.Nesta pesquisa a análise se concentrou nas narrativas a respeito da ação das indústrias madeireirasentre as décadas de 1950 a 1970 (período de maior atividade das madeireiras), no município deCascavel, localizado no oeste do Estado do Paraná. Destarte, procurou se explorar a análise denarrativas orais, de alguns sujeitos que atuaram no setor madeireiro em tal período. Para tanto, ametodologia utilizada consistiu na História Oral, assim, foram realizadas e analisadas entrevistasproduzidas no período de 2011 a 2013, com ex-proprietários e empregados do setor madeireiro.Procurou-se a partir das entrevistas perceber quais eram as diferentes relações travadas pelasmadeireiras, com seus empregados, na extração das árvores, problematizando as diferentespercepções sobre o meio natural e suas relações com os seres humanos e quais são as elaboraçõessobre a paisagem. Investigou-se, ainda, as distintas percepções deste processo, pois, por mais quetodos os entrevistados tenham trabalhado junto as madeireiras, as percepções tendema ter
variações conforme as ocupações, se desempenhavam a atividade de gerente, serrador, contador,entre outras. Neste sentido, as entrevistas foram realizadas com diferentes sujeitos, escolhidos emfunção das diversas ocupações no trabalho de exploração da madeira. Além das entrevistas nadissertação foram analisadas duas obras da historiografia local. Com objetivo de entender como aação das madeireiras em Cascavel vem sendo escrita e como ela é associada à história domunicípio. No entanto, nesta comunicação serão apenas trabalhadas as narrativas orais
Palavras-chave: Setor madeireiro; História Oral; Memórias; Desflorestamento.
O BIÊNIO DA COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL: AS DIMENSÕES
POLÍTICAS DAS COMEMORAÇÕESTatiane de Lima (Mestranda – Unisinos)
O presente trabalho tem por objeto de estudo as comemorações do Biênio da Colonização eImigração no Rio Grande do Sul, ocorridas em 1974 e 1975. Estas celebrações são aqui entendidascomo atos de rememorar o passado através de representações simbólicas que buscam unificar eguardar memórias. Nas comemorações do Biênio da Colonização e Imigração o principal objetivo foio de homenagear e agradecer aos imigrantes que fizeram parte da construção geográfica,econômica, social e política do estado. Ao ser promovida pelo governo do Rio Grande do Sul, estacelebração foi organizada tanto pelo poder público quanto por grupos da sociedade civil.Entendemos que é através da memória que se reforça e/ou se constitui a identidade pessoal ou
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
23/164
coletiva que permite aos sujeitos pensarem-se como parte de um determinado grupo, ficando a cargo
dos organizadores do Biênio vincular os atos celebrativos às memórias dos grupos imigrantes, deseus descendentes e das cidades ligadas à empreitada imigratória. Calcado nos estudos acerca dascomemorações, buscaremos analisar os sentidos e sentimentos que moveram o Biênio daColonização e Imigração, seu processo de organização, os grupos sociais e poderes envolvidos, etambém a seleção de memórias feita nos momentos de comemorar. Trabalharemos comdocumentos produzidos pelas Comissões Executivas de Homenagem de cada uma das etniasvinculadas ao processo imigratório no Rio Grande do Sul e contempladas nos festejos, e tambémcom registros jornalísticos da época. Entender os sentidos que atravessam e são atribuídos a estascelebrações é de suma importância para analisar a construção do imigrante homenageado na festaque se denominou “Biênio da Colonização e Imigração no Rio Grande do Sul”.
Palavras-chave: Comemoração; Rio Grande do Sul; Imigração; Memória; Usos políticos do passado.
AS FESTIVIDADES EM HONRA AO DIVINO EM PONTA GROSSA/PRVanderley de Paula Rocha (Mestrando – Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Em Ponta Grossa, cidade do interior do Paraná, a devoção ao Divino Espírito Santo teve início em1882, quando, segundo a tradição, foi encontrada uma imagem sua, representada por uma pomba,gravada em madeira. Portanto, o ponto principal de abordagem desse trabalho liga-se a festa emhonra ao Divino Espírito Santo, analisada enquanto um momento de afirmação da comunidade
religiosa e como um espaço de sociabilidade na cidade. Outro ponto abordado diz respeito àsrelações observadas entre os devotos e o clérigo local, o primeiro representante de um catolicismodevocional e popular, o segundo constituído do catolicismo institucional. Assim, tivemos comoobjetivos: Entender o movimento devocional por meio da festividade religiosa e identificar a relaçãoque a Igreja Católica estabeleceu com essas práticas. Para tanto, utilizou-se como fontes periódicoslocais, ex-votos, folhetos das festas. Partiu-se dos pressupostos teóricos de Michel de Certeau eRoger Chartier, sobretudo os conceitos de Táticas/Estratégias e Representação. A partir da análisedas fontes aparada no quadro teórico apresentamos nossas considerações sobre a temáticaabordada, nesse sentido, compreendemos que é, através das rezas, das novenas, das procissões edas festas que os devotos do Divino estabelecem ligação com o mundo sagrado. Percebeu-se que a
“Casa do Divino”, onde ocorrem às celebrações dedicadas ao Espírito Santo em Ponta Grossapossui suma importância para os devotos, pois é considerado um “lugar sagrado”, usado pelos fiéiscomo elo entre o mundo terreno e o mundo sagrado. Por fim compreendemos que a festa nodecorrer dos anos foi apropriada pela Igreja que, efetivamente, determinou os espaços de ocorrênciae as formas de expressão da mesma, remete, portanto, para o entendimento do exercício dospoderes estabelecidos, do reconhecimento de papéis sociais, das hierarquias.
Palavras-chave: Festa religiosa, devoção, Divino, Igreja Católica, Ponta Grossa
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
24/164
ST 4–
CIDADES E SOCIABILIDADESCoordenadores – Mariana Couto Gonçalves e Janete da RochaMachado
Sala 307 – Prédio 03 [26/05/15]
Manhã – 8h às 12h
PELOTAS EM CONSTRUÇÃO: UM ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO ESOCIAL PELOTENSE A PARTIR DAS ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 1846 A 1860.Elvis Silveira Simões (Graduado – IFSul Pelotas)
O presente trabalho foi elaborado como proposta de projeto de pesquisa, o qual estudará o municípiode Pelotas no período de 1846 á 1860. Nestes anos, após a Revolução Farroupilha, a urbe permeouum caminho de retomada em seu crescimento e desenvolvimento urbano. Sobretudo após o retornoda autoridade administrativa da Câmara Municipal de Pelotas. Esta, que tornou-se, durante o séculoXIX e início do XX, um dos maiores centros econômicos do Rio Grande do Sul por conta da atividadecharqueadora, produziu charque e diversos outros produtos que serviam para exportação, econsumo de seus próprios habitantes. Contudo, com o advento da Revolução Farroupilha, há aqueda de sua produção, assim como a fuga de parte de sua população. A partir dos anos 40, antesmesmo do fim da Revolução, Pelotas busca recomeçar suas relações comerciais. Retoma o
desenvolvimento seu espaço urbano, desenvolvendo suas estradas, para garantir a circulação desua principal matéria prima econômica, o gado. Atividades que retornavam para as mãosadministrativas da Câmara, a qual restabelecia sua autoridade frente à sociedade. O papel daCâmara, aprovado para vilas e cidade, em outubro 1828, a posicionava como um sistemaadministrativo municipal, que possuía as mais diversas funções. Suas atribuições abrangiam aorganização de cobrança de impostos, cuidar do reparo das estradas, saneamento público, limpezada cidade, zelo pela moral pública, entre outras questões pertinentes ao interesse público. Contudo,na cidade de Pelotas, a Câmara só reabre suas portas a partir de abril de 1844. Esta proposta depesquisa parte exatamente deste momento ao final da guerra, abrangendo o período que vai de1846 á 1860, buscando identificar os principais problemas que a cidade enfrentou, assim como asações da Câmara Municipal frente a tais questões. E, desta forma, contribuindo para uma melhorcompreensão do processo histórico da cidade de Pelotas.
Palavras-chave: Pelotas – Desenvolvimento Urbano – Sociedade – século XIX – Câmara Municipalde Pelotas
TRANSGRESSORES DA MORAL: A POLÍCIA DA ORDEM E DA DESORDEM NA CIDADE DEFORTALEZA (1916 – 1933)Francisco Adilson Lopes da Silva (Mestrando – UECE)
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
25/164
Esta pesquisa objetiva analisar a polícia na cidade de Fortaleza no início do século XX,
especificamente entre os anos de 1916 a 1933. Escolhemos Fortaleza por ter sido a cidade que maisfoi projetada no período como espaço irradiador de mudanças sócio-culturais, pelos políticos,comerciantes, intelectuais, Chefes de polícia, etc. no Ceará. A cidade enquanto espaço de análise,torna-se um cenário propício para o estudo de um órgão que teria, supostamente, como funçãopromover a ordem pública, no nosso caso, a polícia, posto que nela encontramos os mais diversosdiscursos e as mais diferentes práticas para compreender as intricadas relações das pessoas com osseus espaços de vivências; como também para compreensão da polícia enquanto elemento presentena sociedade e “reguladora” da convivência. Nesse sentido, buscamos compreender as condutasdos policiais em relação à transgressão em Fortaleza. Quanto ao nosso recorte temporal, iniciamos apartir de 1916, por ser o ano que o presidente do Estado João Thomé de Saboya e Silva informou
pela lei nº 1395, de 02 de outubro de 1916, as regras para a Força Pública do Estado. Nessecontexto também aconteceu a “Conferencia Judiciaria-Policial” no Rio de Janeiro, visando debater anoção e organização da polícia no Brasil. A pesquisa vai até 1933, por ser o ano que foi editado oCódigo Municipal de Fortaleza, pela Tipografia Minerva, estabelecendo condutas para a cidade, deacordo com o que determinou o Decreto nº 70 de 13 de dezembro de 1932. Lembrando, que osrecortes temporais estão marcados pela presença da seca, iniciamos logo após a seca de 1915 eterminamos depois da seca de 1932, pois as secas alteraram o cenário urbano de Fortaleza, cenárioem que circulavam os policiais.
Palavras-chave: Polícia, Cidade, Transgressão, Fortaleza, Estado.
OS PRIMÓRDIOS DA ZONA SUL DE PORTO ALEGRE: DA SESMARIA DE DIONÍSIO RODRIGUESMENDES ÀS CHÁCARAS DE ANTIGOS ESTANCIEIROSJanete da Rocha Machado (Mestre – PUCRS)
No início do século dezenove, as terras onde hoje está a Zona Sul de Porto Alegre faziam parte deuma imensa zona rural da cidade. Originária da primeira sesmaria doada ainda no século dezoito, olocal se configurou em grandes extensões de terras, em cujas fazendas se cultivavam arroz, milho,aipim e frutas, além da criação de gado leiteiro. Isso só era possível devido à irrigação pelos arroiosCapivara, Cavalhada e Salso, os quais proporcionavam fertilidade à região e, portanto, condições
favoráveis para a agricultura e pecuária. Eram os limites dessas terras produtivas e apresentavamáguas límpidas e cristalinas, perfeitas para o uso. Assim como eram limpas também as águas do rio,o que motivou, tempos mais tarde, o uso da região para o lazer e o veraneio. Desta forma, aproposta deste trabalho foi analisar os primórdios desta região, banhada pelo Lago Guaíba eescolhida pelo porto-alegrense para o recreio na primeira metade do século vinte.
Palavras-chave: Zona Sul de Porto Alegre – Os primórdios – Veraneio e Lazer
AS REPRESENTAÇÕES DA CIDADE DE PELOTAS NA OBRA LITERÁRIA A VERTIGEM DE JORGESALIS GOULART (1925)
Mariana Couto Gonçalves (Doutoranda – Unisinos)
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
26/164
As cidades serviram de inspiração para diversos literatos ao longo dos séculos, na medida em que
acolhem indivíduos e suas relações sociais, comportamentos, hábitos, personagens, ruas, prédios,praças e aspectos do cotidiano. Dessa forma, os escritores tornam-se mais livres para narrar a urbeà sua maneira, deixando transparecer a sensibilidade e o imaginário em sua narrativa. Nessesentido, a presente comunicação tem como objetivo apresentar o romance A Vertigem, escrito em1925 pelo bageense Jorge Salis Goulart, compreendendo as suas representações sobre a cidade dePelotas, destacando os aspectos elitistas e conservadores do autor. Ao narrar o romance do casalMarina e Alfredo, Goulart apresenta a sua visão sobre a Princesa do Sul, servindo como fontehistórica para o historiador a partir da discussão que cerca a literatura e a história, ampliando odebate sobre da urbanidade pelotense.
Palavras-chave: A Vertigem, Jorge Salis Goulart, Pelotas, Literatura, Cidade
ALTERAÇÕES FÍSICO-ESPACIAIS E APROPRIAÇÃO SOCIAL NA CONSOLIDAÇÃO DO LAZERNOTURNO NO BAIRRO CIDADE BAIXA/ PORTO ALEGRE – 1995-2015Vanessi Reis (Doutoranda Arquitetura – UFRGS)
O bairro Cidade Baixa consolidou-se como lugar de sociabilizações noturnas, consagrando-seespaço reconhecível em nível urbano, destacando-se de outras áreas congêneres pela apropriaçãosocial que o caracteriza. A região estruturou-se com farto conjunto de serviços e comércios quesuprem sua população de classe média. A proximidade à Universidade Federal do Rio Grande do Sul
incentivou a instalação de Casas de Estudantes em seu território e, consequentemente, odesenvolvimento de comércio de alimentação e lazer.O fechamento dos bares mais próximos àUniversidade, no Bairro Bom Fim, ao final da Ditadura, ocasionou uma migração do público a esteespaço. O bairro se adaptou a esta migração, entre 1985 e 1995, aumentando lentamente seusespaços de lazer. Entre 1995 e 2005, o número de espaços cresceu fortemente, e foramcaracterizados pelo transbordamento social de seus interiores, e pela demarcação do território, emseu exterior, pela apropriação humana, de diversos grupos. As fachadas estavam sofrendorompimentos à necessidade de maior interface de interação entre interior e exterior. As calçadasforam tomadas por cadeiras, com uso semelhante ao interno; por pessoas em pé, se alimentando efruindo a vitalidade da rua e/ou pela ocupação em filas de espera para entrada em locais
fechados.Entre 2005 e 2015, percebe-se modificação arquitetônica para atender a demanda dopúblico, às calçadas. Muitos bares adaptam seus interiores aos exteriores, constituindo espaçoshíbridos onde as características espaciais se fundem numa paisagem única. Esta ocupação se dápor uma forte abertura da fachada e pelo uso de mobiliário. Em locais onde a permanência se davapelo público em pé, há preservação deste comportamento. Nos espaços onde a permanência erasomente por fila, houve fusão de espaços internos de mais de um bar em um único estabelecimento,e a espera na rua é mantida, ainda que espacialmente desnecessária, para marketing local.Opresente artigo trata do desenvolvimento destas apropriações sociais e alterações físico-espaciaisque refletem na História da Cidade e do Bairro Cidade Baixa.
Palavras-chave: História Cultural; Sociabilidades; Alterações Tipológicas; Bares; Cidade Baixa.
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
27/164
A MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DA CIDADE: PROPOSTA DE ESTUDO E ESCRITA
HISTORIOGRÁFICA (RECIFE, 1829-1849)Williams Andrade de Souza (Doutorando – Unisinos)
Nesta comunicação discutiremos o percurso e os procedimentos teórico-metodológicos para aelaboração do projeto de pesquisa que deu origem à escrita da dissertação de mestrado defendidaem 2012 no programa de pós graduação em história da Universidade Federal Rural de Pernambuco,intitulada: “Administração, normatização e civilidade: a Câmara Municipal do Recife e o governo dacidade (1829-1849). Apresentaremos a proposta de estudo e o resultado escriturário sobre estainstituição e sua administração na primeira metade do XIX, que nos possibilitou pensar amunicipalidade e a governança da cidade no período em tela. Indicamos que, através da leitura e
análise de variados documentos – leis, editais, posturas municipais, atas de reuniões, artigos,noticias de jornais, ofícios e fontes bibliográficas diversas, é possível apontar alguns indícios e sinais –, como sugere Carlo Ginzburg, das práticas político-administrativas exercida pelas elites presentesnaquela instituição, e apontar a existência ainda de certa vitalidade e poder de influência quelhesproporcionavam uma importâncias para além das suas funções governativas, e faziam delasinstâncias normativas e civilizacionais significativas no contexto de formação e consolidação deEstado nacional brasileiro de então.
Palavras-chave: Municipalidade; governo da cidade; Recife; proposta de estudo; escritahistoriográfica.
ST 5 – IBERO-AMÉRICA: ESTUDOS E CONFLUÊNCIASCoordenador – Fernando Comiran
Sala 503 – Prédio 05 [26/05/15]
Tarde – 13h30min às 17h30min
ENTRE A METRÓPOLE E A COLÔNIA: AS RELAÇÕES COMERCIAIS SOB A ÓTICAMANUFATUREIRA PORTUGUESA SETECENTISTAAlex Faverzani da Luz (Doutorando – PUCRS)
Após a segunda metade do século XVIII, Portugal passa a experimentar transformações que irãomarcar a história econômica portuguesa. Em 1750, quando Sebastião José de Carvalho e Melo, ofuturo Marquês de Pombal assume a pasta ministerial do Reino, desencadeiam-se medidas de cunhomercantilista e fiscalista, na tentativa de reprimir o tráfico ultramarino e garantir com maior eficiênciaa arrecadação fiscal. Na Colônia, criam-se a Companhia do Grão Pará e Maranhão em 1755, e aCompanhia Geral de Pernambuco e da Paraíba em 1759, com vistas a assegurar o monopóliomercantil na América Portuguesa, além de limitar a atuação de negociantes estrangeiros em sololuso-brasileiro. Na Metrópole, fomenta-se o incentivo às manufaturas, inicialmente através dosEstatutos da Fábrica das Sedas de 1757, em que se pretendia incentivar a produção interna e
reduzir as despesas com importações. Assim, com a pesquisa em epígrafe, busca-se enfatizar tais
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
28/164
medidas e características mercantis no âmbito do Império Colonial Português, bem como sua
interação comercial com a Colônia por intermédio das manufaturas criadas durante a Era Pombalina.
Palavras-chave: América Portuguesa, Metrópole, Época Pombalina, Manufaturas, relaçõescomerciais.
O CONGRESSO DE VIENA E OS PAÍSES IBÉRICOS: APONTAMENTOS INICIAIS PARA UMAHISTÓRIA CRUZADAFernando Comiran (Doutorando – PUCRS)
O Congresso de Viena, que teve seu encontro máximo no ano de 1815, deu-se com o propósito dereorganizar o sistema internacional após as guerras napoleônicas. E sobre isso a historiografia muitoabordou, sobretudo, dando ênfase às articulações entre as grandes potências que se encontraramno Congresso. Não é diretamente sobre estes atores que o presente trabalho se debruça: nestaproposta o interesse é pelos atores politicamente menores deste evento, em especial, aos paísesibéricos: Espanha Portugal. Ambos, historicamente centrais nos grandes eventos posteriores dosistema internacional, após serem importante e decisivo palco das guerras napoleônicas, se dirigiramà Viena como forças secundárias do novo contexto político que se inaugurava. Do mesmo modo,tanto espanhóis como portugueses, ainda detentores de amplos territórios para “além mar”,enfrentavam ambientes políticos instáveis em suas colônias, em especial na América, onde brotavamos movimentos de emancipação política. O Congresso de Viena, deste modo, teve em seu espaço,
demandas específicas em relação à Espanha e Portugal e, desta forma, diretamente ligadas aoespaço e ao contexto político sul americano. Este trabalho, visto como um exercício deproblematização do objeto de pesquisa, procura conectar os interesses da política internacional paraalém das grandes potências do Congresso, articulando com os debates maiores, as demandasespanholas e portuguesas e suas interfaces sul americanas. Por fim, o trabalha apresenta um olharsobre os interesses em disputa pelos países ibéricos, no contexto do Congresso de Viena, a partir deuma história conectada. A península ibérica, a América meridional, o Caribe, algumas ilhasatlânticas, certos enclaves africanos e, até mesmo territórios italianos estiveram, pelas mãos dadiplomacia ibérica, muito mais próximos do que se possa imaginar.
Palavras-chave: Congresso de Viena; Espanha; Portugal; América Meridional; História das RelaçõesInternacionais.
OPULÊNCIA PORTENHA: EMBATE POLÍTICO E CRISE NA FORMAÇÃO DA ARGENTINAMODERNA (1880-1912)Henrique de Aro Silva (Mestrando – UFRGS)
Em meados da última década do Século XIX, Buenos Aires torna-se epicentro de contestaçãopolítica. Em meio a um cenário de crescimento econômico, a decadência do Regime Oligárquicoganha, então, novos elementos. O fenômeno da imigração, além de trazer na bagagem as ideias doSocialismo e do Anarquismo, revela, também, o início de uma crise de representação que se acentua
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
29/164
devido ao aumento dos problemas urbanos. Na onda desse descontentamento, movimentos que vão
contra o regime oligárquico acumularam forças, como é o caso do Radicalismo. O presente artigoobjetiva compreender a contribuição dos sujeitos, ditos marginais, analisando como esses conflitosacabaram por configurar uma nova mentalidade política. Para contemplar a análise desses discursosaqui colocados, toma-se a obra de J.G.A. Pocock, no que tange sua análise das linguagens ediscursos políticos, por natureza, ambivalentes. Também se faz necessário ressaltar a análise deBeatriz Sarlo e Pierre Bourdieu, no que diz respeito à configuração de Buenos Aires como centro deuma sociedade fundada na cultura de mescla, juntamente ao que diz respeito às concepções decapital cultural e da violência simbólica, em relação à relevância da Cultura Política Marginal,proveniente dos conventillos portenhos, que, somada aos citados acontecimentos, ajudou acaracterizar um cenário de embate ideológico, que ainda contaria com novos elementos, como a
Huelga de Inquilinos de 1907.
Palavras-chave: Buenos Aires, Cultura Política, conventillos.
A CONSTRUÇÃO DO CÂNONE LITERÁRIO ARGENTINO NO INÍCIO DO SÉCULO XX: UMAHISTÓRIA DE DISPUTAS E SILENCIAMENTOS EM NOME DA NARRATIVA NACIONALIvia Minelli (Doutoranda – Unicamp)
A proposta dessa comunicação é analisar um momento da história argentina em que os embatespela canonização literária coincidem com um novo momento político e cultural, frente às questões
modernistas da virada do século XIX para o XX. As novas articulações do período favoreceram aproliferação da literatura criollista, sendo que a herança da voz gaucha perfilava como voz popular e,por isso, teria sido silenciada por um campo intelectual deflagrador dos dispositivos culturais. Assim,torna-se importante construir um diálogo crítico entre produção gauchesca e articulações da eliteintelectual, resgatando as particularidades dos folletos gauchescos e das revistas criollas frente aosdiscursos modernos em consolidação nas proximidades do Centenário de independência do país.
Palavras-chave: Argentina, Centenário, cânone literário, literatura criollista
ELEMENTOS NATURAIS NOS RELATOS DE VIAJANTES: REFLEXÕES PARA A FRONTEIRA
PLATINA E A FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAISJoão Davi Oliveira Minuzzi (Mestrando – UFSM)
O território brasileiro foi explorado por inúmeros viajantes europeus nos primeiros anos do séculoXIX. Durante essas viagens foram criados relatos diversos que nos permitiram pesquisar sobretemas variados sobre o período. Muito utilizados pela historiografia, os relatos dos viajantes nãodeixaram de influenciar no pensamento e na construção de ideias sobre o Brasil, mesmo porqueestes viajantes traziam um olhar diferente e acabavam encontrando outras formas de pensar,servindo assim como receptores e dispersores de pensamentos sobre o território percorrido. Ainfluência de seus escritos perpassa assim o período em que viveram, porque ao serem apropriadosnos estudos historiográficos acabaram influenciando no passado mais recente e no presente.
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
30/164
Neste trabalho procurarei discutir como esta fonte pode ser utilizada para compreendermos melhor o
período e, especialmente, refletirmos o processo de formação dos Estados Nacionais e suasidentidades a partir dos elementos naturais que compõem os espaços fronteiriços. Considerando quea natureza é apropriada e por vezes serve como justificativa a ideias indenitárias e nacionalistas. Orecorte espacial deste trabalho se dá sobre as regiões do bioma pampa percorridas por viajantes doinício do século XIX, sendo parte importante da zona platina que neste contexto estava passando porum processo de criação e efetivação de vários projetos de Estados Nacionais.
Palavras-chave: Relatos de Viajantes; História Ambiental; Pampa; Fronteira; Estados Nacionais.
O TERRITÓRIO COMO BASE DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE PODER: ALGUMAS REFLEXÕES
Pablo Rodrigues Dobke (Doutorando – UFSM)Michele de Oliveira Casali (Graduanda – UFSM)
Esta comunicação visa ampliar a reflexão acerca do território como um lugar de poder a partir dasrelações sociais. Para tanto, nos deteremos a um exame de obras bibliográficas que nos auxiliem arepensar esta categoria de análise visando os distintos projetos de pesquisa dos autores, sendoestes vinculados ao projeto “História da América Platina e os processos de construção econsolidação dos Estados Nacionais do século XIX e início do século XX” , coordenado pela Prof.ªDr.ª Maria Medianeira Padoin, estando ainda integrado ao Grupo de Pesquisa CNPq/UFSM “HistóriaPlatina: sociedade, poder e instituições” e ao Comitê “História, Regiões e Fronteiras” da Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Assim, este trabalho refere-se à pesquisa deDoutorado desenvolvida na Linha de Pesquisa “Sociedade, Fronteira e Politica” do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e integrado com atividadesde pesquisa de iniciação científica com bolsa PIBIC/UFSM/CNPq.
Palavras-chave: Território, Relações sociais de poder, História Platina.
A ÉTICA E A MORAL RODONIANA PARA A AMÉRICA LATINARenata Baldin Maciel (Doutoranda – UFSM)
José Enrique Rodó (1871-1917)foi um intelectual uruguaio que problematizou a situação da AméricaLatina na civilização ocidental especialmente em Ariel (1900), sua obra mais conhecida. Nessesentido, pode-se dizer que os modelos de civilização constituídos pela tríade América Latina – Estados Unidos – Europa, o emprego das personagens de W. Shakespeare como arquétipos emtermos humanos, utilizados para se pensar a civilização ocidental, a rejeição ao espírito utilitário cujaprincipal encarnação seria os Estados Unidos, as críticas à democracia de sua época, o apelo à juventude, a ideia de progresso, a defesa da tradição de raça e o apresso aos valores da GréciaClássica e do Cristianismo constituem a expressão máxima da sua filosofia da história. Dessa forma,o objetivo desse artigo é expor os componentes éticos e morais de sua narrativa histórica quedemonstram seu empenho em consolidar um lugar para América Latina no mundo Ocidental. Em sua
perspectiva progressista, a juventude seria a responsável pela evolução e pelo aperfeiçoamento dos
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
31/164
valores da sociedade enquanto que a tríade América Latina – Estados Unidos -Europa representaria
o núcleo da formação identitária denominada “Euro-Latino-América”. Esses, por sua vez, podem serconsiderados os pontos de partida para compreensão da problemática moral “do que devemosfazer?” e ética “do Por que devemos?” enquanto latino-americanos.
Palavras-chave: História das Ideias. José Enrique Rodó. Ética. Moral. América Latina.
NOTAS SOBRE OS USOS DO BRASIL NA REFLEXÃO DA “GERAÇÃO DE 70” PORTUGUESA Rômulo de Jesus Farias Brito (Doutorando – PUCRS)
Nesta comunicação, pretende-se apresentar e analisar certas reflexões realizadas por intelectuaisligados à chamada “geração de 70” portuguesa, que empregaram de alguma forma o Brasil em suasargumentações durante análises sobre a sociedade de Portugal ao final do século XIX. As obrasespecíficas em estudo se referem a um trecho do segundo discurso proferido por Antero de Quentalnas Conferências do Casino (1871), a um segmento da edição de fevereiro da publicação mensal AsFarpas, de Eça de Queiroz (1872) e a um conjunto de caricaturas produzidas por Raphael BordalloPinheiro entre 1889 e 1890 no periódico Pontos nos II . O grupo ao qual estavam alinhados estesautores visava uma transformação política e cultural em Portugal através da livre discussão deideias. Apesar das diferentes conexões estabelecidas entre os dois países nos referidosdocumentos, todas encontravam como eixo o passado comum das duas nações e se inseriam emuma concepção de temporalidade dominante nas interpretações sobre as nações ao final do
Oitocentos. Através de sua análise, pretende-se demonstrar a permanência do Brasil no escopo deintelectuais portugueses, mesmo após a emancipação política, e elucidar as formas com que o paísfoi empregado nas ponderações sobre várias esferas da sociedade portuguesa.
Palavras-chave: História de Portugal, Intelectuais, Relações Luso-Brasileiras, Identidade Nacional
ST 6 – ESTADOS UNIDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAISCoordenador – Kellen Bammann
Sala 307 – Prédio 03 [26/05/15]
Tarde – 13h30min às 17h30min
POR QUEM ELE LUTOU? REPRESENTAÇÕES DO HERÓI NA REVISTA CAPTAIN AMERICACOMICS (1941 – 1943)Gustavo Silveira Ribeiro (Pós-graduando – IFSul)
Este texto é um recorte do meu trabalho de conclusão de curso em que analisei as representaçõessobre a política estadunidense nas revistas em quadrinhos do Capitão América, publicadas pelaeditora Timley nos Estados Unidos entre 1941 e 1943. Foram analisados vinte e dois números, comoos quadrinhos são uma fonte relativamente nova na pesquisa em história foi necessário criar uma
metodologia de análise. Para isso, recorri a quadrinistas que escreveram sobre quadrinhos como Will
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
32/164
Eisner e Rubén Varillas e, também, a autores pautados nos estudos culturais. Durante a pesquisa
entendeu-se que, apesar de se tratar de um personagem de histórias ficcionais, enquanto umarepresentação daquilo que era considerado o ideal de herói naquele momento, podemoscompreender pela sua análise os valores e condutas associados a masculinidade. As mídias emgeral e, portanto, os quadrinhos, fornecem representações daquilo que as pessoas poderão utilizarpara moldar suas identidades, seu senso de mundo e aprendem a dividir o “nós e o “eles”. Assim, ashistórias do Capitão América não continham apenas representações sobre a política estadunidenseque objetivavam influenciar a opinião política de seus leitores. Elas continham, também,representações culturais sobre as masculinidades de seu tempo, sendo seu maior expoente o heróique dava nome a revista: o Capitão América.
Palavras-chave: História, quadrinhos, política, mídias, cultura.
OS ANOS 1950 NA VITRINE: CONSUMO E MODERNIDADE NO BRASILKellen Bammann (Doutoranda – PUCRS)
O presente trabalho intitulado “Os anos 1950 na vitrine: consumo e modernidade no Brasil” faz parteda pesquisa que esta sendo desenvolvida para a tese de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. O trabalho tem comotema as campanhas publicitárias veiculadas nos dois periódicos de maior circulação e vendagemnacional durante a década de 1950 no Brasil : O Cruzeiro e Manchete. O objetivo do trabalho é
analisar as peças publicitárias veiculadas por grandes anunciantes nacionais e estrangeirospresentes nas páginas dos periódicos como espaços de oferta de produtos de consumo. Produtosestes que inundam o país nos anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Desse modo,defende-se que as páginas dos dois referidos periódicos tem o papel de apresentar e divulgar osdiversos produtos ditos modernos para os consumidores brasileiros. Ao folhear as páginas de OCruzeiro e Manchete o leitor-consumidor passava a contemplar as peças publicitárias como modelosde modernidade a serem copiados. Neste sentido, compreende-se a as campanhas publicitáriasveiculadas nas páginas das duas revistas brasileiras como vitrines da modernidade a ser consumidae reproduzida. Desta forma, a análise procura expor o papel dos anúncios publicitários como vitrinesda modernidade que invade o Brasil a partir dos anos iniciais da década de 1950.
Palavras-chave: Brasil – Consumo – História do consumo – 1950
A INTERAÇÃO DE UM CONVÍVIO: “AMERICAN WAY OF LIFE”, BOA VIZINHANÇA E NOVOSCOSTUMES NA FORTALEZA DA DÉCADA DE 1940.Reverson Nascimento Paula (Mestrando – UECE)
Neste trabalho pretendemos compreender o processo de intensificação da influência norte-americana nos costumes das classes abastadas fortalezenses no período de 1942 a 1945, durante aSegunda Guerra Mundial. O recorte temporal se justifica, respectivamente, através do ano deinstalação das bases militares norte-americanas e do fechamento das mesmas, período que
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
33/164
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
34/164
Palavras-chave: América Latina, American Way Of Life, Centros Binacionais, Estados Unidos, Guerra
Fria.
OS DIREITOS HUMANOS COMO A ALMA DA POLÍTICA EXTERNA: JIMMY CARTER E ADIPLOMACIA AMERICANA PARA O CHILEWaldemar Dalenogare Neto (Mestrando – PUCRS)
Este trabalho visa abordar como o presidente americano Jimmy Carter (1977-1981) reorganizou seucorpo diplomático e abdicou da realpolitik de Henry Kissinger empregada nos governos de Nixon eFord para colocar a luta pelos direitos humanos como base principal de sua política externa. Combase na documentação liberada em 2013 pelo Departamento de Estado norte-americano, busco
apresentar como os Estados Unidos deixaram de apoiar cegamente a ditadura comandada peloGeneral Augusto Pinochet para exercer uma forte pressão pelo fechamento da DINA – agência deinteligência que era o instrumento de terrorismo de Estado do Chile – e efetivou duras sançõeseconômicas após Pinochet não se comprometer em seguir acordos firmados na ONU para diminuirconsideravelmente as acusações de violações dos direitos humanos.
Palavras-chave: Política externa; História dos Estados Unidos; Relações Internacionais; Ditaduras;
ST 7 – HISTÓRIA E EDUCAÇÃOCoordenadores – Débora Soares Karpowicz e Wanessa Tag Wendt
Sala 323 – Prédio 03 [27/05/15]
Tarde – 13h30min às 17h30min
A FOTOGRAFIA DAS PICHAÇÕES NAS PAREDES DO COLÉGIO ESTADUAL SENADOR ALBERTOPASQUALINI: SENSIBILIDADES PARA UMA EDUCAÇÃO PATRIMONIALCélia Margela Arnold (Mestranda – Unilasalle)
A pesquisa intitulada, A fotografia das pichações nas paredes do Colégio Estadual Senador AlbertoPasqualini: sensibilidades para uma educação patrimonial, está inserida na linha de pesquisa
Memória, Cultura e Identidade do Mestrado Profissional em Memória Social e Bens Culturais daUniversidade La Salle. Objetiva dar visibilidade a uma das mais importantes construções destinadasao ensino público, localizada na cidade de Novo Hamburgo, e que em 2003 foi integrada aoPatrimônio Cultural e Histórico do RioGrande do Sul. Construída em estilo Art Déco no final dadécada de 1920, diferencia-se das demais formas arquitetônicas, trazendo marcas de outra cultura,fazendo com que desperte nos alunos uma relação de estranhamento entre culturas, e também, dopassado com o presente. Nas últimas décadas o prédio e sua vasta área têm sofrido com asprecárias condições de preservação e o crescente descaso das autoridades públicas. Asinquietações da pesquisadora, Célia Margela Arnold, para essa dissertação foi perceber que duranteas saídas com a máquina fotográfica ao espaço do colégio revelou, além do esquecimento, umdiálogo entre alunos e instituição, através das pichações, e pensar em educação patrimonial
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
35/164
vinculada a pichação, se tornou um desafio. Partimos das pichações nas paredes do colégio para
questionar as maneiras como a comunidade escolar se relaciona com os espaços e as memóriasdesse lugar. Constatamos que a linguagem das pichações nas paredes revela uma maneira muitoparticular de envolvimento dos alunos com o prédio. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivogeral, sensibilizar os alunos participantes da pesquisa, que por meio de seus olhares, que atravésde suas fotografias adquiriram uma conscientização para preservação dessa instituição, criando umsentimento de pertencimento. Como produto final, uma das exigências do mestrado, será feito umaexposição das fotografias produzidas pelos alunos participantes do projeto.
Palavras-chave: Lugares de memória, Educação patrimonial, Sensibilidades, Fotografia, Pichações.
RETRATOS DE ESCOLA: UMA ANÁLISE DOS RITUAIS DE FORMATURA DA ESCOLA TÉCNICACOMERCIAL DO COLÉGIO FARROUPILHA DE PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS ANOS DE 1968 E1969Eduardo Cristiano Hass da Silva (Mestrando – PUCRS)Bárbara Virgínia Groff da Silva (Mestranda – Educação – PUCRS)
A pesquisa a ser apresentada analisa o ritual de formatura dos técnicos em contabilidade formadospela Escola Técnica de Comércio do Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS, a partir do estudo dascerimônias dos anos de 1968 e 1969. As fontes utilizadas encontram-se salvaguardadas no Memorialdo Colégio Farroupilha, espaço destinado à preservação e à divulgação das histórias e memórias da
instituição, bem como para pesquisas relacionadas à História da Educação. A escola, além de umespaço de ensino e aprendizagem, é um rico objeto de estudo para o historiador, pois se configurade distintas maneiras ao longo do tempo. Dessa forma, a partir dos vestígios encontrados na própriainstituição (e guardados por aqueles que lá passaram) conjuntamente com as memórias de quemconviveu naquele ambiente, é possível pesquisar e escrever sobre um espaço de sociabilidade quecada vez mais compõe as trajetórias de diversos sujeitos. O ritual escolar aqui analisado é ummomento importante tanto para a escola quanto para os discentes, pois marca a passagem dacondição de aluno para a condição de profissional, preparado para reingressar na sociedade (agoracomo técnico em contabilidade) e conseguir um emprego na área. A partir dos convites, fotografias eRelatórios Escolares da Escola Técnica de Comércio foi possível analisar elementos como a
constituição da turma de formandos, professores homenageados e paraninfos, bem como os objetos,símbolos e etapas (diploma, juramento, beca, mesa de autoridades, entre outros) que compõem acerimônia de formatura e o ritual de despedida com relação à escola dos novos contabilistas.
Palavras-chave: História da Educação, Ensino Técnico Comercial no Rio Grande do Sul, Ritual deFormatura, Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: UM CAMINHO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NA QUARTACOLÔNIA DO RSElaine Binotto Fagan (Mestre – EEEB João XXXIII)
-
8/18/2019 Caderno de Resumos II Ephis Pucrs1
36/164
O meio mais eficaz de garantir a defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de uma região é
pela Educação. Nesse sentido, foram e estão sendo realizados programas e projetos de EducaçãoPatrimonial na região Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, nas escolaspúblicas municipais e estaduais, com caráter interdisciplinar. A chamada “Quarta Colônia deImigração Italiana” integra atualmente os seguintes municípios: Ivorá, Silveira Martins, PinhalGrande, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, São João do Polêsine, Agudo e RestingaSeca. Este trabalho tem por objetivo destacar a importância da Educação Patrimonial no processoeducacional como um espaço privilegiado para a discussão de novos conceitos relacionados aoexercício da cidadania, melhoria da qualidade de vida, direito de conhecer o passado e a memória decada povo, sua pluralidade cultural, a valorização dos bens culturais , defesa do meio ambiente,promovendo, assim, políticas preservacionistas do Patrimônio Cultural e Natural da Quarta Colônia
de Imigração Italiana do RS. Nesta comunicação será apresentado o livro paradidático “QuartaColônia: Terra, Gente e História” resultado da pesquisa desenvolvida no programa de Pós -Graduação em Patrimônio Cultural – Mestrado Profissional /UFSM e das viagens realizadas pelosalunos da Escola Estadual de Educação Básica João XXIII de São João do Polêsine em pontoshistóricos e turísticos da Quarta Colônia como professora de História, Filosofia e Sociologia. Esselivro busca suprir a carência de material didático sobre o Patrimônio Cultural e Natural da QuartaColônia. Este material apresenta, de forma didática, a história da imigração italiana no Brasil,tendocomo personagens principais uma menina (Isabela) que ao encontrar um baú repleto de objetossente-se tomada pela curiosidade de entender qual o significado e importância daquele materialamarelado, envelhecido pelo tempo. Neste momento aparece o avô (Francesco) que fará parte
destas novas descobertas e, juntos, irão buscar/ encontrar respostas para os inúmerosquestionamentos.
Palavras-chave: Educação Patrimonial, Quarta Colônia, Imigração, Históri