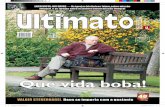TESIS COMPLETA 311
-
Upload
david-supo -
Category
Documents
-
view
59 -
download
1
description
Transcript of TESIS COMPLETA 311
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
COORDENAO DO PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (PPGECA) CAMPUS I CAMPINA GRANDE
AVALIAO ESTRUTURAL DE SEGMENTO DA AV. FLORIANO PEIXOTO NA
ZONA URBANA DE CAMPINA GRANDE-PB.
por
Ricardo Lima Rodrigues
Dissertao apresentada ao Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande Campus I Campina Grande, como parte dos requisitos necessrios para a obteno do ttulo de MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL. REA DE CONCENTRAO: GEOTECNIA
Campina Grande - Paraba
Julho/2007
-
ii
RICARDO LIMA RODRIGUES
AVALIAO ESTRUTURAL DE SEGMENTO DA AV. FLORIANO PEIXOTO NA
ZONA URBANA DE CAMPINA GRANDE-PB.
Dissertao apresentada ao Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina Grande Campus I Campina Grande, como parte dos requisitos necessrios para a obteno do ttulo de MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL. REA DE CONCENTRAO: GEOTECNIA Orientadores: Prof. Dr. JOS AFONSO G. MACDO UAEC/CTRN/UFCG E
Prof. Dra. LICIA MOUTA DA COSTA NT/CAA/UFPE
Campina Grande - Paraba
Julho/2007
-
iii
AVALIAO ESTRUTURAL DE SEGMENTO DA AV. FLORIANO PEIXOTO NA
ZONA URBANA DE CAMPINA GRANDE-PB.
Candidato: Engenheiro RICARDO LIMA RODRIGUES
Dissertao apresentada ao Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da Universidade
Federal de Campina Grande Campus I Campina Grande, como parte dos requisitos
necessrios para a obteno do ttulo de MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL.
Aprovada por:
_______________________________________________
Prof. Dr. JOS AFONSO G. MACDO UAEC /CTRN/UFCG Orientador
_______________________________________________
Prof. Dra. LICIA MOUTA DA COSTA NT/CAA/UFPE - Co-orientadora
_____________________________________________
Prof. Dr. ARIOSVALDO ALVES BARBOSA SOBRINHO DEMA/CTRN/UFCG Examinador Interno
_____________________________________________
Prof. Dr. NILTON PEREIRA DE ANDRADE DEC/CT/UFPB Examinador Externo
Campina Grande - Paraba
Julho/2007
-
iv
Temos sempre que nos preocupar com o
futuro, at porque viveremos nele para sempre.
O autor
-
v
AGRADECIMENTOS
Agradeo a DEUS e a toda minha famlia, em especial, minha me, Maria de Jesus,
pelo apoio dado em todos estes anos.
Agradeo ao professor Jos Afonso G. Macdo por toda a ateno e dedicao a
mim prestada durante todo este tempo de convvio no Laboratrio de Engenharia de
Pavimentos - LEP, pelo direcionamento e orientao deste trabalho, pelo apoio, estmulo e
ateno sempre pacientes nas horas mais difceis agindo como conselheiros com suas
experincias de vida para nos mostrar o melhor caminho; e por confiarem em mim na
realizao deste trabalho.
Ao professor Ailton Alves Diniz, por ter me ensinado a manusear e operar os
equipamentos utilizados nesta pesquisa, assim como pela sua contribuio em todos os
ensaios aqui apresentados.
Ao colega Fabiano Pereira Cavalcante, pelo apoio e ensinamentos prestados nos
momentos que lhes foram solicitados.
Aos colegas que tiveram uma importante participao neste trabalho na medida em
que participaram junto comigo nesta empreitada, assim como aos que participaram
indiretamente e com carinho especial a Sarah Jimena de Azevedo e Maria Sonia Pereira de
Azevedo.
Ao CNPq, pela concesso de uma bolsa de estudos que me proporcionou maior
tranqilidade financeira para manter-me no programa de ps-graduao da UFCG.
-
vi
NDICE
CAPTULO 1 ................................................................................................................... XV
INTRODUO .................................................................................................................... 1
1.2 Escopo do Trabalho..................................................................................................... 3
CAPTULO 2 ........................................................................................................................ 5
REVISO BIBLIOGRFICA ............................................................................................ 5
2.1 Pavimentos ................................................................................................................... 5
2.1.1 - Base e Subbase .................................................................................................................................... 6 2.1.2 - Imprimao.......................................................................................................................................... 6 2.1.3 - Revestimento........................................................................................................................................ 7
2.2 - Comportamento Resilinte dos Solos ......................................................................... 8
2.2.1- Mdulo de Resilincia ........................................................................................................................ 10
2.3 Avaliao Estrutural ................................................................................................. 12
2.3.1 - Ensaios Destrutivos........................................................................................................................... 14 2.3.2 - Ensaio No Destutivos ...................................................................................................................... 23 2.3.3. - A Retroanlise para Obteno de Mdulos Resilientes ................................................................... 27
2.3.3.1 - Mtodos de retroanlise ........................................................................................................... 28 2.3.3.2 - Fatores que influem no processo de retroanlise...................................................................... 30 2.3.3.3 - Retran-5L................................................................................................................................... 31
2.4 - A Teoria das Camadas Elsticas para Avaliao de Pavimentos ........................ 33
2.4.1 - Programas Automticos para Calculo de Tenses e Deformaes em Pavimentos....... 34
2.5 Desempenho de Pavimentos...................................................................................... 45
2.5.1 - A Fadiga nos Pavimentos............................................................................................................... 45 2.5.2 - A Deformao Permanente nos Pavimentos ................................................................................. 56
CAPTULO 3 ...................................................................................................................... 69
CARACTERIZAO DA REA E METODOLOGIA EMPREGADA..................... 69
3.1 - A Cidade de Campina Grande no Contexto Regional ............................................ 69
3.1.2 - Dados Estatsticos .......................................................................................................................... 71
3.2 - A urbanidade .............................................................................................................. 72
LISTA DE FIGURAS viii
LISTA DE QUADROS ix
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS xi
LISTA DE SMBOLOS xiii
RESUMO xiv
ABSTRACT xv
-
vii
3.2.1 - Infraestrutura Bsica ..................................................................................................................... 72 3.2.2 - Transportes..................................................................................................................................... 73
3.3 - Clima e Vegetao ...................................................................................................... 75
3.4 - Projeto de Pavimentao da Via Expressa ............................................................. 75 3.4.1 - Caractersticas do Trecho em Estudo e a Importncia do Empreendimento no Contexto Regional76 3.4.2 - Especificaes do Projeto Executado.............................................................................................. 78
3.5 - A Construo e o Controle de Qualidade Exigncias de Projeto........................ 82
3.5.1 - Terraplenagem ............................................................................................................................... 82 3.5.2 -Pavimentao .................................................................................................................................. 83
3.6 - Metodologia Aplicada na Pesquisa ........................................................................... 92
3.6.1 - Materializao do Segmento ........................................................................................................... 92 3.6.2 - Coleta de Amostras e Ensaios Realizados....................................................................................... 95 3.6.3 - Levantamento Deflectomtrico........................................................................................................ 96 3.6.4 - Analise Mecanstica ......................................................................................................................... 99
CAPITULO 4 .................................................................................................................... 103
APRESENTAO E DISCUSSO DOS RESULTADOS .......................................... 103
4.1 - Ensaios de Laboratrio............................................................................................ 103
4.1.1 - Ensaios dos Materiais Granulares .................................................................................................. 103 4.1.2 - Ensaios Realizados com CBUQ ..................................................................................................... 108
4.2 - Recosntituio da Dosagem Marshall do CBUQ................................................... 111
4.3 - Ensaios de Campo .................................................................................................... 113
4.3.1 - Ensaios Deflectomtricos ................................................................................................................ 113
4.4 - Anlise utilizando o programa Retran-5L............................................................ 116
4.5 - Anlise utilizando os programas ELSYM 5 e FEPAVE II................................... 118
CAPTULO 5 .................................................................................................................... 122
5.1 - Concluses................................................................................................................. 122
5.2 - Sugestes ................................................................................................................... 123
CAPTULO 6 .................................................................................................................... 124
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................... 124
-
viii
LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1: Equipamento de ensaio de resiliencia, (LEP, 2007)
Figura 2.2: Equipamento triaxial dinmico de compresso axial( Pinto e Preussler,2002)
Figura 2.3: Fluxograma do Programa FEPAVE, Motta (1991)
Figura 2.4: Influncia da temperatura na vida de fadiga (Pinto, 1991) citado por Medina
(1997)
Figura 2.5: NFAT Nomograma da Shell para estimar a vida de fadiga de misturas
asfalticas( SPDM, 1998)
Figura 2.6: variao do coeficiente C do modelo do manual MS-1 do instituto de asfalto
dos Estados Unidos com os valores VV e Vb
Figura 3.1: Mapa do estado da Paraba (enciclopdia livre, 2005)
Figura 3.2: Mapa de acesso rodovirio, (enciclopdia livre, 2005)
Figura 3.3: Foto Area de Campina Grande (Google Earth, 2007)
Figura 3.4: Seo tipo da Av. Floriano Peixoto
Figura 3.5: Execuo da terraplenagem Av. Floriano Peixoto
Figura 3.6: Coleta de amostras para determinao de umidade, Av. Floriano Peixoto
Figura 3.7 : Execuo da Base, Av. Floriano Peixoto
Figura 3.8 : Execuo da conformao da base e imprimao,Av. Floriano Peixoto
Figura 3.9 : Execuo do revestumento,Av. Floriano Peixoto
Figura 3.10: Foto de Campina Grande e o trecho em estudo (Google Earth, 2007)
Figura 3.11: levantamento deflectomtrico, Av. Floriano Peixoto
Figura 3.12: Viga Benkelman utilizada no levantamento deflectomtrico na Av. Floriano
Peixoto
Figura 3.13: Pontos de anlise para obteno dos parmetros de estudo do pavimento
Figura 4.1: Curva granulomtrica, faixa C, DNIT ES 313/97.
Figura 4.2: Curva granulomtrica, faixa C, DNIT ES 031/2006.
Figura 4.3: Bacias de deflexes e bacia obtida pelo programa ELSYM5
-
ix
LISTA DE QUADROS
Quadro 2.1:Valores do Coeficiente de Poisson, ( Pinto e Preussler, 2002)
Quadro 2.2: Modelos Existentes no FEPAVE, Motta (1991)
Quadro 2.3: Valores provveis para e , segundo Cardoso (1987)
Quadro 3.1:Quantidade de alunos e professores do municpio Campina Grande
( IBGE. 2003)
Quadro 3.2: ndice de desenvolvimento humano, Campina Grande ( PNUD, 2000)
Quadro 3.3: Saneamento urbano, Campina Grande ( IBGE, 2000)
Quadro 3.4: Dados Quantitativos da infra-estrutura de Campina Grande (SEPLAN,2005)
Quadro 3.5: Frota de Veculos de Campina Grande (IBGE,2004)
Quadro3.6:Distncias de Campina Grande para as principais cidades do
Nordeste(SEPLAN,2005)
Quadro 3.7: Granulometria Filler
Quadro 3.8: Granulometria faixa C do DNIT
Quadro 3.9: Localizao dos furos para coleta de amostras do revestimento.
Quadro 3.10: Estaqueamento e posicionamento dos pontos para analise deflectomtrica
Quadro 3.11: Estaqueamento e posicionamento dos pontos para analise defectomtrica
Quadro 4.1: Resumo dos ensaios de caracterizao dos matrias granulares
Quadro 4.2: Pares de tenso aplicados no ensaio triaxial dinmico
Quadro 4.3: Resultados coeficientes baseado no modelo composto.
Quadro 4.4: Mdulos mdios obtidos no programa FEPAVE II
Quadro4.5: Resultados dos ensaios de mdulo de resilincia a cargas repetidas do
revestimento em CBUQ.
Quadro 4.6: Resistncia trao por compresso diametral (RT) das misturas estudadas.
Quadro 4.7: Flexibilidade das misturas asflticas.
Quadro 4.8: Granulometria da Mistura
Quadro 4.9: Moldagem da Dosagem Marshall Reconstituda
-
x
Quadro 4.10: Deflexes mximas obtidas no trecho pela viga Benkelman, sentido
centro/ala.
Quadro 4.11: Deflexes mximas obtidas no trecho pela viga Benkelman, sentido
ala/centro
Quadro 4.12: Bacias de deflexes medidas nos pontos de Dmx, D md e Dmin
Quadro 4.13: Resumo da retroanlise pelo programa RETRAN5L
Quadro 4.14: Deformao especifica de trao sob o revestimento obtidas com o ELSYM5.
Quadro 4.15: Tenso vertical no topo do subleito obtidas com o ELSYM 5.
Quadro 4.16: Resultados obtidos no programa FEPAVE II
Quadro 4.17: Tenses sobre Subleito a partir do FEPAVE II e ELSYM5
Quadro 4.18: Deformao especfica sob o revestimento a partir do FEPAVE II e do
ElSYM5
-
xi
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AASHTO = American Association of State Highway and Transportation Officials
ATECEL = Associao Tcnico-Cientfica Ernesto Luiz de Oliveira Jnior
BG = Brita Graduada
BGTC = Brita Graduada Tratada com Cimento
CA = Corrente Alternada
CAP = Cimento Asfltico de Petrleo
CAGEPA = Companhia de gua e Esgoto do Estado da Paraba
CBR = Califrnia Bearing Ratio ndice de Suporte Califrnia
CBUQ = Concreto Betuminoso Usinado a Quente
CELB = Companhia de Eletricidade da Borborema
CHESF = Companhia Hidroeltrica de So Francisco
COPPE = Coordenao dos Programas de Ps-graduao em Engenharia da UFRJ
DC = Deformao controlada
DER = Departamento de Estradas de Rodagem
DNER = Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNIT = Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
EA = Equivalente de Areia
ELSYM = Elastic Layered System
EUA = Estados Unidos da Amrica
FE = Fator de Eixo
FC = Fator de Carga
FV = Fator de Veculo
FORTRAN = Formula Translation
FEPAV = Finite Element Analysis of Pavement Structures
FWD = Falling Weight Deflectometer
HRB = Highway Research Board
HVS = Heavy Vehicle Simulator
IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
IDH = ndice de Desenvolvimento Humano
-
xii
ISC = ndice de Suporte California
LTPP = Long Term Pavement Performance
LVDT = Linear Variable Differential Transformer
ME = Mtodo de Ensaio
MR = Mdulo de Resilincia
N = Nmero de Projeto
PIB = Produto Interno Bruto
PMF = Pr Misturado a Frio
PSR = Present Serviceability Rating
RBV = Relao Betume-Vazios
RETRAN2L = RETRoAnlise de sistemas com 2 camadas elsticas Lineares
RETRAN5L = RETRoAnlise de sistemas com 5 camadas elsticas Lineares
REVAP = Refinaria Henrique Laje
RNA = Redes Neurais Artificiais
RMS = Erros de Ajustamentos
RT = Resistncia Trao
SEPLAN = Secretaria de Planejamento
SUPLAN = Superintendncia de Planejamento
SHRP = Strategic Highway Research Program
SN = Numero EStrutural
TC = Tenso Controlada
USACE = United States Army Corps of Engineers
VAM = Vazios no Agregado Mineral
VE = Valor Estrutural
-
xiii
LISTA DE SMBOLOS
N = Nmero de passadas do eixo padro simples em uma s direo
C = Grau Celsius
kPa = kilopascal
kg = kilograma
kgf = kilograma-fora
MPa = Megapascal
Rpm = Rotaes por minuto
g = Grama
mm = Milmetro
SSF = Segundo Saybolt-Furol
r = Deslocamento resiliente
G' = Componente elstica (recupervel) do mdulo de cisalhamento complexo
G'' = Componente viscosa (no recupervel) do mdulo de cisalhamento complexo
Hz = Hertz
# = Abertura de peneira
S = Rigidez esttica
Dmm = Dcimo de milmetro
= Coeficiente de Poison
t = Tenso de trao
v = Tenso vertical
Dmx, = Deflexo Mxima
p = % de asfalto residual, em relao ao peso total dos agregados;
= superfcie especifica do agregado(m2 /Kg);
K = coeficiente denominado mdulo de riqueza
-
xiv
RESUMO
Este trabalho apresenta a avaliao estrutural da pavimentao do prolongamento da
Avenida Marechal Floriano Peixoto no municpio de Campina Grande Paraba, onde
foram coletados materiais de campo do segmento em fase final de construo, com
pavimentos asflticos dimensionados pelo mtodo emprico do DNER. Ensaios realizados
em laboratrio foram empregados para caracterizao fsica e mecnica dos materiais das
camadas de base e sub-base, bem como de subleito, alm dos ensaios para a determinao
do mdulo de resilincia e resistncia a trao nas amostras da camada betuminosa do
pavimento, que foram obtidas atravs da extratora rotativa. Em uma segunda etapa, foram
levantadas deflexes mximas em estacas alternadas, assim como obteno das bacias de
deflexo nas ocorrncias de Dmx, Dmd e Dmim. Para o levantamento das deflexes utilizou-
se a viga Benkelman, de propriedade do Departamento de Estradas e Rodagens do estado
da Paraba DER/PB. De posse das bacias, utilizou-se a tcnica da retroanlise, com o
auxilio do programa RETRAN5L, para identificar os mdulos de trabalho das camadas do
pavimento e do subleito do trecho em estudo e assim serem associados aos resultados dos
ensaios destrutivos, gerando dados suficientes para avaliar estruturalmente o
comportamento do pavimento em anlise. Para anlise mecanstica, foram utilizados
programas computacionais com emprego da teoria das camadas elsticas, a partir dos
parmetros obtidos em ensaios de laboratrio; um dos programas utilizados foi o programa
de elementos finitos FEPAVE II, empregando-se os parmetros elsticos obtidos em
ensaios triaxiais dinmicos de carga repetida objetivando a determinao dos mdulos de
resilincia das camadas granulares; em seguida foi utilizado o programa ELSYM5, com
caracterstica elstico-linear, para determinao das tenses e das deformaes nos pontos
mais crticos da estrutura fazendo-se assim uma anlise mecanstica linear da estrutura em
estudo.
-
xv
ABSTRACT
This dissertation presents a structural evaluation of the pavement of Marechal
Floriano Peixoto Avenue prolongation, located in Campina Grande - Paraba, where
samples of the materials were collected from at final construction. The asphalt pavements
were dimensioned by DNER empirical methods. Laboratory tests were carried out for
physical and mechanical characterization of the subsurface layers materials, besides the
tests for determination of resilient modulus and tension strength in samples of the pavement
bituminous layer, which were obtained by rotating extraction. In a second step, maximum
deflection in alternated props was measured, as well as the deflection basins in Dmax,
Dmed and Dmim. For deflection measurements it was used a Benkelman beam from
Parabas Road Department - DERlPB. Once the basins were defined, a retro analysis
technique was performed by RETRAN5L program, in order to define the modulus of each
pavement layer of the studied stretch and though to associate them to the destructive test
results, generating sufficient data for evaluating the pavement structural behavior.
Computational programs with elastic layers theory, using elastic parameters obtained in
laboratory tests were adopted for mechanistic analysis. One of the programs used was the
finite element program FEPAVE II, using the elastic parameters from repeated load
dynamic triaxial tests aiming to establish the resilient modulus of granular layers; after that
it was used ELSYM5 program, with elastic-linear characteristic for determination of stress
and strains in the structure critical points, performing thus a linear mechanistic analysis of
the structure studied.
-
1
CAPTULO 1
INTRODUO
O mtodo de dimensionamento de pavimentos flexveis que se baseia no CBR
dos materiais, desenvolvido pelo U. S. Corps of Enginners, muito utilizado no Brasil,
no tem como considerar explicitamente a resilincia.
A anlise de tenses e deformaes em estruturas de pavimentos como sistemas
de mltiplas camadas e a aplicao da teoria da elasticidade e do mtodo dos elementos
finitos, dero ensejo considerao racional das deformaes resilientes no
dimensionamento de pavimentos. Esta a tendncia observada a partir da dcada de 60.
Assim, crescem em importncia a obteno dos parmetros elsticos ou resilientes dos
solos e materiais utilizados em pavimentos.
Os ensaios triaxiais de carga repetida para solos, assim como os de trao
indireta por compresso diametral, tambm sob ao de carga repetida para, materiais
asflticos e cimentados, tm proporcionado a determinao das caractersticas resilientes e
o comportamento fadiga destes materiais sob condies que se aproximam das existentes
no campo. Ultimamente, muitos estudos vm sendo realizados no sentido de incorporarem
os seus resultados em procedimentos de projetos de pavimentos.
O comportamento de solos ou materiais granulares em ensaios triaxiais de carga
repetida tem sido estudado por muitos pesquisadores. Os solos so submetidos cargas
repetidas de durao e freqncia comparveis as que ocorrem nos pavimentos.
As deformaes resilientes so deformaes elsticas no sentido de que so
recuperveis. Entretanto, no variam necessariamente de modo linear com as tenses
aplicadas, e dependem de vrios fatores que no so considerados no conceito convencional
de elasticidade. Segundo Preussler (1983), os principais fatores que afetam o
comportamento resiliente dos solos granulares, so:
- Nmero de repeties da tenso desvio
- Histria de tenses
- Durao e freqncia do carregamento
- Nvel de tenso aplicada
-
2
O mdulo resiliente tanto aumenta como diminui com o nmero de repeties de
tenso desvio, e esta variao depende do ndice de vazios crtico, da densidade do
material, do grau de saturao e do valor da tenso aplicada repetidamente.
Os materiais de pavimentos tm comportamento no linear, dependendo do
tempo e da histria de tenses. Torna-se necessrio ento ensaia-los sob condies
aplicveis quelas encontradas no campo. Para que uma nica amostra de solo seja ensaiada
a vrios nveis de tenses e determinado o mdulo resiliente para cada nvel, necessrio
eliminar ao mximo o efeito da histria de tenses no comportamento resiliente. Para isto a
amostra deve ser previamente submetida a carregamentos repetidos variados
(condicionamento) compatveis com os de campo, alm de eliminar as deformaes
permanentes iniciais.
O tempo de aplicao da carga repetida determinado em funo da velocidade
dos veculos e da profundidade do pavimento onde se deseja calcular o mdulo resiliente. A
freqncia de aplicao de carga funo das condies de trafego da estrada.
O mdulo resiliente em solos granulares aumenta muito com a presso
confinante, sendo pouco influenciado pelo valor da tenso desvio repetida, desde que esta
tenso no cause excessiva deformao plstica.
Uma maneira alternativa e considerada por muitos pesquisadores o mtodo que
mais se aproxima da real situao in-situ das caractersticas resilientes das camadas de
pavimento, seria o uso da retroanlise dos mdulos resiliente atravs de programas
computacionais. A retroanlise dos mdulos elsticos das camadas do pavimento e do
subleito um excelente processo de avaliao estrutural de pavimento. Ele permite inferir,
atravs da forma e da magnitude da bacia de deformao, a capacidade estrutural de cada
camada do pavimento e do subleito. Associada a mtodos tradicionais, a retroanlise
constitui hoje a mais moderna e poderosa ferramenta de avaliao estrutural de pavimentos.
O primeiro passo para a aplicao de mtodos analticos calcular a resposta do
pavimento s cargas, ou seja, avaliar as tenses, deformaes e deslocamentos nas
diferentes camadas do pavimento, comparando-os a valores crticos ou admissveis. A
teoria da elasticidade tem sido o mtodo mais utilizado para estimar estes parmetros.
Para verdade, sabe-se, que um pavimento real sujeito carga no tem s a
parcela de deformao elstica atuando, mas tm-se tambm as parcelas plsticas, viscosas
-
3
ou visco-elstica. Muitos materiais apresentam uma relao tenso-deformao no linear,
so anisotrpicos e no homogneos e tem caractersticas tenso-deformao que variam
com o tempo. Alm disso, as condies de contorno das modelagens admitidas em cada
programa de clculo de tenses/deformaes tm influncia nos resultados em relao
teoria elstica clssica.
O objetivo desta pequisa avaliar estruturalmente o pavimento, utilizando-se
associao entre resultados de ensaios destrutivos e no destrutivos. Os objetivos
especficos so:
1. realizar ensaios de caracterizao dos materiais granulares constituintes do
pavimento;
2. realizar ensaios triaxiais com carregamento repetido nos solos das camadas e
mistura asfltica do revestimento empregados no pavimento analisado;
3. realizar ensaios mecnicos e fsicos na mistura asfltica;
4. realizar ensaios defletomtricos e proceder anlise com tcnicas de retroanlise;
5. analisar atravs de simulaes numricas, empregando programas FEPAVE II E
ELSYM, o comportamento estrutural do pavimento.
Finalmente busca-se, neste trabalho, prestar contribuio a engenharia rodoviria
apresentando tecnologia disponvel no mercado, porm ainda no implantada pelos gestores
pblicos para preservao do patrimnio pblico. Adicionalmente, procurar-se contribuir
com mais uma fonte de pesquisa difundindo mtodos de avaliao de pavimento em
consonncia com que vem ocorrendo nos centros de excelncia deste Pas.
1.2 Escopo do Trabalho
Desenvolvem-se os trabalhos em seis captulos e quatro apndices, a saber:
Captulo 1 Contm uma introduo da pesquisa, mostrando seus objetivos e a
organizao do trabalho.
Captulo 2 So apresentados os conceitos bsicos utilizados na pesquisa, os tipos
de pavimentos, as caractersticas resilientes dos materiais constituintes, avaliao estrutural,
os mtodos computacionais para analise de pavimentos e mtodos de retroanlise. Constam
tambm os modelos de desempenho de pavimentos.
-
4
Captulo 3 Apresenta as caractersticas da regio e as metodologias de ensaios
empregados na avaliao do trecho analisado. Para o desenvolvimento deste captulo,
foram utilizados dados constantes no projeto de pavimentao da avenida, elaborado pela
Associao Tcnico-Cientfica Ernesto Luiz de Oliveira Jnior - ATECEL.
Captulo 4 So apresentados e discutidos os resultados obtidos na pesquisa,
baseados nas metodologias expostas no captulo anterior. So feitas apresentaes e analise
dos ensaios de caracterizao, ensaios deflectomtricos, bem como a avaliao estrutural do
trecho.
Captulo 5 So expostas as concluses e as sugestes para futuras pesquisas.
Captulo 6 So citadas as fontes bibliogrficas consultadas e/ou referenciadas na
pesquisa.
Apndice A Resumo dos estudos geotcnicos da Avenida Marechal Floriano
Peixoto, feitos pela ATECEL na poca da construo da via expressa.
Apndice B Relatrio de Ensaios Triaxial Dinmico.
Apndice C Fichas Resumos da Retroanlise
Apndice D Reconstituio da Dosagem Marshall
-
5
CAPTULO 2
REVISO BIBLIOGRFICA
2.1 Pavimentos
O pavimento uma estrutura constituda por uma ou mais camadas, com
caractersticas para receber as cargas aplicadas na superfcie e distribu-las, de modo que as
tenses resultantes fiquem abaixo das tenses admissveis dos materiais que constituem a
estrutura. PINTO & PREUSSLER (2002).
Os pavimentos so classificados em rgido, flexvel e semi-rgidos:
- Rgido: aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relao s camadas
inferiores e, portanto absorve praticamente todas as tenses provenientes do carregamento
aplicado. Exemplo tpico: pavimento constitudo por lajes de concreto de cimento Portland.
- Flexvel: aquele em que todas as camadas sofrem uma deformao elstica significativa
sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente
equivalentes entre as camadas. Exemplo tpico: pavimento constitudo por uma base de
brita (brita graduada, macadame) ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma
camada asfltica.
- Semi-rgido: caracteriza-se por uma base cimentada quimicamente, como por exemplo,
por uma camada de solo cimento revestida por uma camada asfltica.
As terminologias relacionadas s camadas de pavimentos contidas na norma
brasileira de pavimentao, NBR-7207/82, se encontram a seguir definidas:
- Subleito o terreno de fundao do pavimento ou do revestimento;
- Sub-base a camada corretiva do subleito, ou complementar base, quando por
qualquer circunstncia no seja aconselhvel construir o pavimento diretamente sobre o
leito obtido pela terraplenagem;
- Base a camada destinada a resistir e distribuir os esforos verticais oriundos dos
veculos sobre a qual se constri um revestimento; e
- Revestimento a camada, tanto quanto possvel impermevel que recebe
diretamente a ao do rolamento dos veculos e destinada a economia e simultaneamente:
-
6
a) melhorar as condies do rolamento quanto comodidade e segurana;
b) a resistir aos esforos horizontais que nele atuam tornando mais durvel a
superfcie de rolamento.
A seguir sero expostas alguns aspectos importantes a respeito das camadas
constituintes de um pavimento.
2.1.1 - Base e Subbase
Nos pavimentos asflticos (flexveis) a camada de base de grande importncia
estrutural. As tenses e deformaes de flexo induzidas na camada asfltica pelas cargas
do trfego esto associadas ao trincamento por fadiga desta camada. Se estas tenses e
deformaes so muito elevadas, o resultado um revestimento trincado na trilha de roda.
As tenses e deformaes de compresso nas camadas de base granulares, subbases
e subleitos esto associadas deformao permanente e a rugosidade do pavimento que se
desenvolvem nas camadas de base e subbase.
As bases podem apresentar uma das seguintes constituies:
- Granular
Sem Aditivo (Solo; Solo-brita; Brita graduada )
Com aditivo (Solo melhorado com cimento; Solo melhorado com cal )
- Cimentadas
Com ligante ativo ( Solo-cimento; Solo-cal; Concreto rolado )
Com ligante asfltico ( Solo-asfalto; Macadame asfltico; Mistura asfltica )
A base granular no tem coeso, praticamente no resistindo a esforos de trao,
diluindo as tenses de compresso principalmente devido a sua espessura.
A base cimentada dilui as tenses de compresso tambm devido a sua rigidez, que
provoca o aparecimento de uma tenso de trao em sua face inferior.
2.1.2-Imprimao
Aplicao de asfalto diludo (CM 30 ou CM 70) de baixa viscosidade sobre a
superfcie de uma base absorvente, objetivando:
-
7
- garantir uma certa coeso superficial;
- impermeabilizar;
- estabelecer a ligao entre a camada subjacente ao revestimento asfltico.
O uso dos asfaltos diludos tipo CM-30 indicado para superfcies com textura
fechada e o tipo CM-70 para superfcies com textura aberta.
Antes de executar a imprimao, a camada subjacente deve estar regularizada,
compactada e isenta de material slido. A taxa normalmente aplicada de asfalto diludo
varia de 0,9 a 1,4 l/m2. O tempo de cura geralmente de 48 horas. A penetrao do ligante
deve ser de 0,5 a 1,0 cm.
2.1.3 Revestimento
Rgido
- O concreto de cimento portland (ou simplesmente concreto) constitudo por uma mistura
de cimento portland + areia + agregado grado + gua;
- Paraleleppedos rejuntados;
Flexvel
Revestimentos constitudos por associao de agregados e materiais betuminosos.
Esta associao pode ser feita de duas maneiras: penetrao ou mistura.
a) Penetrao
- Invertida: executados atravs de uma ou mais aplicaes de material betuminoso
seguida(s) de idntico nmero de operaes de espalhamento e compresso de camadas de
agregados com granulometrias apropriadas. Pode ser simples (capa selante), duplo ou triplo
conforme o nmero de camadas.
- Direta: executado atravs do espalhamento e compactao de camadas de
agregados com granulometria apropriada. Cada camada, aps compresso submetida a
uma aplicao de material betuminoso. A ltima camada recebe, ainda, uma aplicao de
agregado mido. O revestimento tpico obtido por penetrao direta o chamado
Macadame Betuminoso. Consiste em duas aplicaes alternadas por camadas de material
asfltico sobre agregados de tamanho e quantidade especificados.
-
8
b) Mistura
O agregado pr-envolvido com o material betuminoso, antes da compresso.
Quando o pr-envolvimento feito na usina denomina-se pr-misturado propriamente dito.
Quando o pr-envolvimento feito na pista denomina-se pr-misturado na pista.
- Pr-misturado frio - quando os agregados (um ou mais) e ligantes utilizados permitem
que o espalhamento seja feito temperatura ambiente (embora a mistura tenha sido feita
quente). O ligante emulso asfltica ou asfalto diludo.
- Areia-asfalto frio - asfalto diludo ou emulso asfltica e agregado mido com a
presena ou no de material de enchimento. Espalhado e comprimido frio.
- Pr-misturado quente - quando o ligante e o agregado so misturados e espalhados ainda
quentes. O ligante o cimento asfltico. A espessura da camada varia de 3 a 10 cm.
- Areia-asfalto quente - agregado mido e cimento asfltico com presena ou no de
material de enchimento. Espalhado e comprimido quente. Espessura no deve ultrapassar
5 cm.
- Concreto asfltico (CBUQ) - mistura quente, em usina, de agregado mineral graduado,
material de enchimento e cimento asfltico, espalhado e comprimido quente.
2.2 - Comportamento Resilinte dos Solos
Adotando-se uma abordagem mecanstica ou mecanstica-emprica em projetos
rodovirios, essencial o uso de termos como resilincia, mdulo de resilincia e ensaios
triaxiais dinmicos realizados com um dos objetivos de definir equaes que
exprimam o valor deste mdulo de acordo com as tenses atuantes. O Mdulo de
Resilincia de solos e materiais de pavimentao para base e sub-base definido como a
relao entre a tenso pulsante aplicada no ensaio triaxial (tenso desvio) e a sua
correspondente deformao axial recupervel.
A medida dos deslocamentos verticais sofridos por um pavimento sujeito ao de
cargas transientes originadas pela passagem de rodas de veculos em sua superfcie foi
realizada de forma pioneira por Porter e Barton no rgo rodovirio do estado norte
americano da Califrnia, em 1938, atravs da instalao de sensores
mecanoeletromagnticos dentro dos pavimentos. A esses deslocamentos, que mostravam-se
reversveis, deu-se o nome de deflexo (MEDINA, 1997).
-
9
Em 1951, Francis Hveem realizou o primeiro estudo sistemtico para determinar a
deformabilidade de pavimentos, estabelecendo valores mximos admissveis de deflexes
para a vida de fadiga satisfatria de diferentes tipos de pavimentos. Hveem relacionou o
trincamento progressivo dos revestimentos asflticos deformao resiliente (elstica) das
camadas subjacentes dos pavimentos. O termo resiliente foi usado por Hveem em lugar de
deformao elstica sob o argumento de que as deformaes nos pavimentos so muito
maiores do que as que ocorrem nos slidos elsticos com que lida o engenheiro - concreto,
ao, etc (MEDINA, 1997).
Hveem havia desenvolvido, em 1946, uma primeira verso de um equipamento
capaz de medir em laboratrio o efeito da aplicao de cargas repetidas em corpos de prova
de materiais de pavimentao, o qual foi denominado resilimetro. As cargas repetidas,
aplicadas axialmente, com intensidade e freqncia variveis, simulam o efeito das cargas
das rodas dos veculos em trnsito. Na Universidade da Califrnia, na dcada de 50, Seed e
Fead desenvolveram um equipamento triaxial dinmico, de cargas repetidas, visando a
determinao do mdulo de resilincia para fins rodovirios e que serviu de base para os
modelos utilizados atualmente (CHAVES, 2000).
No Brasil, a metodologia de dimensionamento de pavimentos usualmente
empregada caracteriza-se por enfocar a capacidade de suporte dos pavimentos em termos
de ruptura plstica sob carregamento esttico, retratada atravs do ensaio de CBR. A
observao constante de que boa parte da malha rodoviria de pavimentos flexveis vem
apresentando fadiga gerada pela contnua solicitao dinmica do trfego atuante,
contribuiu e ainda contribui para a introduo, no pas, de estudos da resilincia dos
materiais de pavimentao.
A primeira tentativa de agrupar os solos brasileiros segundo suas caractersticas
resilientes foi apresentada em 1980 por Medina e Preussler (MEDINA, 1997). A
Classificao Resiliente, adotada pelo DNER em seu Manual de Pavimentao de 1996, foi
desenvolvida por Pinto e Preussler, sob a orientao de Medina, a fim de qualificar os solos
quanto ao seu comportamento mecnico em termos de deformabilidade elstica (DNER,
1996).
-
10
Uma tentativa tambm constante do Manual de Pavimentao do DNER (DNER,
1996) baseia-se em uma possvel relao entre MR e CBR, tendo como parmetro
delimitador a relao entre CBR e a percentagem total de argila.
FERREIRA (2002) lista vrias tentativas de previso de valores de mdulos de
resilincia que se seguiram s j citadas, a saber: a simplificao da proposta original de
HEUKELON & KLOMP (1962) que relaciona diretamente o MR com o CBR; a obtida por
MEDINA & PREUSSLER (1980) para solos argilosos com CBR inferior a 20% e
utilizando tenso desvio extremamente elevada; a apresentada por Visser, Queiroz e
Hudson, pesquisando possveis correlaes entre MR e os limites de Atterberg; as
correlaes apresentadas por MOTTA et. al. (1985) que contemplam a anlise elstico no
linear.
Modernas tcnicas de modelagem de dados visando melhor entender fenmenos
complexos, dependentes de muitas variveis, assim como a tentativa de estimar uma
varivel dependente em funo de outras de mais fcil obteno, tem levado ao
desenvolvimento de vrias tcnicas de anlise. Uma das mais recentes, a tcnica de Redes
Neurais Artificiais (RNAs) foi aplicada na elaborao e anlise de toda a base de dados dos
ensaios triaxiais dinmicos realizados na COPPE/UFRJ por FERREIRA (2002).
2.2.1- Mdulo de Resilincia
Como dito anteriormente o mdulo resiliente dos solos definido como a relao
entre a tenso-desvio aplicada axial e ciclicamente em um corpo de prova e a
correspondente deformao especfica vertical recupervel conforme a equao seguinte:
MR = d / r (2.1)
Sendo:
d = tenso desvio aplicada repetidamente (d = 1 - 3)
r = deformao especfica axial resiliente
Dispondo-se de equipamento triaxial dinmico, como mostra a Figura 2.1, o mdulo
resiliente pode ser determinado de acordo com Procedimentos para Execuo de Ensaios
com Carregamento Repetido (DNER-131/94).
-
11
Figura 2.1: Equipamento de ensaio de resiliencia, (LEP, 2007)
Nesta determinao, a deformao total do corpo de prova ensaiado tem uma
componente resiliente (recupervel) e outra permanente (irrecupervel) ou plstica. a
deformabilidade elstica ou resiliente que condiciona a vida de fadiga das camadas
superficiais mais rijas dos pavimentos sujeitas a flexes sucessivas. No sendo os solos e
britas materiais elsticos lineares, os mdulos resilientes dos solos dependem do estado de
tenses atuante. O que se procura determinar nos ensaios triaxiais a relao experimental
que descreve o comportamento dos mdulos de resilincia em funo da tenso de
confinamento e da tenso desvio (MEDINA, 1997).
Na falta do equipamento triaxial dinmico, os valores de mdulo de resilincia
podem ser estimados indiretamente, para fins classificatrios, via parmetros como
granulometria, plasticidade e CBR. Segundo VERTAMATTI (1988) esta Segunda
condio menos criteriosa que a primeira, por estimar uma propriedade de interesse
geotcnico a partir de parmetros clssicos que podem no refletir adequadamente as reais
peculiaridades tecnolgicas dos solos tropicais. Desse modo, os valores de MR devem ser
obtidos diretamente, sempre que possvel.
-
12
2.3 Avaliao Estrutural
conhecida como avaliao estrutural de pavimentos o conjunto de procedimentos
que determinam as respostas da estrutura quando sujeita s cargas do trfego, traduzida na
forma de tenso, deformaes e deflexes em determinados pontos do pavimento, de forma
que seja possvel verificar sua capacidade de resistir aos mecanismos responsveis pela
degradao do pavimento. A partir deste diagnstico, torna-se possvel definir quais
servios sero necessrios ao restabelecimento das condies admissveis aos usurios da
rodovia (RODRIGUES, 1995).
Estruturalmente, o comportamento dos pavimentos analisado quanto aos aspectos
de deformabilidade e resistncia ao cisalhamento de suas camadas, os quais esto
relacionados diretamente com a capacidade que tem o pavimento em suportar os efeitos
deteriorantes das cargas do trfego e das aes climticas.
O estudo de deformabilidade e tenses nos pavimentos flexveis so de fundamental
importncia compreenso de seu comportamento, uma vez que refletem as condies
reais da estrutura do pavimento.
Sendo assim, pode-se dizer que a ao das cargas de trfego sobre os pavimentos
flexveis e semi-rgidos provoca deformaes dos tipos permanentes e recuperveis. As
deformaes permanentes so aquelas que permanecem mesmo aps cessar o efeito da
atuao da carga, ou seja, tem carter residual. So exemplos de deformaes permanentes
aquelas geradas nas trilhas de roda pela consolidao adicional pelo trfego, bem como as
rupturas de natureza plstica.
As deformaes ou deflexes recuperveis representam um indicativo do
comportamento elstico da estrutura, deixando de existir alguns momentos aps a retirada
da carga. As deflexes recuperveis provocam o arqueamento das camadas do pavimento, e
segundo PINTO & PREUSSLER (2002) a sua repetio a responsvel pelo fenmeno de
fadiga das camadas betuminosas e cimentadas.
Em um projeto de dimensionamento de pavimentos deve-se analisar considerando o
estado de tenses e de deformaes atuantes, compatibilizando-os com as admissveis ou
existentes, para um perodo de projeto e condio de serventia, para que atenda todas as
-
13
limitaes de tenses que possam provocar ruptura por cisalhamento, deformaes
permanentes e deformaes recuperveis ou elsticas.
Basicamente, segundo HAAS et. al. (1994), os mtodos de avaliao estrutural de
pavimentos so classificados em ensaios destrutivos e ensaios no-destrutivos.
Os ensaios destrutivos so aqueles onde so removidas amostras das camadas do
pavimento para determinao, em laboratrio, das suas caractersticas in situ. Segundo
VILLELA & MARCON (2001), alm da amostragem destes materiais, so verificadas nos
furos de sondagem:
1. As espessuras das camadas;
2. As condies dos materiais;
3. As eventuais deformaes das camadas;
4. Os tipos de materiais; e
5. As condies de umidade.
So realizados por meio de sondagens, onde so abertos poos, com o auxlio de
ferramentas como p e picareta ou extrado rotativo, situados nos bordos do revestimento do
pavimento (GONTIJO et. al., 1994). As sondagens objetivam o conhecimento das
caractersticas geotcnicas das camadas do pavimento e subleito, permitindo a
determinao das espessuras de cada camada do pavimento (SANTOS & MOREIRA,
1987).
Este tipo de avaliao destrutiva apresenta como desvantagens principais os
seguintes fatores:
1. Dificuldades de reproduo do estado de tenses e condies ambientais;
2. Tempo demandado nesta atividade e reteno do trfego.
Os ensaios no destrutivos possibilitam a avaliao das condies do pavimento
sem danific-los. Para isto so usados equipamentos para a medio das bacias
deflectomtricas. A viga Benkelman o aparelho mais divulgado para este fim, porm o
desenvolvimento de equipamentos mais sofisticados proporciona a estas avaliaes:
1. Aumentar a acurcia das medidas;
2. Aumentar a produtividade em termos de nmero de ensaios por dia de trabalho;
3. Simular, de forma mais real possvel, as condies de carregamento do trfego;
4. Reduzir os custos dos ensaios; e
-
14
5. Obter, de forma simples, dados da anlise estrutural dos pavimentos.
Geralmente, a avaliao estrutural de pavimentos feita atravs de ensaios no
destrutivos, por oferecer maior rapidez, segurana e acurcia na obteno dos resultados
(CARDOSO, 1995). Os ensaios no destrutivos tm como objetivo representar o
comportamento do pavimento quando submetido a carregamentos cclicos.
2.3.1 Ensaios Destrutivos
Ensaios de laboratrio tm sido desenvolvidos para estudar os materiais de
pavimentao sob condies de carregamento similares aquelas de campo, permitindo
determinar o mdulo de elasticidade ou resiliente sob diferentes condies de umidade,
densidade, tenso confinante, tenso desvio, freqncia do carregamento, durao e
repetio do carregamento. Neste tpico sero descritos alguns ensaios de laboratrio que
podem ser realizados para avaliar as propriedades mecnicas de pavimentos.
2.3.1.1 - Ensaio de Resistncia Trao por Compresso Diametral
O ensaio de resistncia trao por compresso diametral (RT) foi desenvolvido
por Lobo Carneiro e Barcellos no Brasil, para determinao da resistncia trao de
corpos de prova de concreto-cimento, por solicitaes estticas. um ensaio de ruptura,
onde o corpo de prova posicionado horizontalmente e a carga aplicada
progressivamente, com uma velocidade de deformao de 0,8 0,1 mm/s.
O investigador Schmidt da Chevron, Califnia, introduziu esse ensaio para as
misturas betuminosas sob carregamento repetido. A carga aplicada por compresso
diametral em amostras cilndricas tipo Marshall, induzindo um estado de compresso na
direo vertical e de trao na horizontal (PINTO & PREUSSLER, 2002).
As misturas asflticas devem possuir flexibilidade suficiente para suportar as
solicitaes do trfego e resistncia trao adequada para evitar rupturas precoces.
O ensaio de compresso diametral serve para o estudo de fadiga de misturas
asflticas. Aplicam-se vrios nveis de tenso calculada com uma porcentagem em relao
de ruptura esttica. Esta determinada previamente em corpos-de-prova semelhante aos
que so utilizados nos ensaios de fadiga. Determina-se o nmero de aplicaes de carga at
-
15
dh
FtR
2
=
o trincamento e ruptura num plano vertical. A temperatura de ensaio deve ser controlada
mediante a utilizao de uma cmara termo-regulvel (MEDINA, 1997).
O procedimento de ensaio para determinao da Resistncia Trao por
Compresso Diametral (RT), baseado no DNER ME 138/94 esta resumido a seguir:
Fazer quatro ou mais medies de altura do corpo de prova com paqumetro em
dimetros ortogonais e tomar a mdia;
Fazer trs medies do dimetro em trs posies da altura e tomar a mdia;
Deixar o corpo de prova na cmara de aquecimento ou sistema de refrigerao por
um perodo de 2 horas, de modo a se obter a temperatura especfica (25, 30, 45 ou
60C);
Coloca-se o corpo de prova na posio horizontal sobre o prato inferior da prensa,
recomenda-se interpor dois frisos metlicos curvos ao longo das geratrizes de apoio
superior e inferior;
Ajustar os pratos da prensa dando ligeira compresso que segure o corpo de prova
em posio;
Aplica-se a carga progressivamente, razo de 0,8mm/s 0,1mm/s, at que se d a
ruptura com a separao das duas metades do corpo de prova, segundo o plano
diametral vertical. Anota-se a carga de ruptura; e
Calcula-se a resistncia trao indireta pela equao 2.2:
( 2.2)
sendo:
tR a resistncia a trao indireta (kgf/cm2),
F a carga de ruptura (kgf),
d o dimetro do corpo de prova (cm) e
h a altura do corpo de prova (cm).
-
16
2.3.1.2 - Ensaio de Mdulo de Resilincia em Misturas Asfalticas
Os ensaios de carga repetida em que a fora aplicada atua sempre no mesmo sentido
de compresso, de zero a um mximo e depois diminui at anular-se, ou atingir um patamar
inferior, para atuar novamente aps pequeno intervalo de repouso (frao de segundo),
procuram reproduzir as condies de campo. A amplitude e o tempo de pulso dependem da
velocidade do veculo e da profundidade em que se calculam as tenses de deformaes
produzidas. A freqncia espelha o fluxo (ou volume) de veculos (MEDINA, 1997).
O ensaio para a determinao do mdulo de resilincia, ensaio de trao indireta
com carregamento repetido, simula o comportamento mecnico da mistura asfltica, na
zona onde ocorrem as deformaes especficas de trao, responsveis pela fadiga da
camada.
Os materiais que constituem a estrutura de um pavimento quando submetidos a
carregamentos dinmicos, de curta durao e sob tenses muito abaixo de sua plastificao,
apresentam comportamento aproximadamente elstico, no necessariamente linear. O
trfego condiciona o conjunto pavimento-fundao de modo semelhante. O mdulo de
elasticidade determinado atravs de ensaios laboratoriais, com equipamentos que simulem
as condies de campo, denomina-se mdulo de resilincia (PINTO & PREUSSLER,
1980).
O ensaio para determinao do mdulo de resilincia realizado em um
equipamento composto por uma prensa, sistema pneumtico com controle do tempo e
freqncia de aplicao da carga, sistema de aplicao da carga, sistema de medio do
deslocamento diametral horizontal do corpo de prova quando submetido carga e sistema
de controle de temperatura, ver Figura 2.2.
-
17
Figura 2.2: Equipamento triaxial dinmico de compresso axial( Pinto e Preussler,2002)
O procedimento de ensaio para determinao do Mdulo de Resilincia, baseado no
DNER ME 133/94, esta resumido a seguir:
Prender o quadro suporte por meio de garras nas faces externas do corpo de prova
cilndrico que se encontra apoiado horizontalmente segundo uma diretriz;
Posicionar o corpo de prova na base da prensa, apoiando o mesmo no friso
cncavo inferior;
Assentar o pisto de carga com o friso superior em contato com o corpo de prova
diametralmente oposto ao friso inferior;
Fixar, ajustar e calibrar dois medidores eletromecnicos tipo LVDT (Linear
Variable Differential Transducer) que so transdutores de variveis diferenciais
lineares, de modo a obter registros na aquisio dos dados;
Aplicar uma carga F que produza uma tenso trao t que seja at 30% da
resistncia da trao esttica da mistura;
A freqncia de aplicao das cargas de 1Hz (60 ciclos por minuto) com tempo
de carregamento de 0,1 segundo e 0,9 segundo de descarregamento; e
Registram-se os deslocamentos horizontais durante a aplicao da carga F.
Segundo SOUZA (1997) o tempo de aplicao de carga simula a velocidade de
translao dos eixos dos veculos no campo enquanto a freqncia reproduz o nmero de
-
18
eixos que passam em determinada seo de rodovia. De acordo com a prpria concepo do
ensaio de mdulo, este est intimamente relacionado s velocidades do trfego.
2.3.1.3 - Ensaio de Compresso Axial Dinmico (Creep Dinmico) e Simuladores de Trfego
Apesar de no ter sido utilizado no presente trabalho vlido comentar respeito do
ensaio de Creep. Este ensaio tem como objetivo analisar as deformaes visco-plsticas de
misturas asflticas, proporcionando uma anlise comparativa em termos de resistncia
mecnica deformao permanente para diferentes misturas asflticas.
Existem trs tendncias de modelos para previso de desempenho de misturas
asflticas quanto formao de deformao permanente: modelos a partir de ensaios de
comportamento reolgico tipo "creep" dinmico; modelos desenvolvidos a partir de
resultados obtidos com equipamentos simuladores de trfego; e correlaes entre o trfego
e o afundamento na trilha de roda. Prepondera a utilizao dos dois primeiros, uma vez que
as correlaes de campo so limitadas s condies de similaridade da comparao. Quanto
aos outros dois tipos, no h ainda uma tendncia definida pela comunidade tcnica
(MERIGHI & SUZUKI, 2000).
O ensaio de compresso axial dinmica consiste na aplicao de pulsos de carga ao
corpo de prova, a uma determinada freqncia, com um tempo de aplicao de carga
definido. Este ensaio permite a recuperao da deformao aps remoo do carregamento
imposto ao corpo de prova, representando as cargas de trfego.
O ensaio de compresso axial pode ser realizado de forma esttica ou dinmica.
Segundo MOTTA et al. (1996) h uma tendncia mundial no sentido de se recomendar
mais fortemente o uso dos ensaios dinmicos que o uso dos estticos, tambm na avaliao
das deformaes permanentes, pois melhor se comparam aos resultados de campo.
Resumidamente, tem-se a seguir o procedimento para o Ensaio de Compresso
Axial Dinmico:
Prender os quadros suporte superior e inferior por meio de garras na face
cilndrica do corpo de prova que se encontra apoiado horizontalmente;
Posicionar o corpo de prova na base da prensa;
-
19
R
absesp
h
=
esp
axial
cE
=
Assentar o pisto de carga com a placa superior em contato com o corpo de
prova diametralmente oposto base;
Fixar, ajustar e calibrar os medidores eletromecnicos tipo LVDT (Linear
Variable Differential Transducer) de modo a obter registros na aquisio dos
dados;
Aplicar uma carga F que induza tenso de compresso axial, tenso essa de
0,1MPa (1,0kgf/cm2);
A freqncia de aplicao das cargas de 1Hz (60 ciclos por minuto) com tempo
de carregamento de 0,1 segundo e 0,9 segundo de descarregamento. O tempo total
de durao do ensaio de 1 hora (3600 ciclos de carregamento); e
Registram-se os deslocamentos verticais durante a aplicao da carga F.
A deformao permanente absoluta lida diretamente pelo LVDT. A deformao
permanente especfica ou relativa obtida pela Equao 2.3.
(2.3)
Sendo;
esp a deformao permanente especfica ou relativa (mm/mm);
abs a deformao permanente absoluta (mm); e
hR a altura de referncia (mm).
O mdulo de Creep dinmico ou mdulo de fluncia dinmica calculado pela
Equao 2.4.
(2.4)
Sendo;
Ec o mdulo de Creep dinmico ou mdulo de fluncia dinmica (MPa);
-
20
axial a tenso axial aplicada no corpo de prova (MPa); e
esp a deformao permanente especfica ou relativa (mm/mm).
2.3.1.4 - Ensaio de Fadiga
possvel dividir o comportamento estrutural dos materiais de pavimentao sob
carregamento dinmico em duas parcelas:
a flexo repetida que leva fadiga dos materiais e em conseqncia o
trincamento; e
a compresso simples repetida que leva deformao permanente e em
conseqncia ao afundamento de trilha de roda.
A fadiga um processo de deteriorao estrutural que sofre um material quando
submetido a um estado de tenses e deformaes repetidas, que podem ser muito menores
que a resistncia ltima do material, resultando em trincas, aps um nmero suficiente de
repeties do carregamento: a perda da resistncia que sofre um material quando
solicitado repetidamente flexo ou trao (PINTO & MOTTA, 1995).
Segundo PINTO & PREUSSLER (2002) no ensaio de fadiga o material submetido
solicitao ao qual ocorre a evoluo de modo irreversvel para um estgio final de
ruptura ou estabilizao. Com o objetivo de estimar a vida de fadiga de misturas asflticas,
dispem-se de ensaios laboratoriais que procuram simular as condies de solicitao de
uma rodovia (ensaios executados em placas ou vigas apoiadas em suporte) e os que
procuram uma aproximao fundamentada (ensaios laboratoriais executados em corpos de
prova cilndricos ou prismticos, submetidos a nveis de tenses ou deformaes de modo a
simular a condio de solicitao no campo).
Os equipamentos laboratoriais para ensaios de carga repetida permitem a aplicao
de carregamentos cclicos ao material sob regime de tenso constante ou controlada e de
deformao constante ou controlada. A grande separao que se pode fazer entre os
diferentes ensaios quanto ao modo de solicitao.
No ensaio de tenso controlada (TC), a carga aplicada mantida constante e as
deformaes resultantes aumentam no decorrer do ensaio. O ensaio de deformao
controlada (DC) envolve a aplicao de cargas repetidas que produza uma deformao
constante ao longo do ensaio, o que conduz a uma diminuio da carga aplicada, para
-
21
manter a deformao constante. Em ambos os ensaios h uma reduo da rigidez inicial do
material a um nvel que pode ser pr-estabelecido, no sentido de definir o fim do ensaio
(PINTO & PREUSSLER, 2002). A grande vantagem do ensaio de DC permitir melhor
observao da propagao de fissuras por fadiga.
No ensaio tenso controlada (TC), o critrio de fadiga est associado fratura da
amostra. A tenso mantida constante ao longo do ensaio e as deformaes atingem um
valor mximo at o estgio de colapso do corpo de prova. A vida de fadiga (N) definida
como o nmero total de aplicaes de uma carga necessria fratura completa da amostra
(PINTO & PREUSSLER, 2002).
J no ensaio deformao controlada (DC) o critrio de fadiga no est
condicionado ruptura completa do corpo de prova, pois para que a deformao seja
mantida constante ao longo do ensaio, necessrio que haja uma diminuio no
carregamento aplicado. A vida de fadiga neste caso ser o nmero de repeties da carga
capaz de reduzir o desempenho ou rigidez inicial da amostra a um nvel pr-estabelecido.
Segundo MEDINA (1997) a solicitao a tenso controlada (TC) a que ocorre em
pavimentos de revestimento asfltico muito mais rgido do que a camada de base e que ao
resistirem s cargas determinam a magnitude das deformaes. A solicitao a deformao
controlada (DC) corresponde melhor a pavimentos de revestimento delgado e fraco em
relao base; embora adicionando alguma resistncia, o revestimento tem sua deformao
controlada pela das camadas subjacentes. Logo o comportamento tenso ou deformao
controlada depender tanto da espessura e do mdulo de rigidez do revestimento, como do
mdulo da estrutura subjacente.
Como dito anteriormente, o ensaio para a caracterizao da fadiga submete uma
amostra do material a uma aplicao de carga repetida at a sua ruptura. A ruptura pode ser
definida por vrios critrios. A curva que representa o nmero de aplicaes de carga at a
ruptura com a amplitude da carga aplicada conhecida como a curva de Whler,
pesquisador que realizou os primeiros estudos fundamentais da fadiga de metais em
laboratrio, e caracterizada por relaes do tipo (MONISMITH & BROWN, 1999;
BENEDETTO et al., 1997; LOUREIRO, 2000):
-
22
1.1n
f KN =
2.2n
f KN =
(2.5)
(2.6)
Sendo;
Nf = nmero de aplicaes de carga at a ruptura;
= tenso de trao repetida atuante;
= deformao de trao repetida;
k1, k2 = constantes de regresso; e
n1, n2 = constantes negativas de regresso.
Segundo MEDINA (1997) e INSTITUTO DE ASFALTO (2002), teores de betume
crescentes melhoram a vida de fadiga e o desgaste superficial, porm deve-se observar um
teor adequado tambm sob o aspecto da deformao permanente que, ao contrrio aumenta
com o teor de betume. Misturas asflticas densamente graduadas apresentam resistncia
fadiga maior do que a das misturas de graduao aberta; agregados bem graduados
permitem teores maiores de asfalto sem causar exsudao no pavimento compactado.
clara a importncia que tem a temperatura na vida de fadiga da mistura asfltica.
Um aumento de temperatura reflete-se de dois modos na vida de fadiga: diminui MR, vale
dizer, para uma fora aplicada, a deformao especfica trao aumenta, ao mesmo tempo
diminui a resistncia trao e a razo da tenso atuante sobre a resistncia aumenta
(MEDINA, 1997).
O procedimento para o Ensaio de Fadiga tenso controlada (TC) esta resumido a
seguir:
Posicionar o corpo de prova na base da prensa, apoiando o mesmo no friso
cncavo inferior;
Assentar o pisto de carga com o friso superior em contato com o corpo de prova
diametralmente oposto ao friso inferior;
-
23
Aplicar uma carga F que induza tenses de traes horizontais aproximadamente
entre 10 e 50% da tenso trao tR previamente determinada; e
A freqncia de aplicao das cargas de 1 Hz (60 ciclos por minuto) com
tempo de carregamento de 0,1 segundo e 0,9 segundos de descarregamento;
2.3.2 - Ensaio No Destutivos
A avaliao estrutural por ensaios no destrutivos (NDT) consiste na realizao de
provas de carga insitu para a medida de parmetros de resposta da estrutura s cargas de
roda em movimento. As respostas medidas so as deflexes (deslocamentos verticais de
superfcie) cuja medida obtida de maneira simples e confivel, razo pela qual a
totalidade dos equipamentos utilizados para a realizao de ensaios no destrutivos so
deflectmetros (GONALVES, 1999).
Os ensaios NDT provocam menores interrupes no trfego, fornecendo assim
maior flexibilidade para a avaliao quantitativa da condio do pavimento em qualquer
estgio de sua vida de servio e possibilita o retorno no mesmo ponto a cada avaliao.
Dentre as principais vantagens da utilizao deste ensaio pode-se citar (MACDO, 1996):
Determinao dos mdulos das camadas do pavimento, que possibilitam realizar
melhor julgamento acerca da integridade estrutural das camadas de um pavimento;
Formao de uma base de dados para os mtodos mecansticos de projeto de
reforo estrutural do pavimento;
Formao de uma base de dados para a utilizao em Sistemas de Gerncia de
Pavimentos; e
Mede-se a resposta real do pavimento ao carregamento aplicado, sem submeter
os materiais aos distrbios causados pela retirada de amostras.
As principais ferramentas de avaliao estrutural no destrutivas utilizadas podem
ser classificadas conforme o tipo de solicitao imposta ao pavimento. So agrupados em
quatro categorias: Solicitaes Estticas (Viga Benkelman, Ensaios de Placa, Viga
Benkelman Automatizada, Curvmetro); Solicitaes por Vibrao (Dynaflect, Road
Rater); Solicitaes por Impulso (FWD); e Solicitaes Diversas (FHWA) (HAAS, et al.,
1994).
-
24
- Viga Benkelman: Foi o equipamento utilizado durante esta pesquisa pertencente
ao DER-PB. Criada por Benkelman durante os estudos realizados na pista experimental da
WASHO, sua concepo fcil e econmica permitiu que este equipamento se difundisse
por todo o mundo. Sua constituio bsica compreende uma viga horizontal apoiada sobre
trs ps, sendo um traseiro e dois dianteiros. Um brao de prova rotulado na parte frontal
da viga de referncia fixa, tendo a sua poro maior posicionada adiante da viga, e a menor
sob ela. A ponta do brao de prova deve tocar o pavimento no ponto a ser ensaiado,
enquanto a outra extremidade aciona um extensmetro, solidrio viga, sensvel a 0,01mm.
O procedimento de ensaio com a viga Benkelman, normatizado pelo DNER-ME
24/94, descrito resumidamente a seguir (DNER, 1998). A carga de prova utilizada a
roda dupla traseira de um caminho basculante. No Brasil, as deflexes Benkelman so
tomadas sob carga de eixo de 8,2tf, ou carga de roda dupla de 4,1tf. Instalada a ponta de
prova no centro de carga da roda dupla, faz-se uma leitura inicial L0 no extensmetro.
Quando o caminho se afasta a mais de 10m do ponto de ensaio e decorrido espao de
tempo suficiente para o pavimento recuperar a sua condio original, faz-se a segunda
leitura Lf.
A deflexo mxima d obtida pela Equao 2.7:
d = ( L0 Lf )F (2.7)
Sendo F a constante da viga, definida como a razo dos comprimentos dos braos maior e
menor.
Para determinar uma deformada completa, h necessidade de afastar o caminho de
prova a pequenos intervalos, fazendo uma srie de leituras intermedirias a cada parada do
veculo, at o limite de 3m. Cada deflexo intermediria (di) ser calculada com o mesmo
procedimento da deflexo mxima, em funo da leitura no ponto considerado (Li), da
leitura final (Lf) e da constante da viga:
di = ( Li Lf )F (2.8)
-
25
5,1
"
'1
+=
y
yRC
add 25
250 25.010
=
ax
dd=
52
250
1025.0
( )25026250
ddRC
=
Calculadas todas as deflexes possvel desenhar a semibacia deflectomtrica e
proceder a anlise das deformadas levantadas.
A determinao do raio de curvatura da bacia de deformao, no ponto de maior
curvatura, obtido fazendo-se uma parbola de segundo grau passar pelo ponto com maior
curvatura e pelo ponto da deformada localizada a 25 cm a partir dele. O raio de curvatura
definido como (ARANOVICH, 1985):
(2.9)
y = ax2 ; y, = 2ax e y = 2a ( equao da parbola e suas derivadas)
( 2.10)
( 2.11)
Substituindo-se os valores de a encontrado na equao 2.11 na equao 2.9 e
fazendo-se x=0, obtm-se:
(2.12)
Onde:
RC o raio de curvatura em metros
d0 a deflexo mxima em centsimo de milmetro
d25 a deflexo no ponto a 0,25 m em centsimo de milmetro
Em alguns mtodos de projeto de reforo utiliza-se o raio de curvatura como
parmetro definidor do tipo de manuteno necessria para o pavimento.
-
26
- Viga Benkelman Automatizada: Este equipamento utiliza o mesmo mecanismo
da tradicional Viga Benkelman, porm, possui dispositivo eletrnico que permite a leitura
automtica das deflexes. A viga posicionada de forma a registrar a mxima deflexo
produzida pela carga do semi-eixo enquanto o veculo se desloca. Este tipo de equipamento
possibilita maior produtividade, j que o veculo pode se deslocar continuamente sem a
necessidade de parar. Um dos modelos mais difundidos na Europa o Defletgrafo
LaCroix. Este equipamento permite que o veculo se desloque a 3 km/h efetuando leituras
continuamente. Na Frana tambm utilizado o Curvmetro CEBTP, que permite o
deslocamento do veculo a 18 km/h e utiliza geofones que medem a acelerao vertical de
um ponto sobre a superfcie entre as rodas do semieixo.
A deflexo ento obtida pela integrao do sinal captado pelo geofone. O veculo
utiliza tambm uma viga eletrnica para medir as deflexes estticas. Na Califrnia (EUA)
utilizada uma Viga Benkelman totalmente automatizada montada numa carreta de
caminho, que realiza medidas de deflexo a cada 6,22 m (20 ps) a uma velocidade de
0,80 km/h (0,50 mi/h) (HAAS, et al., 1994).
Outro tipo de avaliao estrutural na linha de simuladores de trfego de campo
situa-se o veculo chamado Heavy Vehicle Simulator - HVS; Este veculo foi desenvolvido
na frica do Sul e uma espcie de simulador mvel que permite a avaliao em grande
escala de trechos de rodovias em qualquer lugar que se queira. O veculo tem uma srie de
aparelhos de medies como defletmetros e extensmetros que permitem a medida de
deflexo e irregularidade superficial automtico em qualquer trecho de rodovia que se
queira avaliar, sem a necessidade de deslocamento de vrias equipes (HARVEY, et al,
2000).
Muitos pesquisadores tm tentado determinar, atravs de anlises estatsticas, uma
correlao entre os diversos equipamentos de avaliao no destrutiva de pavimentos.
Porm, estas correlaes quando encontradas servem apenas para os locais de onde foram
coletados os dados, entre estes autores pode-se citar PINTO (1991) que apresenta uma a
correlao entre a viga Benkelman e o FWD, mas o prprio autor complementa que tal
correlao s aplicvel quelas condies estudadas e para a qual foi determinada a
correlao, pois estas podem no ser verdadeiras em pavimentos com caractersticas
distintas. HOFFMAN & THOMPSON (1982), num estudo cooperativo entre a
-
27
Universidade de Iliinois e o Departamento de Transportes de Illinois (IDOT) denominado
de IHR-508, tentaram identificar correlao entre Road Rater, Viga Benkelman e FWD. A
concluso obtida foi de que as deflexes medidas com o FWD e o Road Rater se
correlacionam, porm foram estatisticamente diferentes em relao a viga Benkelman para
todos os pavimentos testados. ROCHA & RODRIGUES (1996) dizem que a derivao de
uma correlao entre as deflexes medidas com viga Benkelman e FWD difcil uma vez
que as leituras so influenciadas por n fatores operacionais e ambientais e so
dependentes das condies de aplicao do carregamento.
2.3.3. - A Retroanlise para Obteno de Mdulos Resilientes
Os mtodos usuais de dimensionamento de pavimentos foram desenvolvidos de
forma emprica, tendo como principal desvantagem a limitao do seu uso, podendo ser
utilizados s em casos similares ao do seu desenvolvimento. Com o surgimento dos
programas computacionais, o dimensionamento passou a ser baseado na teoria da
elasticidade, onde os principais parmetros necessrios ao clculo so o mdulo de
resilincia e o coeficiente de Poisson (MEDINA, 1997).
O mdulo de resilincia, que define a relao entre as tenses e as deformaes nas
camadas do pavimento, pode ser determinado de duas formas:
1. Em laboratrio, atravs do ensaio triaxial dinmico (solos) e de compresso diametral
(misturas asflticas, materiais cimentados); e
2. Analiticamente, atravs da retroanlise dos mdulos de resilincia a partir das bacias
deflectomtricas obtidas sob a superfcie do pavimento.
O coeficiente de Poisson define a relao entre as deformaes especficas radiais
(horizontais) e axiais (verticais) dos materiais. Sua influncia nos valores das tenses e
deformaes calculadas pequena, salvo no caso das deformaes radiais, as quais lhe so
proporcionais. Na maioria das vezes este valor adotado para cada material quando so
usados programas de clculo de tenses e deformaes em pavimentos.
Segundo MAINA et. al. (2002), na maioria dos casos de retroanlise so adotados a
espessura e o coeficiente de Poisson para cada camada.
A retroanlise um processo que permite a obteno dos mdulos de resilincia das
camadas do pavimento e subleito. Esta determinao feita a partir das bacias
-
28
deflectomtricas que o pavimento apresenta quando submetido ao carregamento externo,
que simulado atravs de ensaios no-destrutivos, podendo utilizar equipamentos como a
viga Benkelman, universalmente divulgada ou o FWD, instrumento mais sofisticado capaz
de obter determinaes mais precisas (VILLELA & MARCON, 2001).
O objetivo principal da retroanlise fornecer as propriedades das camadas do
pavimento in situ, dados estes que so utilizados na manuteno e/ou restaurao das
caractersticas aceitveis do pavimento (VILLELA & MARCON, 2001).
A retroanlise se baseia na interpretao do formato e magnitude do deslocamento
da superfcie do pavimento, conhecida como bacia deflectomtrica, quando esta
submetida ao de cargas (ALBERNAZ et. al., 1995). De forma geral, a retroanlise
realizada com os seguintes objetivos:
1. A obteno dos mdulos de resilincia dos materiais na condio em que se encontram
no campo; e
2. Minimizar o nmero de sondagens para determinao das espessuras e coletas de
amostras para determinao dos parmetros desejados, que so de difcil reproduo em
laboratrio, alm de serem onerosas, perigosas e demoradas.
2.3.3.1 - Mtodos de retroanlise
Segundo FABRCIO et. al. (1994), a maioria dos mtodos de retroanlise de bacias
deflectomtricas, em seu procedimento, converte a estrutura do pavimento real em um
sistema de trs camadas, so elas:
1. Subleito;
2. Camada granular nica, com a mesma espessura das camadas granulares
existentes (base+sub-base+reforo de subleito);
3. Camada betuminosa nica, com a mesma espessura das camadas betuminosas
existentes.
Uma das questes mais intrigantes nos procedimentos de retroanlise a partir de
bacias de deflexo que cada seo levantada possui suas prprias caractersticas, ou seja,
mdulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e espessuras distintas e desconhecidas. Para
contornar este problema, geralmente so adotados valores de espessuras h das camadas,
estimados os valores de densidade e coeficiente de Poisson , sendo calculado apenas o
-
29
mdulo de resilincia. Mesmo com estas simplificaes o problema continua complexo,
pois estes valores so influenciados por vrios fatores como: umidade, temperatura e
elasticidade no-linear das camadas granulares, por exemplo. Mesmo assim, com todas as
simplificaes, o problema no garante uma soluo fechada. No h uma soluo nica,
vrias configuraes estruturais podem resultar numa mesma bacia deflectomtrica
(MEDINA et. al., 1994).
Influem diretamente neste tipo de clculo os valores adotados para espessuras das
camadas e os escolhidos para mdulo inicial. O critrio de convergncia usado tambm
influi no resultado final do procedimento (MEDINA et. al., 1994).
Como todos os procedimentos oriundos da teoria da elasticidade aplicada aos
sistemas estratificados, a retroanlise de soluo bastante complexa. Demandava-se muito
tempo nos seus clculos. Com o desenvolvimento da informtica, tornou-se vivel e
possvel a resoluo dos sistemas de equao dos mtodos de retroanlise. Basicamente, os
mtodos de retroanlise so classificados em dois grupos: iterativos e simplificados.
- Mtodos iterativos
Os mtodos iterativos so aqueles onde a determinao das caractersticas elsticas
e geomtricas das camadas do pavimento so realizadas atravs da comparao entre a
bacia deflectomtrica obtida em campo e a terica de uma srie de estruturas, at que as
deflexes de campo sejam as mesmas que as obtidas para bacia terica, ou apresente um
resduo admissvel, que definido no incio do processo. Entretanto, por utilizar processos
iterativos na convergncia de sua soluo, demandam muito tempo de processamento e, em
funo do nmero de trechos de anlise, este processo pode durar horas ou at mesmo dias
para ser terminado (ALBERNAZ, 1995).
Geralmente, os mtodos iterativos de retroanlise so lentos, exceto os que utilizam
bancos de dados; estes tm sua velocidade em funo do tamanho e detalhamento do banco
de dados, que deve conter todas as combinaes de parmetros elsticos e geomtricos de
estruturas encontradas na prtica. Apesar de serem rpidos, os mtodos que utilizam
equaes de regresso estatstica no apresentam boa acurcia.
-
30
- Mtodos simplificados
Mtodos de retroanlise simplificados so aqueles onde a obteno das
caractersticas elsticas da estrutura do pavimento feita atravs da utilizao de equaes,
tabelas e grficos, entre outros procedimentos simplificados oriundos da teoria da
elasticidade aplicada aos meios homogneos, isotrpicos e linearmente elsticos.
De maneira geral, consistem na converso do pavimento real em estruturas
equivalentes mais simples, de duas ou trs camadas incluindo a camada de subleito. Como
tratam o problema de forma simplificada, so mais rpidos do que os mtodos iterativos,
porm perdem em acurcia.
2.3.3.2 - Fatores que influem no processo de retroanlise
Segundo PREUSSLER et. al. (2000), existe uma gama de fatores que influem no
resultado final do processo de retroanlise. Dentre eles:
1. Modelagem matemtica;
2. No considerao da elasticidade no-linear dos materiais granulares;
3. Espessuras das camadas;
4. Oxidao e deteriorao das camadas asflticas;
5. Natureza dos materiais constituintes da estrutura;
6. Presena e profundidade de camadas rgidas;
7. Ponto de aplicao e tipo de carregamento;
8. Confinamento das camadas;
9. Teor de umidade; e
10. Granulometria;
Portanto, so muitas as variveis que influenciam no processo de retroanlise de
mdulos de resilincia, ainda no existindo um procedimento de retroanlise capaz de
reproduzir fielmente as condies de campo, pois so feitas muitas simplificaes para
tornar possvel tal anlise.
A fim de simplificar os clculos realizados na retroanlise de pavimentos, so
admitidos que as estruturas seguem um comportamento elstico linear. Este procedimento
normalmente aplicado porque os usurios do FWD argumentam que anlises mais
complexas no oferecem vantagens relevantes sobre as teorias mais simples, que so
-
31
embasadas na teoria das camadas elstico-lineares. Desta forma, os dados obtidos a partir
de levantamentos deflectomtricos podem ser empregados no clculo de tenses e
deformaes crticas sob o carregamento aplicado pelo trfego (MEDINA et. al., 1994).
Segundo ALBERNAZ et. al. (1995), uma simplificao que proporciona maior
velocidade no clculo do problema a considerao de que o sistema elstico-linear.
Segundo CARDOSO (1995), ainda no h um consenso quanto considerao da
elasticidade no-linear dos materiais granulares e como us-la de forma acurada.
Os procedimentos de retroanlise baseados no mtodo dos elementos finitos so
mais lentos que os demais, entretanto geram resultados mais acurados, alm da
possibilidade de tratar a elasticidade no-linear. Segundo MACDO (1996), este mtodo
viabiliza uma abordagem elstica no-linear porque pode considerar a variao dos
mdulos elsticos tanto na direo radial como na vertical.
No mercado existem vrios programas utilizados para realizao de retroanalise de
mdulos resilientes, no entanto ira-se ater apenas ao programa RETRAN5L, utilizado no
presente estudo.
2.3.3.3 - Retran-5L
O programa Retran5-L foi desenvolvido pelo engenheiro Cludio Valado
Albernaz, em 1998, a partir de seus estudos de ps-graduao na COPPE/UFRJ.
Segundo ALBERNAZ (2004) o programa Retran5-L (Retroanlise de sistemas com
5 camadas elsticas Lineares) efetua a retroanlise dos mdulos elsticos dos materiais de
sistemas estratificados de at 5 (cinco) camadas, considerando todos os materiais elsticos.
ALBERNAZ (2004) indica que de um subtrecho homogneo deve ser feita a retroanlise
bacia por bacia, e no por meio de bacias mdias representativas. O processamento do
programa baseado em banco de dados contendo milhares de estruturas tericas similares,
em termos de espessuras e de quantidade de camadas, estrutura real em anlise.
Se as espessuras e os tipos de materiais do pavimento existente forem muito
heterogneos, de modo a no possibilitar a subdiviso do trecho em segmentos com
estruturas de pavimento representativas, poder ser adotado o critrio de estrutura
equivalente, com duas, trs, quatro e at cinco camadas, incluindo o subleito. Neste
procedimento, duas ou mais camadas de materiais semelhantes podem ser associadas e
-
32
consideradas como uma nica camada, para fins de retroanlise. Vrios conjuntos de
camadas associadas podem ser adotados, dependendo das caractersticas do pavimento
existente.
Nos casos extremos de estruturas heterogneas, as espessuras e os tipos de materiais
do subleito e do pavimento existente no so levados em considerao na formao do
banco de dados, sendo a retroanlise efetuada para um sistema equivalente de apenas duas
camadas base e subleito a exemplo do procedimento inserido no programa Retran-2CL
(ALBERNAZ, 1997) concebido para efetuar retroanlise simplificada de pavimentos.
A formao do banco de dados para o RETRAN5L feita considerando-se faixas de
valores modulares compatveis com os materiais das camadas dos pavimentos e do subleito
existentes, e so definidas pelo projetista ou analista. As variaes dos mdulos das
camadas do banco de dados so baseadas em faixas de valores normalmente admitidas para
os tipos de materiais que constituem o pavimento e o subleito, e procuram levar em
considerao as possveis influncias das variaes do grau de compactao, dos valores
das espessuras executadas, dos teores de umidade e das temperaturas ambiente no
comportamento elstico dos materiais.
Opcionalmente, o programa Retran5-L faz a correo automtica da bacia de
deformao medida, considerando uma possvel localizao do p dianteiro da viga no
interior da bacia de deformao.
O programa RETRAN5L pode emitir relatrios com o logotipo de empresas, rgos
pblicos, universidades etc, e apresenta informaes completas relativas s bacias medidas,
ajustadas e tericas (em forma grfica ou analtica), e os seus respectivos erros de
ajustamento (RMS). Apresenta, ainda, os mdulos de resilincia retroanalisados, os
coeficientes de Poisson adotados, as espessuras e a contribuio de cada camada do
pavimento e do subleito no valor da deflexo mxima medida no ponto de aplicao da
carga, fornecendo valiosas informaes sobre a camada ou camadas criticas do sistema
pavimento-subleito.
Para a elaborao da retroanlise, so necessrios os seguintes dados:
Listagem do levantamento das bacias de deformaes (distncias radiais e
deflexes). No caso de levantamento com equipamento tipo FWD ou viga
eletrnica, podero ser utilizados os arquivos digitais do levantamento de campo;
-
33
Configurao do carregamento do pavimento utilizado na medida das bacias de
deformao (viga Benkelmann e viga eletrnica: eixo padro de 8,2 tf ou outro;
FWD: valor da carga nominal aplicada e raio da placa de contato);
Temperatura do revestimento asfltico durante o levantamento deflectomtrico;
Listagem dos segmentos homogneos quanto estru