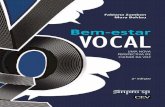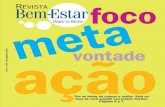RICARDO DE NARDI FONOFF · 2 Fernanda Victor Rodrigues Vieira Vicentini Zootecnista Bem-estar...
Transcript of RICARDO DE NARDI FONOFF · 2 Fernanda Victor Rodrigues Vieira Vicentini Zootecnista Bem-estar...
1
Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
Bem-estar humano e sua influência no bem-estar de vacas leiteiras
Fernanda Victor Rodrigues Vieira Vicentini
Tese apresentada para obtenção do título de Doutora em Ciências. Área de concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas
Piracicaba 2016
2
Fernanda Victor Rodrigues Vieira Vicentini
Zootecnista
Bem-estar humano e sua influência no bem-estar de vacas leiteiras
versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011
Orientador: Prof. Dr. IRAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA Tese apresentada para obtenção do título de Doutora em Ciências. Área de concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas
Piracicaba 2016
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP
Vicentini, Fernanda Victor Rodrigues Vieira Bem-estar humano e sua influência no bem-estar de vacas leiteiras / Fernanda Victor
Rodrigues Vieira Vicentini. - - versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011. - - Piracicaba, 2016.
162 p. : il.
Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.
1. Bem-estar de colaboradores 2. Bem-estar animal 3. Treinamento 4. Relação humano-animal 5. Satisfação no trabalho 6. Recursos humanos e gestão I. Título
CDD 636.214 V633b
“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”
5
AGRADECIMENTOS
Ao professor Dr. Iran José Oliveira da Silva pela oportunidade de aprofundar
meus conhecimentos na área de bem-estar animal, pela confiança nos trabalhos
desenvolvidos durante o período de doutorado e pela orientação enriquecedora na
profissão e na vida.
Ao Núcleo de Pesquisa em Ambiência (NUPEA) e às pessoas que fizeram e
fazem esse grupo tão especial: Aérica, Ana Carolina, Ana Luiza, Ariane, Danielle,
Frederico, Guilherme, Iran, Isis, Ilze, Karina, Maria Amelia, Natália, Patrycia e
Paulo. Em especial aos amigos Ana Luiza, Guilherme, Maria Amelia e Paulo por me
acompanharem nas madrugadas a caminho das fazendas e me ajudarem
imensamente na parte experimental da pesquisa; à amiga Ana Carolina, por me
abrigar e sempre estar disposta a ajudar no que fosse preciso; à estimada Ilze, pela
disposição inacabável de auxiliar em tudo que estivesse ao seu alcance; à amiga
Ariane, pelo apoio e por sempre estar disposta quando precisei e à amiga Patrycia,
pelas longas conversas e apoio.
À Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, ao Departamento de
Engenharia de Biossistemas, ao Programa de pós-graduação em Engenharia de
Sistemas Agrícolas e a todos os funcionários técnicos e administrativos pelo
importante auxílio na realização deste estudo.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
pela concessão da bolsa de estudos.
Aos produtores e trabalhadores que abriram as porteiras das fazendas e as
portas de suas casas e nos receberam com muita educação e atenção.
Ao professor Dr. Makilim Nunes Baptista, que nos auxiliou na parte de
avaliação de bem-estar humano e à professora Dra. Sônia Maria de Stefano
Piedade, que nos apoiou na melhor forma de avaliação dos dados.
À querida amiga Zaira por abrir as portas da casa dela e cuidar de mim em
Piracicaba e ao amigo Bruno, pela amizade e apoio.
Agradeço à minha família, à minha mãe, ao meu pai e ao meu esposo pelo
apoio incondicional, grande amor e muita paciência em todos os dias das nossas
vidas.
Muito obrigada!
7
What does an ideal food system accomplish? In the committee’s view, such a
system should support human health; be nutritionally adequate and affordable and provide accessible food for all in a manner that provides a decent living for farmers
and farm workers; and protect natural resources and animal welfare while minimizing environmental impacts.
O que um sistema alimentar ideal realiza? Na opinião da comissão, esse sistema
deve apoiar a saúde humana; ser nutricionalmente adequado e economicamente acessível e fornecer alimentos acessíveis a todos de uma maneira que proporcione uma vida decente aos produtores e trabalhadores; e proteger os recursos naturais e
o bem-estar animal, minimizando os impactos ambientais.
A Framework for Assessing Effects of the Food System – Institute of Medicine and National Research Council
9
SUMÁRIO
RESUMO................................................................................................................... 11
ABSTRACT ............................................................................................................... 13
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. 15
LISTA DE TABELAS ................................................................................................. 17
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19
1.2 Revisão bibliográfica ........................................................................................... 21
1.2.1 Bem-estar humano ........................................................................................... 21
1.2.2 Atitudes e comportamento humano: influência sobre os animais de produção 23
1.2.3 Treinamento de trabalhadores ......................................................................... 29
1.2.4 Bem-estar animal ............................................................................................. 32
1.2.5 Avaliações do bem-estar animal ...................................................................... 34
I) A esfera física na avaliação do BEA ..................................................................... 37 II) A esfera mental na avaliação do BEA ................................................................... 38 III) A esfera da naturalidade na avaliação do BEA ..................................................... 41
1.2.6 Oportunidades de melhoria do bem-estar para pessoas e animais nas fazendas .................................................................................................................... 41
Referências ............................................................................................................... 45
2 RELAÇÃO ENTRE BEM-ESTAR HUMANO E BEM-ESTAR ANIMAL EM PROPRIEDADES LEITEIRAS ................................................................................... 55
Resumo ..................................................................................................................... 55
Abstract ..................................................................................................................... 55
2.1 Introdução ........................................................................................................... 56
2.2 Material e métodos .............................................................................................. 59
2.2.1 Avaliação do bem-estar das vacas leiteiras ..................................................... 61
2.2.2 Avaliação do Bem-estar Humano ..................................................................... 67
2.2.3 Coleta de dados e análise dos resultados ........................................................ 71
2.3 Resultados e discussão....................................................................................... 72
2.3.1 Avaliação do Bem-estar Animal ....................................................................... 72
2.3.2 Princípio Instalação .......................................................................................... 74
2.3.3 Princípio Sanidade ........................................................................................... 76
2.3.4 Princípio Comportamento ................................................................................. 78
2.3.5 Avaliação final do Bem-estar Animal ................................................................ 81
2.3.6 Avaliação do Bem-estar Humano ..................................................................... 82
2.4 Conclusões parciais ............................................................................................ 88
Referências ............................................................................................................... 88
10
3 INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO NAS ATITUDES, NO COMPORTAMENTO, NO CONHECIMENTO TÉCNICO DE MANEJADORES E NO MEDO EXPERIMENTADO POR VACAS ............................................................................................................. 94
Resumo .................................................................................................................... 94
Abstract ..................................................................................................................... 95
3.1 Introdução ........................................................................................................... 95
3.2 Material e métodos ............................................................................................. 97
3.2.1 Avaliação das atitudes ..................................................................................... 99
3.2.2 Avaliação dos comportamentos humanos ..................................................... 101
3.2.3 Avaliação da distância de fuga das vacas ..................................................... 102
3.2.4 Coleta de dados e análise dos resultados ..................................................... 103
3.3 Resultados e discussão .................................................................................... 105
3.3.1 Atitudes .......................................................................................................... 105
3.3.2 Comportamento ............................................................................................. 108
3.3.3 Medo em vacas leiteiras ................................................................................ 113
3.3.4 Conhecimento técnico em bem-estar animal ................................................. 114
3.4 Conclusões parciais .......................................................................................... 116
Referências ............................................................................................................. 116
4 CONCLUSÕES FINAIS ....................................................................................... 121
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 123
ANEXOS ................................................................................................................. 125
11
RESUMO
Bem-estar humano e sua influência no bem-estar de vacas leiteiras
Cada vez mais o bem-estar animal (BEA) está ganhando espaço no cenário mundial, tanto pela pressão dos países importadores, quanto pela demanda de uma sociedade mais consciente em relação às condições de vida dos animais de produção. Apesar da preocupação crescente com o BEA, são escassos os estudos sobre o bem-estar humano (BEH) nas fazendas e como ele poderia influenciar o BEA. Dessa maneira, a presente pesquisa teve como principais objetivos: analisar a relação entre bem-estar humano e bem-estar animal em propriedades leiteiras e a influência do treinamento nas atitudes, no comportamento, no conhecimento técnico de manejadores (trabalhadores e proprietários) e no medo experimentado por vacas leiteiras. As principais conclusões foram que fazendas pontuadas em nível bom de BEA apresentaram maior pontuação de BEH e fazendas pontuadas em nível aceitável de BEA apresentaram menor pontuação de BEH. Em adição, o treinamento foi positivo no comportamento humano em relação às vacas leiteiras, na diminuição do medo que as vacas têm do humano e no conhecimento técnico em BEA. De acordo com esses resultados, quanto maior o nível de BEH maior o nível BEA e o treinamento em BEA influenciou os comportamentos, os conhecimentos técnicos, o medo em vacas e as atitudes dos trabalhadores. Palavras-chave: Bem-estar de trabalhadores; Bem-estar animal; Treinamento;
Relação humano-animal; Satisfação no trabalho; Recursos humanos e gestão
13
ABSTRACT
Human welfare and its relationship to dairy cows welfare
Increasingly, animal welfare (AW) has been gaining ground on the world stage, both by pressure from importing countries, as the demand for a more conscious society regarding the living conditions for farm animals. Despite the growing concern on AW, there are few studies on human welfare (SW) in farms and how it could influence AW. Thus, the present study aimed: to analyze the relationship between stockpeople welfare and animal welfare in dairy farms and the influence of training on attitudes, behaviour, technical expertise of stockpeople (employees and owners) and fear experienced by dairy cattle. The main conclusions were that farms scored in good AW level had a higher SW score and farms scored in acceptable AW level had lower SW scores. In addition, training was positive on human behaviour towards dairy cows, on reducing fearful cows, and on AW technical expertise. According to these results, the higher AW's level, the higher SW's level. Keywords: Stockpeople welfare; Animal welfare; Human-animal relationship;
Training; Job satisfaction; Human resources and management
15
LISTA DE FIGURAS Figura 1 - Versão simplificada do modelo de Azjen e Fishbein (1980) sobre a relação
entre atitudes e comportamento (HEMSWORTH; COLEMAN, 2011) ...... 24 Figura 2 - Esquema baseado nos conceitos de Boivin et al. (2003) e Hemsworth e
Coleman (1998) ........................................................................................ 25 Figura 3 - Modelo de interação entre os diversos fatores que influenciam as atitudes
e o comportamento dos humanos em relação aos animais. Adaptado de Hemsworth e Coleman (1998) .................................................................. 26
Figura 4 - Modelo de Fogg sobre o Comportamento (Adaptado de FOGG, 2009).... 31
Figura 5 - Número absoluto de estudos sobre bem-estar animal publicados a cada
ano. O número das publicações de 2010 a 2012 (n = 2483) compreende cerca de um terço do número total de publicações nos últimos 20 anos (Walker et al., 2014) ................................................................................. 33
Figura 6 - Modelo de retroalimentação das interações entre humanos e animais de
produção (HEMSWORTH; COLEMAN, 1998) .......................................... 39 Figura 7 - Interações entre humanos e animais de produção e consequências
positivas da manutenção de comportamentos positivos tanto de humanos quanto de animais. O treinamento é parte fundamental para a personificação da cultura pacífica na fazenda .......................................... 40
Figura 8 - Quadro conceitual ilustrando a cultura positiva na fazenda (adaptado de
BURTON et al., 2012) .............................................................................. 44
Figura 9 - Adaptação do primeiro ciclo de Burton et al. (2012) para o estabelecimento
de uma cultura mais pacífica em fazendas leiteiras, incluindo o aspecto de bem-estar humano, que é expresso pelos afetos positivos e negativos no ambiente de trabalho ................................................................................ 58
Figura 10 - Representação esquemática das duas hipóteses da presente pesquisa.
Sendo que a primeira hipótese trata de responder se o efeito do treinamento pode promover melhoria no Bem-estar Animal (BEA). Já a segunda hipótese trata de responder se fazendas pontuadas em melhor nível de Bem-estar Humano (BEH) apresentariam melhor nível de BEA . 59
Figura 11 - Delineamento das etapas da pesquisa realizada. Sendo: FP: fazendas
manejadas pelos próprios proprietários, FT: fazendas manejadas por trabalhadores ........................................................................................... 60
Figura 12 - Medidas coletadas individualmente e em grupo para os princípios
Alimentação, Instalação, Sanidade e Comportamento de acordo com o protocolo Welfare Quality® adaptado por Garcia (2013) ........................... 64
16
Figura 13 - Abordagem “bottom-up” para integração dos dados de diferentes medidas para avaliação global de BEA. Adaptado de Welfare Quality® Assessment protocol for cattle – applied to dairy cows (2009) .............. 66
Figura 14 - Adaptação da Escala de Likert (pontuação não invertida e invertida) com
a utilização de escala de apoio visual como auxílio no preenchimento das questões. Adaptado de Gouveia et al. (2008) e Borges e Pinheiro (2002) .................................................................................................... 69
Figura 15 - Pontuação média da avaliação BEA nos dias 1 e 3 (D1 e D3), antes e
dois meses após o treinamento para fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) ................................................................................... 73
Figura 16 - Pontuação média da avaliação BEA nos dias 1 e 3 (D1 e D3), antes e
dois meses após o treinamento para fazendas manejadas por trabalhadores ......................................................................................... 74
Figura 17 - Pontuação média para afetos positivos e negativos de proprietários e
trabalhadores e pontuação para bem-estar animal (BEA) nas fazendas durante o experimento ........................................................................... 83
Figura 18 - Escala de cor representando a pontuação mínima e máxima de BEH,
considerando-se que níveis satisfatórios de bem-estar não significam ausência de afetos negativos, mas que esses são superados pelos afetos positivos ...................................................................................... 85
Figura 19 - Pontuação para bem-estar humano (BEH) de acordo com a pontuação
em bem-estar animal (BEA) recebida pelas fazendas no dia 1 (D1) e 3 (D3) ........................................................................................................ 85
Figura 20 - Pontuação alcançada para bem-estar humano (BEH) nas fazendas
manejadas por proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) durante o experimento ........................................................................................... 86
Figura 21 - Desenho esquemático de todas as etapas da pesquisa que foi realizada
em dez fazendas produtoras de leite em pasto na região de Piracicaba – SP. Observação: FP: fazendas manejadas pelos próprios proprietários e FT: fazendas manejadas por trabalhadores .......................................... 98
Figura 22 - a) Representação da zona de fuga ou distância de fuga dos animais
(Parker et al., 2009) e b) A distância de fuga é a distância entre a mão do observador e o focinho do animal ................................................... 102
Figura 23 - Esquema ilustrativo da sala de ordenha e dos momentos de manejo das
vacas pelos proprietários e trabalhadores ........................................... 110 Figura 24 - Esquema ilustrativo da sala de ordenha e dos momentos de manejo das
vacas pelos trabalhadores no dia antes do treinamento (D1; Figura a) e dois meses depois do treinamento em bem-estar animal (D3; Figura b) ............................................................................................................. 111
17
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Critérios e medidas propostas pelo Welfare Quality® para avaliar o bem-estar de vacas leiteiras em sistemas intensivos ..................................... 36
Tabela 2 - Descrição das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por
trabalhadores (FT) que foram selecionadas para realização das avaliações de bem-estar animal (BEA) e humano (BEH) ....................... 61
Tabela 3 - Medidas utilizadas para avaliar os critérios de bem-estar de vacas leiteiras
em pasto (Adaptação do Welfare Quality® por Garcia, 2013) ................ 63
Tabela 4 - Afetos positivos e negativos considerados na avaliação de bem-estar
humano segundo a Escala de Bem-estar Afetivo (GOUVEIA et al., 2008) ............................................................................................................... 68
Tabela 5 - Forma de abordagem sobre os afetos positivos e negativos ................... 70
Tabela 6 - Pontuação para os critérios conforto da área de descanso, conforto
térmico e facilidade de movimento do princípio ‘Instalação’ e as medidas utilizadas na avaliação das instalações das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT), nos dias 1 (D1) e 3 (D3) ........................................................................................................ 75
Tabela 7 - Pontuação para os critérios ausência de injúrias, ausência de doenças e
ausência de dor induzida pelo manejo do princípio ‘Sanidade’ e as medidas utilizadas na avaliação da saúde das vacas das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT), nos dias 1 (D1) e 3 (D3) ......................................................................... 77
Tabela 8 - Porcentagem de vacas que deixaram ser tocadas (x = 0), que deixaram o
avaliador se aproximar até 50 cm (0 < x ≤ 50), de 50 a 100 cm (50 < x ≤ 100) e que não deixaram o avaliador se aproximar mais que 100 cm (x < 100) em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3)........................................... 79
Tabela 9 - Pontuação média para o critério ‘Estado emocional positivo” para
fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) no dia 1 (D1) e dia 3 (D3) de acordo com a Avaliação Qualitativa do Comportamento (QBA – Welfare Quality®) ...................... 81
Tabela 10 - Nota final fornecida pelo protocolo Welfare Quality®, adaptado por Garcia
(2013), nos dias 1 e 3 (D1 e D3), antes e após dois meses de treinamento para fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT)......................................................................... 82
18
Tabela 11 - Pontuação do bem-estar humano e porcentagem da diferença do bem-
estar humano entre fazendas manejadas por proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) e o percentual da diferença dentro do mesmo grupo no D1 e D3 ............................................................................................. 88
Tabela 12 - Descrição das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e
por trabalhadores (FT) que foram selecionadas para realização das avaliações de bem-estar animal (BEA) e humano (BEH) ...................... 99
Tabela 13 - Questões para acessar as crenças dos trabalhadores em relação às
vacas (Hemsworth et al., 2002) ........................................................... 100 Tabela 14 - Pontuações dos itens relacionados às atitudes positivas e negativas e a
pontuação média total em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3) .. 105
Tabela 15 - Porcentagem média de comportamentos humanos positivos e negativos
observados no momento da ordenha em relação às vacas de fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3) ....................................................................... 108
Tabela 16 - Porcentagem de vacas que deixaram ser tocadas (x = 0), que deixaram
o avaliador se aproximar até 50 cm (0 < x ≤ 50), de 50 a 100 cm (50 < x ≤ 100) e que não deixaram o avaliador se aproximar mais que 100 cm (x < 100) em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3) ........................................ 113
Tabela 17 - Porcentagem média de acertos observada no questionário sobre bem-
estar animal, número aproximado de questões corretas e número de participantes no dia do treinamento (D2) e dois meses após o treinamento (D3) em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) .............................................................. 115
19
1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das sociedades industrializadas vem sendo acompanhado
pela evolução do pensamento ético sobre as condições em que os animais de
produção são criados (HONORATO et al., 2012). Entretanto, ainda hoje, é possível
dizer que muitos desconhecem as relações que esse conceito envolve e,
consequentemente, sua importância no cenário mundial.
Da mesma maneira que a rastreabilidade e a segurança alimentar dos
sistemas produtivos, o Bem-estar Animal (BEA) começa a ganhar espaço no cenário
mundial como padrão de política internacional e operações de mercado (COSTA et
al., 2013). Como exemplo, a Corporação Financeira Internacional (IFT, 2014, p. 31 e
32), braço financeiro do Banco Mundial, afirmou que "[n]o caso do bem-estar animal,
a incapacidade de manter o ritmo com a mudança de expectativas dos
consumidores e as oportunidades de mercado pode colocar empresas e seus
investidores em desvantagem competitiva".
Já no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
com o intuito de ser competitivo no mercado internacional, estabeleceu a "Comissão
Técnica Permanente de Bem-Estar Animal", propondo normas e recomendações
técnicas de boas práticas para o BEA (MAPA, 2013). Dessa forma, é importante que
exista suporte aos técnicos, gerentes e outros trabalhadores interessados em
promover o BEA nas propriedades.
Apesar do apelo atual e crescente para a questão dos animais de produção e
seu bem-estar, pouca atenção é dada aos trabalhadores envolvidos no ambiente
rural. Nesse cenário, muitos são os desafios ao enriquecimento do bem-estar dos
animais e dos trabalhadores. Isso se soma ao fato de muitos pesquisadores ainda
não reconhecem a relação humano-animal como importante para o bem-estar de
ambos. Segundo a Food and Agriculture Organization:
Além dos benefícios práticos e econômicos, a atenção para o
bem-estar animal pode gerar mais benefícios sociais. Pode
contribuir para o ensino de uma ética do cuidado, pode ser uma
força para a coesão social no seio de uma família, uma
comunidade ou um negócio e a definição de relações positivas
com os animais é um importante fator para o bem-estar humano
20
(bem como para o bem-estar animal). Esses benefícios devem
ser reconhecidos em programas de capacitação (FAO, 2008,
p.18).
Assim, ações que possam gerar mudanças na relação humano-animal, que
se conectem ao BEA e à produtividade, podem estar ligadas ao bem-estar humano
(BEH). O que por sua vez destaca a importância das ações dos trabalhadores na
manutenção do BEA.
Outros fatores humanos importantes, e que foram identificados como pré-
requisitos relacionados ao trabalho para garantir elevados padrões de BEA, são
traços de personalidade, como competência, motivação e atitude. Atitudes e
comportamentos humanos, em especial, têm sido correlacionados ao bem-estar e
produtividade animal e são aptidões aprendidas que podem mudar dependendo do
contexto. Sendo assim, prover programas nas fazendas que envolvam o treinamento
dos trabalhadores sobre a biologia dos animais, suas necessidades e
comportamentos, capacitando-os às práticas de BEA e atentando-os de sua real
importância para o sistema produtivo, pode ter efeito sobre o BEH.
Com base nessas considerações as hipóteses deste trabalho são:
Quanto maior o nível de BEH (manejadores = trabalhadores e proprietários),
maior é o nível de BEA encontrado na fazenda;
O fornecimento de treinamento em BEA para os manejadores (trabalhadores
e proprietários) influencia o bem-estar de ambos;
Fornecer treinamento em BEA para os manejadores (trabalhadores e
proprietários) influencia nas atitudes, nos comportamentos humanos, no
conhecimento técnico em BEA e no medo das vacas em relação aos
humanos.
Para testar as hipóteses, os objetivos deste trabalho são:
1) Avaliar a eficiência do treinamento em BEA na produção leiteira e as
melhorias proporcionadas no BEA e no BEH e suas inter-relações
(capítulo I);
21
2) Avaliar os efeitos do treinamento em BEA sobre o comportamento
humano, conhecimento técnico e o medo das vacas (capítulo II).
1.2 Revisão bibliográfica
1.2.1 Bem-estar humano
De acordo com Siqueira e Padovam:
(...) as concepções científicas mais proeminentes da atualidade
sobre bem-estar humano no campo psicológico podem, segundo
Ryan & Deci (2001), ser organizadas em duas perspectivas: 1)
que aborda o estado subjetivo de felicidade (bem-estar
hedônico), e se denomina bem-estar subjetivo, e 2) que
investiga o potencial humano (bem-estar eudemônico) e trata de
bem-estar psicológico (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008, p.201).
Essas duas linhas refletem visões diferentes sobre a felicidade, sendo o bem-
estar tratado como prazer ou felicidade na primeira, e como a possibilidade de uma
pessoa desenvolver suas capacidades e potencialidades na segunda (SIQUEIRA;
PADOVAM, 2008). Segundo Seligman e Csikszentmihalyi (2000), a compreensão da
felicidade, seu estudo e entendimento dos aspectos positivos da experiência
humana estão entre as principais preocupações da psicologia para o século XXI.
Apesar do trabalho constituir componente fundamental para a construção e
para o desenvolvimento do bem-estar pessoal e, consequentemente, da felicidade
(WARR, 1987; TAMAYO, 2004), raras são as pesquisas nessa área (PASCHOAL e
TAMAYO, 2008; SIQUEIRA e PADOVAM, 2008). Talvez pelo fato de os estudos na
área ainda serem incipientes, o que depende, primariamente, da existência de
instrumentos de medida válidos e confiáveis (PASCHOAL; TAMAYO, 2008),
consequentemente isso justifica a ausência de uma definição e concordância entre
os pesquisadores sobre o que realmente significa bem-estar no trabalho.
Apesar de os estudos que abordam especificamente o bem-estar no trabalho
serem mais escassos, existem diversas pesquisas na área de qualidade de vida e
22
estresse no trabalho, entretanto esses são conceitos que se relacionam ao bem-
estar em geral (PASCHOAL; TAMAYO, 2008), não abordando aspectos específicos
e importantes do BEH nesse ambiente.
Se no cenário urbano faltam pesquisas sobre o BEH, no cenário rural não é
diferente. São raros os estudos que focam no bem-estar no ambiente rural. Algumas
pesquisas utilizaram o Índice de Bem-Estar Social (IBES; GARCIA, 2003;
KAGEYAMA, 2004), para verificar a situação de bem-estar nos domicílios rurais. O
cálculo do IBES pode variar de acordo com cada pesquisa, levando em
consideração alguns indicadores, como percentual de domicílios com instalação
sanitária, telefone, coleta de lixo, iluminação elétrica, grau de escolaridade, grau de
acesso aos bens essenciais e assistência médico-odontológica.
Entretanto, para o ambiente de trabalho, o bem-estar não está apenas
relacionado à aquisição de bens materiais, mas também às emoções e à
potencialidade que determinado indivíduo é capaz de desenvolver no trabalho. O
bem-estar geral (WATERMAN, 1993) e laboral (WARR, 2007) deve ser definido pela
análise dos aspectos que se relacionam ao bem-estar subjetivo (sentimentos de
prazer vivenciados pelo indivíduo) e bem-estar psicológico (desenvolvimento de
atributos pessoais, exploração do próprio potencial, realização e expressão de si
mesmo). Segundo Paschoal e Tamayo:
O bem-estar no trabalho pode ser conceituado, portanto, como a
prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do
indivíduo de que, no seu trabalho, expressa e desenvolve seus
potenciais / habilidades e avança no alcance de suas metas de
vida (PASCHOAL; TAMAYO, 2008, p.16).
Apesar da falta de trabalhos relacionados diretamente ao BEH, o meio
científico já destacou a importância de fatores humanos, como atitude, traços de
personalidade (BOIVIN et al., 2003; HEMSWORTH e COLEMAN, 2011), autoestima,
satisfação no trabalho (BOIVIN et al., 2003), competência e motivação
(HEMSWORTH; COLEMAN, 2011) como determinantes para o tratamento mais
positivo dos animais pelos humanos, sendo pré-requisitos para o alcance de altos
níveis de BEA nas propriedades.
23
De acordo com a FAO (2008, p.6), “(...) a interação positiva com os
animais pode proporcionar benefícios psicossociais que são importantes para o
bem-estar humano”. Assim, é evidente a necessidade de se promover a melhor
relação humano-animal nas fazendas e entender melhor como o bem-estar de
animais de produção e o bem-estar de seus manejadores se relacionam.
1.2.2 Atitudes e comportamento humano: influência sobre os animais de produção
No estudo e/ou avaliação das atitudes e comportamentos humanos, é
interessante que se saiba diferenciar essas duas áreas da psicologia, assim como
entender a ligação entre elas.
Basicamente, atitude tem sido definida como tendência psicológica
expressada pela avaliação favorável ou desfavorável de algo ou alguém em
particular (EAGLY; CHAIKEN, 2007). As atitudes humanas são baseadas em três
informações: 1) informações cognitivas, 2) informações afetivas e 3) informações
comportamentais (MAIO; HADDOCK, 2009). Segundo Hemsworth e Coleman
(2011), as informações cognitivas referem-se à crença sobre algo ou alguém e, da
mesma forma, as informações afetivas são a resposta emocional sobre algo ou
alguém, enquanto as informações comportamentais referem-se à tendência para
comportar-se de determinado modo, o que pode refletir em suas atitudes. Dessa
maneira, pode-se dizer que as atitudes de um indivíduo explicam grande parte do
seu comportamento (AJZEN, 2005).
Comportamento, por sua vez, basicamente se refere à ação tomada diante
das crenças (atitudes) e a avaliação das mesmas. Mais especificamente, as crenças
que as pessoas possuem, quando combinadas às avaliações dessas crenças, levam
à formação das atitudes (AJZEN; FISHBEIN, 1980). Entretanto, a causa imediata do
comportamento é a intenção. Em outras palavras, se não existir nenhum
impedimento físico, como a inabilidade de realizar um comportamento, ou a falta de
acesso para a situação que permitirá que o comportamento seja realizado, então a
pessoa provavelmente irá fazer o que ela está intencionada (Figura 1).
24
Figura 1 - Versão simplificada do modelo de Azjen e Fishbein (1980) sobre a relação entre
atitudes e comportamento (HEMSWORTH; COLEMAN, 2011)
De acordo com a Teoria do Comportamento Planejado, a intenção de realizar
um comportamento é mais forte e mais favorável à atitude com respeito àquele
comportamento (AJZEN, 1991). Por exemplo, trabalhadores com comportamento
positivo em relação aos animais têm atitudes positivas tanto para animais quanto
para as condições em que os animais são mantidos (BOIVIN et al., 2003).
Diversas pesquisas observaram que existe relação (direta ou indireta)
entre as atitudes e o comportamento dos trabalhadores ao medo e à produtividade
dos animais (HEMSWORTH et al., 1981, 1989; COLEMAN et al., 1998; BREUER et
al., 2000; HEMSWORTH et al., 2000). Hemsworth et al. (2000) observaram que
atitudes positivas estão associadas à maior frequência de interações positivas e
menor frequência de interações negativas entre humanos e animais, sendo que as
interações positivas estão negativamente correlacionadas ao medo que os animais
têm dos humanos. O medo, por sua vez, pode ser considerado produto do
comportamento humano em relação aos animais e capaz de prejudicar o bem-estar
e a produtividade animal (HEMSWORTH; COLEMAN, 1998).
Nesse mesmo sentido, o BEH no ambiente de trabalho pode ser influenciado
pelo medo que os animais têm dos trabalhadores (BOIVIN et al., 2003), ou seja, se o
25
medo é reduzido ou não existente, há maior possibilidade de o manejo ser mais fácil
e com maior frequência de atitudes positivas, fechando o circuito de
retroalimentação, que pode ser observado na Figura 2.
Figura 2 - Esquema baseado nos conceitos de Boivin et al. (2003) e Hemsworth e Coleman (1998)
Essas relações indicam oportunidade de influenciar o medo e,
consequentemente, a produtividade, modificando as atitudes e o comportamento dos
trabalhadores (HEMSWORTH et al., 2000). Outro ponto que deve ser destacado é
que as ações dos trabalhadores podem ser melhoradas pela pré-seleção dos
indivíduos e/ou pelo treinamento técnico (BOIVIN et al., 2003), o que por sua vez
poderá influenciar em diversos fatores que estão diretamente ligados às atitudes
humanas (Figura 3).
26
1, 2, 3, 4: Fatores primários que podem ser controlados pelo treinamento visando à melhora das atitudes
e do comportamento humano em relação aos animais; 5: Fatores não relacionados diretamente ao trabalho (qualidade de vida) e fatores de gestão humana
que podem ter influência nas atitudes e no comportamento humano em relação aos animais.
Figura 3 - Modelo de interação entre os diversos fatores que influenciam as atitudes e o comportamento dos humanos em relação aos animais. Adaptado de Hemsworth e Coleman (1998)
A Figura 3 propõe um modelo de interação entre os diversos fatores que
influenciam as atitudes dos trabalhadores quando manejam animais de produção,
com base no modelo de retroalimentação de Hemsworth e Coleman (1998), que
explica a influência da interação humano-animal no bem-estar e na produtividade
dos animais.
No modelo proposto no presente trabalho, o treinamento seria peça
fundamental para se alcançarem níveis de BEA satisfatórios, além de poder realizar
mudanças positivas em alguns fatores importantes para o BEA, como na melhora do
BEH, no esclarecimento dos trabalhadores (oferecendo a eles a oportunidade de
conhecer os animais) e no aperfeiçoamento da relação humano-animal.
O treinamento poderá melhorar o BEH pelo mecanismo de aumento da
satisfação (HEMSWORTH, 2003; SIQUEIRA e GOMIDE JR., 2004; SIQUEIRA e
PADOVAM, 2008) e, mais importante do que isso, pelo aumento de prevalências das
emoções positivas no trabalho (bem-estar subjetivo; DANIELS, 2000; PASCHOAL e
TAMAMYO, 2008). Além de possibilitar que os trabalhadores desenvolvam suas
capacidades e habilidades de acordo com suas metas e da organização (bem-estar
psicológico; PASCHOAL e TAMAYO, 2008).
Dessa forma, o treinamento também poderá fornecer oportunidades aos
trabalhadores de aumentarem seu envolvimento e comprometimento organizacional,
27
o que para Siqueira e Padovam (2008) são itens importantes quando se avalia o
bem-estar no trabalho.
Entretanto, se as condições de trabalho, a gestão de recursos e a qualidade
de vida forem precárias, o BEH poderá ser prejudicado, pois a formação de atitudes
está diretamente relacionada às condições de trabalho (HEMSWORTH, 2003;
MALLER et al., 2005) e à qualidade de vida dos trabalhadores (MALLER et al.,
2005). Em outras palavras:
(...) uma pessoa satisfeita com seu emprego é estimulada a
fazer bem o seu trabalho, a aprender e melhorar suas
habilidades. Já condições ruins de trabalho diminuem o nível de
satisfação e, consequentemente, o tratamento dado aos animais
poderá ser mais rude (HONORATO et al., 2012, p. 334).
Assim, o BEH pode afetar diretamente as atitudes dos trabalhadores e
consequentemente o seu comportamento, que irá definir o tratamento dado aos
animais, o que por sua vez pode interferir positiva ou negativamente no BEA.
Segundo Hemsworth (2007), as atitudes e comportamentos dos trabalhadores
serão afetados por suas experiências iniciais na agropecuária. Por outro lado,
atitudes podem ser modificadas. De acordo com Hemsworth e Coleman (2011),
atitudes são disposições aprendidas, que podem mudar dependendo do contexto
(EAGLY; CHAIKEN, 2007). Dessa maneira, fornecer programas de capacitação para
os trabalhadores abordando, por exemplo, aspectos da biologia animal, da
percepção dos animais e dos humanos em relação ao manejo, como formas de
melhorar o ambiente social do trabalho, pode melhorar as atitudes e
comportamentos desses indivíduos e levar a melhorias no bem-estar e na
produtividade dos animais. (HEMSWORTH et al., 1994 e 2002; COLEMAN et al.,
2000).
Outro aspecto importante no manejo é a empatia que humanos têm pelos
animais, que, apesar de não haver evidências claras na literatura (MURI et al.,
2012), pode estar associada a atitudes positivas e comportamentos positivos dos
trabalhadores em relação aos animais (COLEMAN et al., 2003; HANNA et al., 2009;
HEMSWORTH e COLEMAN, 2011).
28
Empatia é a habilidade de interpretar e entender a experiência de outros
(componente cognitivo) e uma determinada reatividade emocional, que pode ser
orientada por outros ou pelo próprio indivíduo (componente afetivo; DAVIS, 1980), o
que parece influenciar a resposta do indivíduo frente ao manejo dos animais
(COLEMAN et al., 2003; HANNA et al., 2009; HEMSWORTH et al., 2009).
Nesse sentido, as interações entre humanos e animais constituem a
base para a relação humano-animal (ESTEP; HETTS, 1992). Podem ser negativas,
neutras ou positivas. Apesar de serem necessárias maiores evidências sobre o
efeito positivo das interações físicas positivas e o levantamento de quais são esses
tipos de interação entre humanos e animais (BOIVIN et al., 2003), já foi observado
que a reatividade dos animais é menor quando são manejados de forma gentil
(WAIBLINGER et al., 2004; WINDSCHNURER et al., 2009).
Algumas pesquisas (SEABROOK e BARTLE, 1992; LENSINK et al., 2000;
SEABROOK, 2001; HEMSWORTH, 2003) observaram que o comportamento dos
trabalhadores em relação aos animais foi fortemente influenciado pelas suas atitudes
(se eles descreviam os animais positiva ou negativamente; se eles sentiam a
importância de acariciar ou falar com os animais ou, de maneira contrária, bater ou
gritar com os animais) e traços de personalidade (introvertido/extrovertido,
confiável/desconfiável). Tais características psicológicas estão diretamente ligadas à
produção (taxa de crescimento e reprodução, produção de leite etc.) e ao bem-estar
animal.
Fatores como o conhecimento do comportamento animal e da percepção dos
humanos pelos animais são pontos que podem ser elucidados junto aos
trabalhadores em treinamento técnico, o que poderá favorecer a relação humano-
animal positiva por estabelecer informações técnicas sobre como manejar os
animais de acordo com as necessidades e as percepções deles. É importante que
os trabalhadores reconheçam os animais como seres conscientes e que têm
sentimentos, e não como máquinas ou entidades econômicas (GRANDIN, 2003).
Assim, o treinamento técnico tem papel fundamental na melhora da relação
humano-animal, pois poderá fornecer informações técnicas aos trabalhadores, que,
se não estiverem atualizados sobre a forma correta de lidar com os animais,
poderão, por falta de conhecimento ou por acreditarem que os manejos aversivos
facilitam o trabalho (PARANHOS DA COSTA; SANT’ANNA, 2007), apresentar alta
frequência de ações negativas em relação aos animais. Nesse mesmo sentido,
29
pessoas que têm atitudes positivas diante dos animais tendem a ter também atitudes
positivas referentes ao manejo dos animais (BOIVIN et al., 2007).
De outro modo, a melhora das atitudes dos trabalhadores relacionadas aos
animais pela alteração de outros fatores (bem-estar, experiência prévia, condições
de trabalho etc.) também parece influenciar o fator “relação humano-animal”, uma
vez que atitudes positivas estão relacionadas a ações positivas direcionadas aos
animais (LENSINK et al., 2000), o que poderá incentivar maiores interações positivas
entre as espécies.
Geralmente, os humanos comportam-se de maneira favorável a algo ou a
alguém de que gostam e comportam-se de maneira desfavorável a algo ou a alguém
de que não gostam (AJZEN; FISHBEIN, 1980). Auxiliar na mudança da visão que o
trabalhador tem do animal, por meio de informações das necessidades físicas e
psicológicas, biologia e comportamento animal, entre outros fatores, pode modificar
suas ações em relação aos animais.
Entretanto, apesar de as atitudes humanas representarem importante parte na
manutenção da relação humano-animal, a alteração de atitudes do trabalhador por si
só é insuficiente para assegurar a mudança na cultura com os outros agentes do
sistema (BURTON et al., 2012). Dessa maneira, Burton et al. (2012) observaram que
o desenvolvimento cultural nas propriedades em que estão envolvidos humanos e
animais é item essencial para o alcance de um manejo mais positivo. Os autores
enfatizam a concepção de sistemas agrícolas que promovam interações positivas
entre humanos e animais, em vez de simplesmente promover a mudança de atitude.
Essa ideia vem ao encontro do presente estudo, uma vez que se acredita que o BEA
esteja envolvido também com o bem-estar dos humanos, suas condições de
trabalho e a maneira com que se relacionam com o animal.
1.2.3 Treinamento de trabalhadores
O treinamento, em geral, tem como objetivo principal o desenvolvimento
pessoal e organizacional, sendo divido em três etapas: 1) transmissão de
informação, 2) desenvolvimento de habilidades e 3) modificação de atitudes e de
conceitos (CHIAVENATO, 1998). Uma vez que os trabalhadores são a influência
primária nas práticas agropecuárias e na transformação disso em produção e BEA
30
(SEABROOK 2001; LENSINK et al., 2001; HEMSWORTH, 2003), entende-se que o
treinamento é importante na manutenção do BEA nas fazendas.
Está claro que os fatores humanos (como variáveis demográficas, traços de
personalidade e experiência prévia) determinam suas atitudes e comportamento em
relação aos animais (HEMSWORTH e COLEMAN et al., 1998; BOIVIN et al., 2003;
BURTON et al., 2012) e que o treinamento dos trabalhadores pode constituir ação
benéfica visando ao BEA (HEMSWORTH et al., 1994; COLEMAN et al., 2000;
BOIVIN et al., 2003; HONORATO et al., 2012).
Para que um treinamento seja eficaz, é importante que sejam considerados os
fatores humanos e não humanos. Apesar de muitos autores terem constatado que a
mudança de atitude está fortemente associada ao bem-estar e à produtividade
animal (HEMSWORTH et al., 1994; COLEMAN et al., 1998; HEMSWORTH e
COLEMAN, 1998; BREUER et al., 2000; COLEMAN et al., 2000; HEMSWORTH et
al., 2002), Burton et al. (2012) observaram que simplesmente promover a mudança
de atitude não é suficiente para que a cultura dos trabalhadores em lidar com os
animais mude.
Nesse sentido, é fundamental que os aspectos humanos, como condições e
carga de trabalho, incentivos financeiros (GRANDI, 2003) e motivação para trabalhar
(CHIAVENATO, 2003), sejam considerados no alcance do bom manejo, além de
aspectos de gestão de recursos humanos, como a presença de supervisor que exija
bom manejo com os animais (GRANDIN, 2003).
Grandin (2003) relatou que, após o período de treinamento, alguns
trabalhadores voltaram a realizar suas atividades da mesma forma que antes. O que
talvez evidencie que apenas a mudança de cultura em manejar os animais é capaz
de promover, a longo prazo, uma mudança verdadeira na visão dos trabalhadores
em relação aos animais, sendo o treinamento parte fundamental nesse processo por
trazer conhecimento técnico e estímulo para que os trabalhadores desempenhem
seu papel com melhor qualidade. Entretanto, como ferramenta única, o treinamento
não seria eficiente para alcançar melhores manejos dos animais pelos
trabalhadores.
Dessa maneira, pode-se usar o Modelo de Fogg sobre o Comportamento
(Fogg Behavior Model) na tentativa de utilizar sua abordagem na construção de um
treinamento eficaz em BEA para trabalhadores nas fazendas, uma vez que esses
31
treinamentos têm como um dos principais objetivos a execução de comportamentos
positivos em relação aos animais.
Esse modelo afirma que, para uma pessoa executar um determinado
comportamento, ela deve (1) estar suficientemente motivada, (2) ter a capacidade de
realizar o comportamento e (3) ter um gatilho que diz para ela executar o
comportamento naquele exato momento. Segundo o autor, esses três fatores devem
ocorrer no mesmo momento, caso contrário o comportamento não vai acontecer
(Figura 4).
Figura 4 - Modelo de Fogg sobre o Comportamento (Adaptado de Fogg, 2009)
De acordo com o Modelo de Fogg sobre o Comportamento, é possível montar
uma equação, sendo o comportamento a soma da motivação, da habilidade e do
gatilho (Figura 4). Outra abordagem que pode ser usada no treinamento em BEA
para a mudança de atitudes e comportamentos humanos é a intervenção cognitiva-
comportamental (HEMSWORTH et al., 1994; COLEMAN et al., 2000; HEMSWORTH
et al., 2002), que se baseia em dois aspectos principais: 1) fornecer informações
sobre o manejo correto, reações e feitos sobre o manejo incorreto e a consequência
negativa na produtividade e na facilidade de manejo; e 2) fornecer exemplos de
manejos e respostas dos animais em relação aos tipos de manejo.
Sendo os programas de capacitação nas fazendas capazes de fornecer
satisfação (ROBBINS et al., 2010), conhecimentos técnicos segundo a intervenção
32
cognitiva-comportamental, e gatilhos, que podem ser trabalhados pela gestão de
recursos humanos na fazenda, destaca-se mais uma vez a importância do
treinamento no alcance de uma cultura mais positiva entre humanos e animais.
Apesar de existirem muitos esforços para entender qual é o mecanismo
envolvido na mudança de atitudes e no comportamento dos humanos em relação
aos animais de produção, algumas pesquisas (SEGERDAHL, 2007; BURTON et al.,
2012) têm apontado que mais fatores, e não só a mudança de atitude temporária,
estão envolvidos na busca do manejo mais positivo dos animais.
Entender como os trabalhadores se sentem, como isso influencia na lida
diária dos animais e como é possível mudar a visão desses indivíduos de forma a
enriquecer o bem-estar de humanos e animais é fundamental para abrir novos
caminhos e novas oportunidades na mudança de atitudes e comportamento dos
trabalhadores rurais. Assim, torna-se fundamental que a área de recursos humanos
das empresas rurais atente para essas demandas e direcionem investimentos a
treinamentos e valorização dos trabalhadores, o que poderá refletir no BEH e,
consequentemente, na maior possibilidade de melhorias do BEA.
1.2.4 Bem-estar animal
Existe considerável interesse público no BEA, e a maioria das pessoas
acredita que os animais, o que inclui animais de fazenda, não deveriam ser
submetidos à dor ou ao severo desconforto (FRASER; BROOM, 1990). Assim, o
BEA vem ganhando espaço nas discussões dos grupos mais diversos, o que
geralmente explica o assunto ser tratado de maneira muito emotiva, sem base
científica. Outro problema comum vinculado à questão é usar o antropomorfismo
para explicar comportamentos dos animais, o que pode gerar conclusões
incompletas ou erradas sobre como eles estão se sentindo nas diferentes situações.
No meio científico, segundo Walker et al. (2014), o número de estudos
referentes ao BEA aumentou em cerca de 10% a 15% anualmente de 1993 a 2012,
com pouco menos da metade sendo publicada apenas nos últimos quatro anos
(embora os números ainda sejam baixos quando comparados a outras áreas da
ciência; Figura 5).
33
Figura 5 - Número absoluto de estudos sobre bem-estar animal publicados a cada ano. O número das publicações de 2010 a 2012 (n = 2483) compreende cerca de um terço do número total de publicações nos últimos 20 anos (Walker et al., 2014)
Do ponto de vista prático, providenciar e melhorar as ferramentas que possam
avaliar cientificamente a condição dos animais é a maneira de assegurar uma
avaliação que se aproximará da realidade, transcendendo cultura ou religião.
Há algumas definições, e mesmo considerável incerteza, sobre o conceito de
BEA (FRASER, 2003). Existem basicamente três conceitos sobre BEA na literatura:
1) O desempenho dos animais na perspectiva do funcionamento biológico; 2) O
estado afetivo, tal como sofrimento, dor e outros sentimentos e emoções e 3) A
expressão do comportamento natural (HEMSWORTH; COLEMAN, 2011).
O BEA é um conceito complexo, que envolve várias questões (escolas de
conceituação), e, portanto, deve ser considerado como o estudo das três esferas
mencionadas anteriormente (física, que inclui a nutrição, saúde, fisiologia etc.;
mental, que estuda a predominância de sentimentos positivos e negativos; e
naturalidade, que se refere ao comportamento natural no ambiente de origem
evolutiva).
Entretanto, é como o animal se sente em relação ao seu ambiente e à sua
situação e, principalmente, como ele lida com os desafios diários (BROOM, 1986) a
mais importante dimensão do BEA nas discussões sobre o assunto (WARAN, 2015).
34
Além disso, é importante que se desmistifique que ele esteja ligado integralmente
aos índices produtivos do animal ou que seja nulo em situações muito ruins.
Segundo Molento (2005, p. 2), uma das formas de colocar em prática o
conceito de Broom (1986) é perceber “(...) as ferramentas das quais o animal dispõe
para contornar inadequações presentes em seu meio ambiente [e que] são utilizadas
mais intensamente à medida que aumenta o grau de dificuldade encontrado”. Dessa
maneira, se o animal apresenta alterações fisiológicas, como aumento hormonal
devido ao estresse (BROOM, 1992) ou comportamentais, como presença de
estereotipias (BROOM; JOHNSON, 2000), isso pode ser indício de
comprometimento de seu bem-estar.
Baseado no conceito multidisciplinar do BEA, o protocolo Welfare Quality®
tentou operacionalizar essa avaliação e utilizou-se de quatro princípios para analisar
e pontuar a condição de bem-estar dos animais, sendo eles: boa alimentação, boa
instalação, boa saúde e comportamento adequado. Tentativas como essa são
importantes no sentido de disponibilizar avaliações padronizadas que possam
fornecer informações mais seguras e desvinculadas de considerações éticas ou
emotivas, sem embasamento científico, objetivando identificar gargalos a serem
trabalhados no alcance de melhores condições de vida aos animais avaliados.
1.2.5 Avaliações do bem-estar animal
Na avaliação do BEA, é necessário que sejam mensuradas as diferentes
variáveis que interferem de alguma maneira na vida dos animais. Muitas escolas de
conceituação do BEA entendem que, para que essa avaliação seja completa, é
fundamental que ela agrupe três diferentes categorias de abordagem que, apesar de
diferentes, são certamente complementares:
1) Em relação às emoções que os animais experimentam;
2) Em relação aos aspectos físicos de funcionamento do organismo;
3) Em relação ao aspecto comportamental referente ao ambiente em que a
espécie evoluiu.
A princípio, com o enfoque de abordar e integrar essas três categorias, o
Conselho de Bem-Estar dos Animais de Produção (Farm Animal Welfare Council –
FACW) definiu que o bem-estar de um animal é atendido quando as cinco liberdades
são cumpridas: 1) nutrição adequada, 2) sanidade adequada, 3) ausência de
desconforto físico e térmico, 4) ausência de medo, dor e distresse e 5) capacidade
35
de expressar comportamentos da espécie. Esse princípio das cinco liberdades
constitui uma aproximação prática e útil na mensuração do BEA em diversas
situações em que os animais podem estar envolvidos.
Apesar de as cinco liberdades serem um método internacionalmente
reconhecido para avaliação do BEA, existem alguns problemas que limitam essa
análise: o conceito é amplo, o que dificulta na avaliação mais detalhada do BEA, e
existem tanto aspectos negativos e positivos, o que pode tornar esse método de
difícil utilização (MACKAY, 2015).
As metodologias de diagnóstico do BEA podem variar de acordo com cada
pesquisa, que podem ser focadas nos aspectos fisiológicos, comportamentais e
sanitários (LEBB et al., 2004), no aspecto emocional como principal fator a ser
avaliado (DUNCAN, 2005) ou nos aspectos ambientais, como espaço por animal
(BARTUSSEK, 2000).
Para conhecer o grau de bem-estar que os animais experimentam, é
necessário que a avaliação seja feita ou desenvolvida de acordo com as técnicas
específicas para o seu diagnóstico. Para isso, existem alguns protocolos que de
acordo com as cinco liberdades verificam o BEA. Alguns exemplos são o AssureWel,
Global Gap, Humane Farm Animal Care, SPCA Certified e Welfare Quality.
Em destaque, o protocolo Welfare Quality® é um bom exemplo de avaliação
de BEA, além de ser um projeto de que mais de 40 instituições científicas
participaram e aceito pela União Europeia. Nesse protocolo são utilizados
indicadores referentes a alimentação, instalação, saúde e comportamento para
avaliar o bem-estar dos animais (Welfare Quality®, 2009; Tabela 1).
36
Tabela 1 - Critérios e medidas propostas pelo Welfare Quality® para avaliar o bem-estar de vacas leiteiras em sistemas intensivos
Critérios Medidas
1. Ausência de fome prolongada escore de condição corporal
2. Ausência de sede prolongada fornecimento de água, limpeza dos pontos
de água, fluxo de água, funcionamento dos
pontos de água
3. Conforto em relação à área de descanso tempo necessário para deitar-se,
animais colidindo com equipamentos
durante movimento de deitar-se,
animais deitados parcial ou completamente
fora da área de descanso,
escore de sujidade
4. Conforto térmico não há medida desenvolvida
5. Facilidade de movimento presença de corrente,
acesso a área externa ou pasto
6. Ausência de injúrias claudicação, alteração do tegumento
7. Ausência de doenças corrimento nasal, corrimento ocular e
corrimento vulvar, diarreia, tosse,
respiração dificultada, contagem de
células somáticas, mortalidade, distocia,
síndrome da vaca caída 8. Ausência de dor induzida por
procedimentos de manejo
mochamento/descorna, corte de cauda
9. Expressão de comportamentos sociais comportamentos agonísticos
10.Expressão de outros comportamentos acesso ao pasto
11.Boa relação homem-animal teste de distância de fuga
12.Estado emocional positivo avaliação do comportamento qualitativo
Fonte: Adaptado de Welfare Quality® Assessment protocol for cattle - applied to dairy cows (2009)
É interessante enfatizar a importância da avaliação das emoções como a
parte principal do diagnóstico de BEA, relacionando os sentimentos dos animais –
ausência de estados de sofrimento e presença de sentimentos positivos –,
entretanto, essa avaliação pode ser de difícil aplicação prática, além de subjetiva
(Duncan, 2005).
Dessa maneira, o protocolo Welfare Quality® disponibilizou a Avaliação do
Comportamento Qualitativo, o QBA (Qualitative Behaviour Assessment), que
consiste no método de avaliação do BEA que julga a qualidade expressiva do
37
comportamento animal, como relaxamento, apreensão, felicidade, apatia, entre
outros (WEMELSFELDER et al., 2000).
É fundamental ainda que a avaliação do BEA seja feita através da análise das
três esferas: 1) física, 2) mental e 3) da naturalidade, uma vez que o olhar isolado
muito provavelmente trará conclusões precipitadas quanto ao bem-estar que o
animal experimenta em determinada situação.
I) A esfera física na avaliação do BEA
Essa análise considera questões de nutrição e saúde, e pode ser mensurada
por algumas medidas objetivas (peso, consumo de água e alimento, disponibilidade
de recursos no local de alojamento, diagnóstico de doenças etc.) e pelo diagnóstico
do funcionamento biológico (níveis de hormônios relacionados ao estresse,
homeostase do organismo etc.).
Analisando a definição de Broom (1986, p. 524 ) sobre o que é bem-estar de
um animal – “seu estado no que diz respeito às suas tentativas de lidar com o seu
ambiente” –, Hemsworth e Coleman (2011) sugeriram duas explicações principais
sobre esse conceito: 1) quanto tem que ser feito a fim de lidar com o ambiente e
inclui respostas biológicas como o funcionamento dos sistemas de reparo do corpo,
defesas imunológicas, respostas fisiológicas ao estresse e uma variedade de
respostas comportamentais; e 2) a extensão com que essas tentativas de
sobrevivência estão sucedendo, o que inclui a ausência de custos biológicos para o
animal, como a deterioração na eficiência de crescimento, reprodução, saúde e
ausência de injúrias. Assim, usando esse conceito, os riscos ao BEA são avaliados
em dois níveis: a magnitude das respostas fisiológicas e comportamentais e os
custos biológicos do uso dessas respostas.
Dessa maneira, é fator primordial que quaisquer sistemas de criação animal
possam providenciar oportunidades para que os animais tenham a melhor condição
nutricional e de saúde. Assim, os animais terão maior possibilidade de alcançar
níveis excelentes de BEA, em conjunto com as outras esferas a serem consideradas
nessa avaliação.
38
II) A esfera mental na avaliação do BEA
Segundo Duncan (2005), mensurar os sentimentos negativos e positivos dos
animais na avaliação de BEA é tão importante quanto os outros aspectos a serem
mensurados. Geralmente, a esfera mental define o BEA em termos de emoções,
portanto enfatiza as reduções das emoções negativas, tais como dor, medo e
frustação, e os aumentos das emoções positivas, tais como conforto e prazer
(DUNCAN; FRASER, 1997).
Na maioria das situações, aceita-se o fato de os animais expressarem
emoções por questões evolutivas. Os pesquisadores da área de comportamento
consideram que animais não humanos estão restritos a poucas e básicas emoções,
como raiva, medo, alegria e felicidade (BOLLES, 1981). Isso é baseado na visão de
que os animais possuem somente emoções que os auxiliam de alguma maneira a
lidar com problemas que colocam suas vidas em risco, ou seja, existe um benefício
evolucionário que explicaria a existência dessas emoções (HEMSWORTH;
COLEMAN, 2011).
Entretanto, essa é ainda uma questão aberta no meio científico (DAWKINS,
2006). O fato é que todos os animais possuem certas necessidades que devem ser
atendidas para que o organismo sobreviva, cresça e se reproduza, e se essas
necessidades não forem alcançadas o organismo irá apresentar sérios problemas
(HEMSWORTH; COLEMAN, 2011) fisiológicos e psicológicos.
Dessa forma, entender qual é a importância que o animal dá para
determinado recurso, por exemplo, fornece melhor entendimento sobre as suas
emoções. De acordo com Duncan (2005), em qualquer avaliação nesse sentido os
sentimentos positivos e negativos devem ser medidos por meio de testes de
preferência e testes motivacionais, que avaliam o que motiva os animais em
diferentes situações e qual é a importância daquele recurso de acordo com suas
necessidades de curta ou longa duração (BROOM; JOHNSON, 1993). Portanto, o
estado emocional é aspecto fundamental para avaliação do BEA. Entretanto, o alto
nível de bem-estar não se resume à ausência de estados afetivos negativos, mas
também à presença de estado afetivos positivos.
No protocolo Welfare Quality®, o estado emocional é mensurado pela
avaliação do Comportamento Qualitativo (QBA). Basicamente, os avaliadores, com o
39
uso da Escala Visual Analógica (EVA), pontuam 20 descritores de comportamento
(WELFARE QUALITY®, 2009). A metodologia se baseia na capacidade de o
observador humano integrar os detalhes comportamentais dos animais no contexto
que estão inseridos, usando descritores como calmo, contente, indiferente e
frustrado, termos que devido à concepção emocional apresentam relevância direta
para o BEA. Algumas pesquisas observaram que o QBA apresentou correlação
significativa com medidas de comportamento animal e respostas fisiológicas de
estresse, além de boa confiabilidade entre observadores (WEMELSFELDER et al.,
2009; RUTHERFORD et al., 2012).
Parte essencial na avaliação do estado emocional dos animais é a
relação humano-animal. Em relação às vacas leiteiras, esses animais são
constantemente manejados pelos trabalhadores da fazenda, sendo esse contato
diário e próximo, principalmente no momento da ordenha e em manejos em que os
animais são tocados.
Estudos com animais de produção têm mostrado que manejos
negativos aumentam o medo dos animais em relação aos humanos, reduzindo não
só o bem-estar, mas também a produtividade animal (HEMSWORTH; COLEMAN,
1998; Figura 6).
Figura 6 - Modelo de retroalimentação das interações entre humanos e animais de produção (HEMSWORTH; COLEMAN, 1998)
Acredita-se que a relação entre humanos e animais seja essencial para que
se alcancem bons níveis de BEA (HEMSWORTH e COLEMAM, 1998; 2011;
BURTON et al., 2012). Ações que possam gerar mudanças nessa relação, que se
40
conectem ao BEA e à produtividade, podem estar ligadas ao BEH nas fazendas,
representado aqui pelo “trabalhador mais feliz” (Figura 7).
Figura 7 - Interações entre humanos e animais de produção e consequências positivas da manutenção de comportamentos positivos tanto de humanos quanto de animais. O treinamento é parte fundamental para a personificação da cultura pacífica na fazenda
Fonte: Adaptado de Hemsworth e Coleman (1998) e Burton et al. (2012)
Burton et al. (2012) observaram que, mais do que a manutenção da boa
relação entre humanos e animais, proposta pelo modelo de Hemsworth e Coleman
(1998), é necessário que existam boas instalações, em que o manejo possa ser feito
de acordo com as necessidades dos animais, impondo menor estresse possível. Em
adição, a boa relação humano-animal também depende da seleção ou treinamento
daqueles que manejarão as vacas. Segundo os autores, apenas dessa maneira é
possível que o manejo positivo, que leva em consideração o bem-estar dos animais
e humanos, seja mantido não apenas por curto prazo, mas por toda a vida produtiva
da fazenda.
41
III) A esfera da naturalidade na avaliação do BEA
Para que os animais experimentem altos níveis de BEA é importante que
também possam expressar comportamentos que expressariam em seu ambiente de
origem evolutiva e que são, comprovadamente através de testes de preferência e
motivacionais, essenciais. Alguns estudos mostraram que, apesar de milhares de
anos de seleção, os animais domésticos ainda retêm os repertórios
comportamentais de seus ancestrais (FRASER e BROOM, 1980; PRICE, 1984)
Alguns comportamentos são tão profundamente enraizados na composição
genética dos animais que persistirão mesmo em ambientes que não exigem o
comportamento de sobrevivência (DUNCAN, 1998). Em outras palavras,
especialistas descrevem esses comportamentos baseando-se em motivação e
necessidades comportamentais, como controlados fortemente por fatores internos
(como mudanças hormonais) que estão presentes, não importando o tipo de
ambiente externo fornecido.
Dessa maneira, percebe-se a importância dessa esfera em protocolos de
avaliação de BEA. No Welfare Quality®, esse aspecto é contemplado com a análise
das instalações, que tem como premissa o conforto em relação ao descanso, a
facilidade de movimento e o conforto térmico (esse último como adaptação do
protocolo para sistemas de vacas em pasto; GARCIA, 2013) e também a análise de
comportamento apropriado, como expressão de comportamento natural através de
acesso ao pasto (WELFARE QUALITY®, 2009).
1.2.6 Oportunidades de melhoria do bem-estar para pessoas e animais nas fazendas
Algumas pesquisas vêm observando preocupação crescente por parte dos
consumidores em relação ao BEA (MOLENTO, 2005; LASSEN et al., 2006; HALL e
SANDILANDS, 2007; SCHALY et al., 2010; FRANCHI et al., 2012; QUEIROZ et al.,
2014), o que consequentemente gera preocupação por parte da indústria (CLARKE
et al., 2007; COSTA et al., 2013). Entretanto, um item que recebe menos atenção
nesse cenário é a relação entre humanos e animais e as implicações que ela tem
para o BEH (BURTON et al., 2012).
42
Segundo alguns autores (FRASER, 2003; LASSEN et al., 2006; LUSK e
NORWOOD, 2010), a deficiência de uma relação mais sadia entre manejadores e
animais se deve ao processo de industrialização e ao estabelecimento de técnicas
industriais na criação dos animais, que os tratam como commodities em vez de
seres sencientes, ou seja, capazes de sentir. Isso se deve à maior proporção de
animais por manejadores (VAARST; ALROE, 2011), o que dificulta o cuidado
individual, e às mudanças na cadeia produtiva, levando os animais a terem vidas
mais curtas, o que limita a habilidade dos manejadores em formar relações e ter
empatia por eles (TE VELDE et al., 2002; WILKIE, 2005).
Apesar de diversos estudos (LENSINK, 2002; BOIVIN et al., 2003; RENNIE et
al., 2003; BERTENSHAW e ROWLINSON, 2008; HEMSWORTH et al., 2009) terem
mostrado claramente que a qualidade do cuidado fornecido pelos manejadores tem
papel crítico nos níveis de estresse experimentados pelos animais de produção,
identificando a equipe de manejadores como aspecto-chave na promoção de
melhores níveis de BEA, ainda assim as pesquisas nessa área são desiguais
quando comparadas àquelas que têm foco principal no animal (BURTON et al,
2012).
De acordo com Boivin et al. (2003), enquanto os aspectos que envolvem a
relação entre humanos e o bem-estar dos animais têm gerado crescente interesse
na biologia e na fisiologia, esse assunto tem recebido menos atenção pela sociologia
e filosofia, apesar do interesse implícito dessas ciências. Dessa maneira, segundo
Burton et al. (2012), isso cria uma espécie de desequilíbrio na literatura, já que
grande parte dos estudos na área de BEA e na área das interações entre humanos e
animais tem se utilizado de observações quantitativas e psicométricas, deixando de
abordar, por exemplo, o aspecto cultural dos manejadores. Segundo os mesmos
autores, as duas áreas deveriam caminhar juntas:
Enquanto a ciência social foca na natureza da relação entre
humanos e animais e como os humanos emocionalmente se
vinculam e desvinculam dos animais, os pesquisadores de bem-
estar animal lidam com o assunto de uma maneira mais prática,
tentando entender como melhorar essa relação, estimulando a
mudança comportamental e de atitude (BURTON et al., 2012,
p.175).
43
Segundo Burton et al. (2012), apenas utilizando-se o foco na pesquisa
quantitativa e nas soluções cognitivas (atitudes), muito do entendimento atual sobre
como melhorar os níveis de bem-estar através das mudanças comportamentais se
limita aos problemas comuns da pesquisa quantitativa. O que inclui a negligência de
aspectos sociais e culturais das variáveis estudadas (SILVERMAN, 1998), o foco
nas atitudes sem considerar como elas se desenvolveram (KIRK; MILLER, 1986) e a
tendência a explicar atitudes e comportamentos de uma forma padronizada,
desconsiderando a situação vigente (SILVERMAN, 1985).
Assim, a oportunidade de melhoria e estabelecimento de uma cultura mais
pacífica (boa relação humano-animal, manejo compassivo, bem-estar humano e
animal etc.) nas fazendas, vai além da visão baseada apenas no conhecimento e na
cognição dos manejadores. Alguns autores (SEGERDAHL, 2007; BURTON et al.,
2012) adotaram uma perspectiva de olhar a fazenda individualmente como uma
cultura única e desenvolver a ideia mais profundamente, examinando a interação
entre a cultura desenvolvida, a cultura humana (manejadores) e a “cultura” animal
nas fazendas leiteiras, que segundo Burton et al. (2012) é constituída das
experiências pelas quais os animais passam e a maneira como reagem a elas:
Vacas e manejadores, desde o primeiro minuto que entram na
fazenda, estão imersos em uma realidade já estabelecida, com
práticas e cultura da própria fazenda. Vacas aprendem os
significados por de trás dos comportamentos dos manejadores e
os manejadores aprendem com os comportamentos das vacas,
vacas aprendem com o comportamento das outras, manejadores
aprendem com o comportamento dos outros – e todas as
interações são influenciadas pela cultura do ambiente da
fazenda (BURTON et al., 2012, p. 176).
Dessa maneira, estabelecer uma cultura mais pacífica na fazenda pode ser
uma ação representada por três ciclos simultâneos (BURTON et al., 2012; Figura 8).
O primeiro representa as interações diárias entre humanos e animais por meio de
uma boa infraestrutura, o que possibilita o manejo mais fácil e consequentemente o
melhor tratamento dos animais pelos manejadores, além de manejadores mais
44
satisfeitos. O segundo ciclo representa também as interações diárias entre humanos
e animais e a disposição incorporada nos manejadores em manejar
compassivamente os animais. Já o terceiro ciclo representa a incorporação da
cultura em cada manejador da fazenda através de períodos longos de contato com
os animais e a produção como um todo. Nesse ciclo, há o desenvolvimento do
conhecimento intuitivo e respostas empáticas em relação aos animais, e isso é
coordenado pela combinação de experiência e conhecimento dos animais como
indivíduos, levando ao desenvolvimento do entendimento do comportamento e das
semelhanças cognitivas entre vacas e humanos.
Figura 8 - Quadro conceitual ilustrando a cultura positiva na fazenda (adaptado de BURTON
et al., 2012)
Entender que cada fazenda é um caso particular e que as experiências dos
animais e dos manejadores são únicas em cada cenário pode ajudar em ações que
visem estabelecer interações mais positivas entre humanos e animais, fornecendo
oportunidades para a melhoria nos níveis de bem-estar animal e humano. Dessa
maneira, parece um campo promissor da ciência investigar mais profundamente não
apenas o bem-estar dos animais criados para consumo, mas também o bem-estar
humano e como esses fatores interagem entre si no ambiente da produção animal.
45
Referências AJZEN, I. The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, San Diego, v. 50, p. 179-211, 1991. AJZEN, I. Attitudes personality and behavior. 2nd ed. Milton-Keynes, England: Open University, 2005.p. 3-16. AJZEN, I.; FISHBEIN, M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1980. BARTUSSEK, H.; LEEB, CH.; HELD, S. Animal Needs Index for cattle. Gumpenstein: Federal Research Institute for Agriculture in Alpine Regions, 2000. Disponível em http://www.bartussek.at/pdf/anicattle.pdf. Acesso em 10 set. 2015. BERTENSHAW, C.E.; ROWLINSON, P. Exploring heifer’s perception on ‘positive’ treatment through their motivation to pursue a retreated human. Animal Welfare, Gumpenstein, v. 17, p. 313-319, 2008. BREUER, K.;HEMSWORTH, P.H, BARNETT, J.L.; MATTHEWS, L.R.; COLEMAN, G.J. Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdan, v. 66, p. 273–288, 2000. BOIVIN, X.; LENSINK, J.; TALLET, C.; VEISSIER, I. Stockmanship and farm animal welfare. Animal Welfare, Inglaterra, v.12, n.4, p.479-492, 2003. BOIVIN, X; MARCANTOGNINI, L; BOULESTEIX, P; GODET, J; BRULÉ, A; VEISSIER, I. Attitudes of farmers towards Limousin cattle and their handling. Animal Welfare, Inglaterra, v. 16, n.2, p. 147-151, 2007. BOLLES, R. Emotion. In: MCFARLAND, D.J. (ed.) The Oxford Companion to Animal Behaviour. Oxford, UK: Oxford University Press, 1981. p.149-152. BROOM, D.M. Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, London, v.142, p.524-526, 1986. BROOM, D.M. Animal Welfare: its scientific measurement and current relevance to animal husbandry I Europe. In: PHILLIPS, C.; PIGGINS, D. (Ed). Farm animals and environment. Wallingford: CAB International, 1992. p. 245-253.
46
BROOM, D.M.; JOHNSON, K.G. Stress and animal welfare. Dordrecht, Kluwer Academic, 2000. p.58-73. BURTON, R.J.F.; PEOPLES, S.; COOPER, M.H. Building ‘cowshed cultures’: A cultural perspective on the promotion of stockmanship and animal welfare on dairy farms. Journal of Rural Studies, New York, v. 28, p. 174 - 187, 2012. CHIAVENATO, I. Gerenciando pessoas: como transformar gerentes em gestores de pessoas. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. p.147-198. CLARKE, N.; BARNETT, C.; CLOKE, P.; MALPASS, A. Globalising the consumer: doing politics in an ethical register. Political Geography,Inglaterra, v. 26, p. 231-149, 2007. COLEMAN, G.C.; HEMSWORTH, P.H; HAY, M.; COX, M. Predicting stockperson behaviour towards pigs from attitudinal and job-related variables and empathy. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 58, p. 63–75, 1998. COLEMAN, G.J.; HEMSWORTH, P.H.; HAY, M.; COX, M. Modifying stockperson attitudes and behaviour towards pigs at a large commercial farm. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.66, p.11-20, 2000. COSTA, J.H.C.; HÖTZEL, M.J.; LONGO, C.; BALCÃO, LF. A survey of management practices that influence production and welfare of dairy cattle on family farms in southern Brazil. Journal of Dairy Science, Champaign, v. 96, n.1, p. 307-317, 2013. DANIELS, K. Measures of five aspects of affective wel-being at work. Human
Relations, New York, v. 53, p. 275-294, 2000.
DAWKINS, M.S. Through animal eyes: what behaviour tells us. Applied Animal
Behaviour Science, Amsterdam, v. 100, p. 4-10, 2006.
DUNCAN, I.J. Behavior and behavioral needs. Poultry Science, Champaign, v. 77, n.12, p. 1766-1772, 1998. DUNCAN, I.J. Science-based assessment of animal welfare: farm animals. Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), Paris, v. 2, n. 24, p. 483- 492, 2005.
47
DUNCAN, I.J.H.; FRASER, D. Understanding Animal Welfare. In: APPLEBY, M.C. E HUGHES, B.O. (Ed.). Animal Welfare. Wallingford, UK:CAB International, 1997. p. 19-31. EAGLY, A.; CHAIKEN, S. The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, New York, v. 25, p. 582-602, 2007. ELLINGSEN, K.; COLEMAN, G.J.; LUND, V.; MEJDELL, C.M. Using qualitative behaviour assessment to explore the link between stockperson behaviour and dairy calf behaviour. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 153, p.10-17, 2014. ESTEP, D.Q.; HETTS, S. Interactions, relationships, and bonds: the conceptual basis for scientist–animal relations. In: DAVIS, H.; BALFOUR, D. (Ed.). The Inevitable Bond: Examining Scientist–Animal Interactions, 1992. Cambridge University Press: Cambridge, UK, p. 6-26. FRANCHI, G.M,; NUNES, M.L.A.; GARCIA, P.R.;SILVA, I.J.O. Percepção do mercado consumidor de Piracicaba em relação ao bem-estar dos animais de produção. Pubvet, Paraná, v.6, n.11, p. 1982-1263, 2012. FRASER, D. Assessing animal welfare at the farm and group level: the interplay of science and values. Animal Welfare, Inglaterra, v. 12, p. 443-443, 2003. FRASER, A.F; BROOM, D.M. Farm Animal Behaviour and Welfare. Sannders, New York, 1990. p. 437. FOGG, B.J. A Behavior Model for Persuasive Design. In: Proceedings… ACM, 2009. Disponível em: http://bjfogg.com/fbm_files/page4_1.pdf. Acesso em 15 nov.2015. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Capacitação para implementar boas práticas de bem-estar animal. Relatório do Encontro de Especialistas da FAO. Roma 30 setembro a 3 de outubro de 2008. Página 18. Disponível em: http://www.fao.org/docrep/012/i0483pt/i0483pt00.htm. Acesso em: 15 nov. 2015. GARCIA, P.R. Sistema de avaliação do bem-estar animal para propriedades leiteiras com sistema de pastejo. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências- Área de concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013.
48
GARCIA, R.C. O desenvolvimento rural e o PPA 2000/2003: uma tentativa de avaliação. Brasília, 2003. Texto para discussão n. 938/IPEA. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0938.pdf Acesso em: 17 ago. 2015. GRANDIN, T. Transferring results of behavioral research to industry to improve animal welfare on the farm, ranch and the slaughter plant. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 81, p. 215–228, 2003. HALL, C.; SANDILANDS, V. Public attitudes to the welfare of broiler chickens. Animal Welfare, Inglaterra, v. 16, p. 419-512, 2007. HANNA, D.; SNEDDON, I.A.; BEATTIE, V.E. The relationship between the stockperson’s personality and attitudes and the productivity of dairy cows. Animal, Cambridge, v. 3, n.5, p. 737-743, 2009. HEMSWORTH, P.H. Human-animal interactions in livestock production. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 81, p. 185-189, 2003. HEMSWORTH, P.H. Ethical stockmanship. Australian Veterinary Journal, Brunswick, v.85, p. 194-200, 2007. HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L.; COLEMAN, G.J. The integration of human-animal relations into animal welfare monitoring schemes. Animal Welfare, Inglatera, v. 18, p. 335-345, 2009. HEMSWORTH, P. H.; BARNETT, J. L.; COLEMAN, G. J.; HANSEN; C. A study of the relationships between the attitudinal and behavioural profiles of stockpeople and the level of fear of humans and the reproductive performance of commercial pigs. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 23, p. 301–314, 1989. HEMSWORTH, P.H.; BRAND, A.; WILLEMS, P.J. The behavioural response of sows to the presence of human beings and their productivity. Livestock Production Science, Amsterdam, v. 8, p.67–74, 1981. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. Human-livestock interactions: the stockperson and the productivity and welfare of intensively farmed animals. London: CAB International, 1998.p. 91-106.
49
HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively Farmed Animals, 2nd ed. Wallingford, UK:CAB International, 2011. p. 84-152. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L. Improving the attitude and behaviour of stockpersons towards pigs and the consequences on the behaviour and reproductive performance of commercial pigs. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.39, p.349-362, 1994. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L.; BORG, S. Relationships between human-animal interactions and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal Science, Champaign, v.78, p.2821-2831, 2000. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L.; BORG, S.; DOWLING, S. The effects of cognitive behavioral intervention on the attitude and behavior of stockpersons and the behavior and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal Science, Champaign, v.80, p.68-78, 2002. HONORATO, L.A.; HÖTZEL, M.J.; GOMES, C.C.M.; SILVEIRA, I.D.B.; FILHO, C.P.M. Particularities of the human-animal interactions relevant to the welfare and productivity of dairy cows. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 42, n.2, p. 332-339, 2012. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Draft Good Practice Note: Improving Animal Welfare in Livestock Operations. Disponível em http://www.iFT.org/wps/wcm/connect/83d7120043912820aae4ba869243d457/IFT-GPN-AnimalWelfare_DRAFTwHighlights2014.pdf?MOD=AJPERES. Acesso em: 12 fev. 2015. JANSEN, J.; VAN DEN BORNE, B.H.; RENES, R.J.; VAN SCHAIK, G; LAM, TJ; LEEUWIS, C. Explaining mastitis incidence in Dutch dairy farming: the influence of farmers' attitudes and behaviour. Preventive Veterinary Medicine, Amsterdam, v. 92,n.3, p. 210-23, 2009. KAGEYAMA, A. Desenvolvimento rural: conceito e um exemplo de medida. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 42, 2004, Cuiabá. Anais ... Cuiabá: 2004. 1CD-ROM. KIRK, J. ;MILLER, M. Reliability and validity in qualitative research, Qualitative Research Methods Series, v. 1, Sage, London, 1986.p. 47.
50
LASSEN, J.; SANDOE, P.; FORKMAN, B. Happy pigs are dirty! – conflicting perspectives on animal welfare. Livestock Science, Amsterdam, v. 103, p. 221-230, 2006. LEEB, C.; MAIN, D.C.J.; WHAY, H.R.; WEBSTER, A.J.F. Bristol Welfare Assurance Program: Cattle Assessment. Bristol: University of Bristol, 2004. Disponível em http://www.milk.org.il/info/welfare/docs/essay/481-0001-06-2-023.pdf Acesso em 10 ago. 2015. LENSINK, B.J. The human-relationship in animal production. First Virtual Global Conference on Organic Beef Cattle Production, 02 de setembro – 15 de outubro, 2002. Disponível em: http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congressovirtual/pdf/ingles/02en04.pdf. Acesso em 05 ago. 2015. LENSINK, B.J.; BOISS Y, A.; VEISSIER, I. The relationship between farmer’s attitude and behaviour towards calves, and productivity of veal units. Annales de Zootechnie, Versailles, v. 49, p. 313-332, 2000. LENSINK, B.J.; VEISSIER, I.; FLORAND, L. 2001 The farmers’ influence on calves’ behaviour, health and production of a veal unit. Animal Science, Penicuik, v. 72, p. 105-116, 2001. LUSK, J.L.; NORWOOD, F.B. Direct versus indirect questioning: an application to the well-being of farm animals. Social Indicators Research, Dordrecht, v. 96, p. 551-565, 2010. MACKAY, J. The Five Freedoms. Palestra. Universidade de Edinburgh, 2015. Disponível em https://www.coursera.org/learn/animal-welfare. Acesso em: 01ago. 2015. MAIO, GR; HADDOCK, G. 2009. The Psychology of Attitudes and Attitude Change. London, UK: SAGE Publications: 2009. p. 24-38. MALLER, C.J.; HEMSWORTH, P.H.; NG, K.T.; JONGMAN, E.J.; COLEMAN, G.J.; ARNOLD, N. A. The relationships between characteristics of milking sheds and the attitudes to dairy cows, working conditions, and quality of life of dairy farmers. Australian Journal of Agricultural Research, Victoria, v.56, n.4), p.363-372, 2005.
51
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Legislação. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/animal/bem-estar-animal/auditorias. Acesso em: 6 jun. 2013. MURI, K.; TUFTE, P. A.; SKJERVE, E.; VALLE, P. S. Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I). Animal Welfare, Inglaterra, v. 21, p. 535-545, 2012. MOLENTO, C.F.M. Bem-estar e produção animal: aspectos econômicos – revisão. Archives of Veterinary Science, Curitiba, v. 10, n1, p. 1-11, 2005. PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Construção e validação da Escala de bem-estar no trabalho. Avaliação Psicológica, São Paulo, v.7, n.1, p. 11-22, 2008. PRICE, E.O. Behavioral aspects of animal domestication. The Quarterly Review of Biology, New York, v. 59, n.1, p. 1-32, 1984. QUEIROZ, M.L.V.; BARBOSA FILHO, J.A.D.; ALBIERO, D.;BRASIL, D.F.; MELO RP. Percepção dos consumidores sobre o bem-estar dos animais de produção em Fortaleza, Ceará. Revista Ciência Agronômica, Ceará, v. 45, n.2, p. 379-386, 2014. RENNIE, L.; BOWELL, V.; DEARLING, J.; HASKELL, M.; LAWRENCE, A. A study of three methods used to assess stockmanship on commercial dairy farms: can these become effective welfare assessment techniques? Animal Welfare, Inglaterra, v. 12, p. 591-597, 2003. RUTHERFORD,K.M.D.; DONALD, R.D.; LAWRENCE, A.B.; WEMELSFELDER, F. Qualitative Behavioural Assessment of emotionality in pigs. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 139, p. 218–224, 2012. RYAN, R.M.;DECI, E.R. On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, Palo Alto, v.52, p.141-166, 2001. ROBBINS, S.P.; JUDGE, T.A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teoria e pratica no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2010. SANT'ANNA, A.C.; PARANHOS DA COSTA, M.J.R. A noção de ordenhadores sobre suas interações com as vacas leiteiras. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44., 2007, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal, 2007.
52
SCHALY, L.M.; OLIVEIRA, M.C.; SALVIANO, P.A.P; ABREU, J.M. Percepção do consumidor sobre bem-estar de animais de produção em Rio Verde, GO. Pubvet, Paraná, v. 4, n.38, p. 1982-1263, 2010. SEABROOK, M.F. The effect of the operational environment and operating protocols on the attitudes and behaviour of employed stockpersons. In: HOVI, M.; BOUILHOL, M. Ed.. In: NAHWOA WORKSHOP, HUMAN–ANIMAL RELATIONSHIP: STOCKMANSHIP AND HOUSING IN ORGANIC LIVESTOCK SYSTEMS, 3., 2000. Clermont-Ferrand, France. Proceedings…. Oct. 21–24 2000, Clermont-Ferrand, France. University of Reading: UK, 2001. p. 21-30. SEABROOK, M.F.; BARTLE, N.C. Environmental factors influencing the production and welfare of farm animals — human factors. In: PHILLIPS, C.J. C.; PIGGINS D.E. Farm Animals and the Environment, Wallingford:CAB International: 1992. p 111-130. SEGERDAHL, P. Can natural behaviour be cultivated? The farm as a local / animal culture. Journal of Agriculture and Environmental Ethics, Dordrecht, v. 20, p. 167-193, 2007. SELIGMAN, M.E.P.; CSIKSZENTMIHALYI, M. Positive psychology: An introduction. American Psychologist, Washington, v.55, p. 5-14, 2000. SILVERMAN, D. Qualitative methods and sociology. Gower Publishing, Aldershot, 1985. SILVERMAN, D. Qualitative research: meanings or practices? Information Systems Journal, Amsterdam, v. 8, p. 3-20, 1998. SIQUEIRA, M.M.M.; GOMIDE, J.S. Vínculos do indivíduo com o trabalho e com a organização: Psicologia, organizações e trabalho no Brasil: Porto Alegre: Artmed, 2004. p.300-328. SIQUEIRA, M.M.M.; PADOVAM, V.A.R. Bases teóricas de bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico e bem-estar no trabalho. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 23, p. 201-209, 2008. TAMAYO, A. Introdução em cultura e saúde nas organizações Porto Alegre: Artmed, 2004.p. 11-16.
53
TE VELDE, H.; AARTS, N.; VAN WOERKUM, C. Dealing with ambivalence: farmer’s and consumer’s perceptions of animal welfare in livestock breeding. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Dordrecht, v. 15, p. 203-219, 2002. VAARST, M.; ALROE, H.F. Concepts of animal health and welfare in organic livestock systems. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Dordrecht v. 3, p. 333-347, 2011. WAIBLINGER, S.; MENKEA, C.; COLEMAN, G. The relationship between attitudes, personal characteristics and behaviour of stockpeople and subsequent behaviour and production of dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 79, p. 195-219, 2002. WAIBLINGER, S.; MENKEA, C; KORFFA, J.; BUCHERB, A. Previous handling and gentle interactions affect behaviour and heart rate of dairy cows during a veterinary procedure. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.85, p. 31-42, 2004. WALKER, M.; DIEZ-LEON, M.; MASON, G. Animal Welfare Science: Recent Publication Trends and Future Research Priorities. International Journal of Comparative Psychology, v. 27, n.1, p. 80-100, 2014. WARAN, N. What is animal welfare and why does it matter? What is animal welfare? Palestra. Universidade de Edinburgh, 2015. Disponível em: https://www.coursera.org/learn/animal-welfare. Acesso em 01 ago. 2015. WARR, P. Work, happiness and unhappiness. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.p. 19-49.
WELFARE QUALITY® Welfare Quality assessment protocol for cattle. Welfare
Quality Consortium, Lelystad Netherlands, 2009.p. 60-111. WEMELSFELDER, F.; HUNTER, E.A.; MENDL, M.T.; LAWRENCE, A.B. The spontaneous qualitative assessment of behavioural expressions in pigs: first explorations of a novel methodology for integrative animal welfare measurement. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 67, n.3, p.193-215, 2000. WEMELSFELDER, F.; MILLARD, F.; DE ROSA, G.; NAPOLITANO, F. Qualitative Behaviour Assessment. In: FORKMAN, B.; KEELING, L. (Ed.) Assessment of Animal Welfare Measures for Dairy Cattle, Beef Bulls and Veal Calves. Welfare United Kingdom:Cardiff University, 2009 (Quality Reports, 11). p. 215–224.
54
WILKIE, R. Sentient commodities and productive paradoxes: the ambiguous nature of human-livestock relations in Northeast Scotland. Journal of Rural Studies, New York, v. 21, p. 213-230, 2005. WINDSCHNURER, I.citar todos et al. Can stroking during milking decrease avoidance distances of cows towards humans? Animal Welfare, Inglaterra, v.18, p.507-513, 2009.
55
2 RELAÇÃO ENTRE BEM-ESTAR HUMANO E BEM-ESTAR ANIMAL EM PROPRIEDADES LEITEIRAS
Resumo
Apesar do crescente interesse sobre o bem-estar dos animais, o mesmo não acontece em relação ao bem-estar dos humanos. Entender como os manejadores se sentem sobre o seu trabalho e como isso se relaciona ao bem-estar animal (BEA) é uma linha importante de pesquisa para a produção mais ética. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência do treinamento técnico realizado em fazendas leiteiras e as melhorias proporcionadas no BEA e no Bem-estar Humano (BEH) e suas inter-relações em dez propriedades do estado de São Paulo. Essas propriedades foram divididas em dois grupos: fazendas em que as vacas eram manejadas pelos próprios proprietários (FP) e fazendas em que as vacas eram manejadas por mão de obra terceirizada (trabalhadores; FT). O protocolo para o desenvolvimento da pesquisa foi o seguinte: 1) Dia 1 (D1), ou seja, realização da avaliação inicial, sem nenhum tipo de treinamento; 2) Dia 2 (D2), realização do treinamento sobre bem-estar de vacas leiteiras e 3) Dia 3 (D3), realização da avaliação final depois de dois meses do treinamento. Para a avaliação do BEA, foi utilizado o protocolo Welfare Quality® adaptado para vacas criadas em pasto. Para a avaliação do BEH (afetos positivos e negativos experimentados no ambiente de trabalho), foi utilizada a Escala de Bem-Estar Afetivo no Trabalho (Jaws), adaptada para o português. As avaliações foram realizadas em dois momentos diferentes do estudo (D1 e D3). Segundo o protocolo Welfare Quality®, no D1, 50% das propriedades de ambos os grupos (FP e FT) foram pontuadas em BEA aceitável e os outros 50% foram pontuados em BEA bom. No D3, para o grupo FP, 83% das fazendas foram pontuadas em BEA bom e 17% em BEA aceitável. Para o grupo FT, 100% das fazendas foram pontuadas em BEA bom. Foi realizada a análise descritiva do protocolo Welfare Quality® avaliando-se o D1 e o D3. Na avaliação dos princípios Instalação e Comportamento Apropriado, o grupo FP obteve melhor pontuação no D3 em relação ao D1. Já o grupo FT obteve melhor pontuação no mesmo dia para os princípios Instalação, Sanidade e Comportamento Apropriado. Como conclusão, o treinamento teve efeito positivo sobre o BEA em todas as fazendas e sobre o BEH de trabalhadores, mas não de proprietários. Fazendas pontuadas em nível bom de BEA apresentaram maior pontuação de BEH e fazendas pontuadas em nível aceitável de BEA apresentaram menor pontuação de BEH. De acordo com esses resultados, quanto maior o nível de BEH maior o nível BEA. Palavras-chave: Bem-estar de vacas leiteiras; Afetos positivos no trabalho; Afetos
negativos no trabalho
Abstract
Despite the growing interest in animal welfare science, the same is not true about stockpeople welfare (SW). Understanding how stockpeople feel about their work and how it relates to animal welfare (AW) is a research line for a more ethical animal production. This research aimed to evaluate the efficiency of technical training conducted on dairy farms and the improvements provided to on AW and SW and
56
their inter-relationships in ten farms in the state of Sao Paulo. These farms were divided into two groups: farms whose cows were handled by the owners (O) and farms whose cows were handled by outsourced labor (employees; E). The protocol for the development of the research was the following: 1) Day 1 (D1), i.e., initial assessment, no training was provided; 2) Day 2 (D2), training on dairy cow welfare and 3) Day 3 (D3), final assessment two months after the training. Welfare Quality® protocol, adapted for cows raised on pasture, was used for AW evaluation. The Job-Related Affective Well-Being Scale (Jaws), adapted to Portuguese, was used for SW evaluation. The evaluations were performed at two different times of the study (D1 and D3). According to the Welfare Quality®, at D1, 50% of the farms of both groups (O and E) were scored with acceptable AW level and the other 50% was scored with good AW level at D1. At D3, for group O, 83% of the farms were scored with good AW level and 17% with acceptable level at D3. Group E had 100% of its farms scored with good AW level. The Welfare Quality®'s descriptive analysis was performed at D1 and D3. For Installation and Appropriate Behavior principles, group E had better scores at D3 in relation to D1. Yet, group O had better Installation, Health and Appropriate Behavior principles scores at the same day. In conclusion, the training had a positive effect on AW in all farms and on welfare of employees, but not on welfare of owners. Farms scored with good AW level had a higher SW score and farms scored with acceptable AW level had lower SW scores. According to these results, the higher AW's level, the higher SW's level. Keywords: Dairy cow welfare; Positive affection at workplace; Negative affections at
workplace
2.1 Introdução
Apesar de algumas pesquisas apontarem para o crescimento da preocupação
por parte dos consumidores (APPLEY, 2004; MOLENTO, 2005; LASSEN et al.,
2006; HALL e SANDILANDS, 2007; SCHALY et al., 2010; FRANCHI et al., 2012;
QUEIROZ et al., 2014) e da indústria (CLARKE et al., 2007; COSTA et al., 2013) em
relação ao tema bem-estar animal (BEA), pouca atenção vem sendo dada à relação
entre os trabalhadores e os animais e às implicações que essa relação tem para o
bem-estar humano (BURTON et al., 2012).
Apesar de existir crescente interesse sobre a saúde mental do trabalhador
(GOUVEIA et al., 2008), esse não parece ser um tema que alcança o cenário rural.
Alguns autores vêm estudando as características humanas, como satisfação,
comportamento e atitudes em relação aos animais (HEMSWORTH; COLEMAN,
2011), e quais são as influências delas sobre produtividade e BEA. Entretanto,
parece não existirem esforços para entender como o humano se sente em relação
57
ao próprio trabalho nesse ambiente, o que nesta pesquisa foi definido como bem-
estar humano (BEH).
Para Ryan e Deci (2001), o bem-estar é o estado de satisfação do indivíduo
com ele mesmo e com o seu meio. Refere-se ao que as pessoas pensam e como
elas se sentem sobre suas vidas. Com isso, segundo Gouveia et al. (2008), pode-se
dizer que o bem-estar é constituído por dois componentes principais: o cognitivo
(satisfação com a vida, permitindo que as pessoas façam uma avaliação global da
própria vida) e o afetivo (componentes emocionais, permitindo às pessoas
vivenciarem emoções positivas e negativas).
Na área da saúde e da qualidade de vida dos humanos, é possível observar
alguns autores abordando esse tema no ambiente rural (KOLSTRUP; HULTGREN,
2011), como no estudo de fatores de risco e das formas de melhoria das condições
de trabalho. Na área da psicologia, os autores têm ampliado essa discussão para a
área de bem-estar subjetivo, enfatizando como as emoções positivas e negativas
podem afetar a saúde do trabalhador (CARTER, 2004; CHENG, 2004). Entretanto
esse não parece ser um tema amplamente abordado no cenário da produção
animal.
Segundo Carter et al. (2004), as emoções têm tido um papel de destaque nos
estudos com humanos, sendo identificadas através dos afetos positivos e negativos,
compreendendo o elemento central do bem-estar subjetivo (GOUVEIA et al., 2003).
É importante enfatizar que o fato de o indivíduo apresentar alto nível de bem-estar
não significa necessariamente a ausência de emoções negativas, mas que as
positivas se destacam em relação às negativas (ALBURQUEQUE; TROCCÓLI,
2004). Dessa maneira, a Escala de Bem-estar Afetivo (KATWYK et al., 2000),
adaptada por Gouveia et al. (2008), identifica afetos positivos e negativos
experimentados, representando o constructo escolhido por esta pesquisa para
acessar o bem-estar humano.
No livro de Hemsworth e Coleman (2011) intitulado Human-Livestock
Interations (Interações entre humanos e animais de produção, em tradução livre),
apesar da preocupação evidente com as questões humanas, considerando-se os
trabalhadores como profissionais importantes e essenciais no meio, o bem-estar
humano não é abordado segundo o conceito do bem-estar subjetivo. Entretanto,
existe a ideia de que as características dos trabalhadores são importantes
58
determinantes no estabelecimento de interações positivas, o que pode promover
melhoria no bem-estar e na produtividade animal.
Na Figura 9, é possível analisar que as melhorias no bem-estar e na
produtividade animal são resultado não apenas de uma boa infraestrutura, mas
também da felicidade experimentada pelo trabalhador. Apesar de Burton et al.
(2012) terem atribuído a felicidade apenas a fatores externos ao trabalho, o presente
estudo destaca que o BEH experimentado no ambiente de trabalho deve ser
adicionado a essa soma de fatores, pois também pode desempenhar papel
importante nas interações com os animais e, dessa maneira, favorecer o bem-estar
de ambos.
Figura 9 - Adaptação do primeiro ciclo de Burton et al. (2012) para o estabelecimento de
uma cultura mais pacífica em fazendas leiteiras, incluindo o aspecto de bem-estar humano, que é expresso pelos afetos positivos e negativos no ambiente de trabalho
Dessa maneira, acredita-se que o tempo dedicado ao trabalho constitui um
componente fundamental para a construção e o desenvolvimento do bem-estar
pessoal e da felicidade.
A critério de estabelecer mais clareza na discussão dos resultados,
apresenta-se na Figura 10 as hipóteses desta pesquisa. A primeira hipótese trata de
59
responder se o efeito do treinamento pode promover melhoria no Bem-estar Animal
(BEA). Já a segunda hipótese procura responder se fazendas pontuadas em melhor
nível de Bem-estar Humano (BEH) apresentariam melhor nível de BEA.
Figura 10 - Representação esquemática das duas hipóteses da presente pesquisa. Sendo que a primeira hipótese trata de responder se o efeito do treinamento pode promover melhoria no Bem-estar Animal (BEA). Já a segunda hipótese trata de responder se fazendas pontuadas em melhor nível de Bem-estar Humano (BEH) apresentariam melhor nível de BEA
Sendo assim, está claro que o trabalho de manejo dos animais desenvolvido
na fazenda é importante devido à sua influência no bem-estar e na produtividade
animal, mas não só isso, é necessário reconhecer os trabalhadores como
profissionais que devem ser qualificados e reconhecidos no ambiente de trabalho.
Com base nessa necessidade de abordar e estudar o BEH no ambiente da
produção animal e verificar como isso se relaciona ao BEA, as hipóteses deste
trabalho foram:
1) O efeito do treinamento para manejadores (trabalhadores e proprietários)
pode promover melhorias no BEA e;
2) Quanto maior o nível de BEH, maior será o nível de BEA.
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do treinamento técnico
realizado em fazendas leiteiras, as melhorias proporcionadas no BEA e BEH e suas
inter-relações em dez propriedades do estado de São Paulo.
2.2 Material e métodos
60
A pesquisa foi conduzida em dez fazendas leiteiras com vacas em pasto nas
bacias leiteiras de Avaré, Campinas e Piracicaba, no estado de São Paulo, e dividida
em quatro etapas, o que pode ser observado na Figura 11: 1) seleção das fazendas;
2) avaliação inicial de bem-estar humano e animal (D1); 3) treinamento e avaliação
do bem-estar humano (D2); e 4) avaliação final de bem-estar humano e animal (D3),
com o objetivo principal de avaliar se o bem-estar dos proprietários e trabalhadores e
o treinamento teriam efeito sobre o nível de BEA em fazendas com vacas de leite em
pasto manejadas pelos próprios proprietários (FP) ou por mão de obra terceirizada
(trabalhadores; FT).
Figura 11 - Delineamento das etapas da pesquisa realizada. Sendo: FP: fazendas manejadas pelos próprios proprietários, FT: fazendas manejadas por trabalhadores
Etapa I – Seleção das fazendas. Primeiramente, o contato foi feito pelo telefone com
produtores das bacias leiteiras de Avaré, Campinas e Piracicaba. Com a permissão
para desenvolver a pesquisa nas fazendas, as primeiras visitas foram realizadas e o
D1 foi estabelecido e agendado nesse mesmo dia. Em alguns casos, houve a
necessidade de reunião na própria fazenda antes do início da pesquisa, no intuito de
explicar com mais detalhes como o estudo seria conduzido. Entretanto, sem entrar
no mérito das avaliações que seriam realizadas, o que poderia prejudicar os
61
resultados. Foram selecionadas dez fazendas de leite em pasto e aquelas que
aceitaram participar da pesquisa foram adicionadas ao projeto, não havendo dessa
maneira critério mais rígido de seleção.
Em nenhuma das fazendas os respectivos proprietários ou trabalhadores
haviam recebido algum tipo de treinamento técnico referente à adoção de boas
práticas em BEA, assim como nenhum tipo de avaliação ou certificação anteriores. A
descrição geral das fazendas selecionadas se encontra na Tabela 2.
Tabela 2 - Descrição das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) que foram selecionadas para realização das avaliações de bem-estar animal (BEA) e humano (BEH)
Fazendas Cidade Tipo Nº vacas lactantes
Produção diária (L / Dia)
Área (ha)
Nº trabalhadores
N º vacas ordenhadas / trabalhador
1 Piracicaba FP 32 500 40 2 16
2 Piracicaba FP 31 450 44 1 31
3 Piracicaba FP 25 250 40 1 25
4 Piracicaba FP 20 200 55 2 10
5 Piracicaba FP 17 180 55 1 17
6 Piracicaba FP 14 150 50 1 14
7 Serra Negra
FT 190 4300 102
5 38
8 Piracicaba FT 170 2150 104 4 ~42
9 Avaré FT 59 960 120 3 ~19
10 Piracicaba FT 52 1000 195 2 26
Outros dados não foram acrescentados por manutenção da privacidade das
fazendas envolvidas.
Etapa II – Avaliação inicial do bem-estar humano e animal. Foram aplicadas as
avaliações de bem-estar humano e animal, consideradas, nesse momento, como
avaliação inicial (D1). O objetivo foi avaliar o nível de bem-estar dos humanos e dos
animais nas propriedades sem que ocorresse nenhum tipo de esclarecimento
teórico-prático para toda a equipe responsável pelas vacas leiteiras.
2.2.1 Avaliação do bem-estar das vacas leiteiras
62
O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA), protocolo número 2014-33.
Foi aplicado o protocolo adaptado do Welfare Quality® por Garcia, (2013;
Anexo A) para vacas em pasto por, no máximo, dois pesquisadores, que foram
treinados conjuntamente para diminuir o erro entre observadores. A escolha de tal
protocolo explica-se pela sua amplitude e facilidade na utilização, evidenciando
gargalos a serem trabalhados em cada fazenda.
O Welfare Quality® e a adaptaçãp proposta por Garcia (2013) baseou-se em
quatro princípios, com as seguintes perguntas: 1) As vacas leiteiras são alimentadas
de forma correta? 2) As vacas são alojadas de forma correta? 3) O estado sanitário
das vacas é adequado? 4) O comportamento das vacas reflete um estado emocional
adequado? Esses quatro princípios são o ponto de partida para o que se chama de
12 critérios: ausência de fome prolongada, ausência de sede prolongada, conforto
em relação à área de descanso, conforto térmico, facilidade de movimento, ausência
de lesões, ausência de doenças, ausência de dor (práticas de manejo como o
mochamento), expressão de comportamento social adequado, expressão adequada
de outros comportamentos, interação adequada entre animais e humanos e
ausência de medo, conforme indicados na Tabela 3.
63
Tabela 3 - Medidas utilizadas para avaliar os critérios de bem-estar de vacas leiteiras em pasto (Adaptação do Welfare Quality® por Garcia, 2013)
Princípio de BEA Critérios de BEA Medidas
ALIMENTAÇÃO
1. Ausência de fome
prolongada Escore de condição corporal
2. Ausência de sede
prolongada
Fornecimento de água,
limpeza dos bebedouros,
fluxo de água,
funcionamento dos
bebedouros
INSTALAÇÃO
3. Conforto em relação ao
descanso Escore de sujidade
4. Conforto térmico Área de sombreamento
5. Facilidade de movimento Acesso ao pasto
SANIDADE 6. Ausência de injúrias
Claudicação, alteração do
tegumento
7. Ausência de doenças Corrimento nasal, ocular e
vulvar, diarreia, tosse,
respiração dificultada,
contagem de células
somáticas, mortalidade,
distocia, síndrome da vaca
caída, carrapato
8. Ausência de dor induzida
por manejo
Mochamento/descorna, corte
de cauda
COMPORTAMENTO
ADEQUADO
9. Expressão de
comportamento social Comportamento agonístico
10. Expressão de outros
comportamentos Acesso ao pasto
11. Boa relação humano-
animal Distância de esquiva
12. Estado emocional
positivo
Avaliação do comportamento
qualitativo
A avaliação iniciou-se com a coleta de dados de gerenciamento (Anexo B),
que acessa informações de registro de produção e produtividade de leite, manejos
realizados, dados zootécnicos, entre outros, e seguiu-se com a avaliação das vacas,
64
analisando-se primeiramente o número de animais que deveriam ser avaliados
individualmente (Anexo C).
Na Figura 12, observam-se as medidas que foram avaliadas individualmente,
utilizando o número amostral de cada fazenda, e as medidas que foram avaliadas
em grupo para cada princípio do Welfare Quality® adaptado por Garcia (2013).
Figura 12 - Medidas coletadas individualmente e em grupo para os princípios Alimentação, Instalação, Sanidade e Comportamento de acordo com o protocolo Welfare Quality® adaptado por Garcia (2013)
Em relação ao comportamento das vacas, foi realizada a Avaliação
Qualitativa do Comportamento (QBA – Qualitative Behaviour Assessment), em que
observações do estado emocional dos animais foram classificadas em uma escala
numérica, objetivando avaliar a qualidade da experiência global de cada animal nas
fazendas. Já as informações sobre o mochamento, descorna e corte de cauda dos
animais foram recolhidas pelo questionário de gestão (Anexo B).
Garcia (2013) sugeriu algumas adaptações, eliminações e adições ao
protocolo original, uma vez que este tem o foco na avaliação de vacas em sistemas
de confinamento, enquanto o foco do autor é na avaliação de vacas leiteiras em
pasto.
Adaptações. Foram feitas em quatro medidas:
65
1) Distância de esquiva: o local da realização dessa avaliação para sistemas em
pastejo, segundo o autor, deve ser nas áreas de pasto (não no cocho), pois
existem fazendas em que a estrutura do cocho não viabiliza tal avaliação;
2) Comportamentos agonísticos: devem ser observados por meio da análise
contínua somente nas áreas de pasto, com tempo total de uma hora, pois,
segundo o autor, foram observados poucos comportamentos, elevado tempo
de observação e local de observação inadequado;
3) Contagem de células somáticas (CCS). Foi estabelecida somente a análise
da CCS do tanque (e não individual). Segundo o autor, esse tipo de avaliação
é pouco realizado entre os produtores brasileiros;
4) Fornecimento de água: incluiu-se a medida de altura dos bebedouros (0,6 a
0,8 metros). Em caso de bebedouro retangular, esse deve apresentar largura
de 0,70 m (acesso de um lado) e de 1 m (acesso dos dois lados). O
bebedouro circular deve apresentar um diâmetro mínimo de 1 m para que
seu comprimento linear seja considerado. O autor justificou essa adaptação
devido à possibilidade de os bebedouros estarem localizados em solo com
barro, o que poderia dificultar ou mesmo impedir o acesso da vaca.
Eliminações. Foram feitas em três medidas para o critério conforto em relação
à área de descanso (Princípio Instalação), pois, segundo o autor, não são aplicáveis
aos sistemas que mantêm vacas em pasto: tempo necessário para deitar-se,
animais colidindo com equipamentos durante movimento de se deitar e animais
deitados parcial ou completamente fora da área de descanso. Também foi feita a
eliminação da medida ‘presença de correntes’ no critério facilidade de movimento
(Princípio Instalação). Garcia (2013) cita que, apesar da eliminação dessas medidas,
não houve alteração dos cálculos originais, que foram baseados na soma ponderada
das medidas analisadas e essa dividida pelo máximo teórico que as medidas
poderiam receber.
66
Adições. Foram adicionadas três medidas de avaliação:
1) Carrapato: justificado pelo autor pela maior incidência desse ectoparasita em
sistemas em pasto;
2) Fornecimento e qualidade de sombra: o que segundo o autor são medidas
importantes para animais mantidos em pastos (avaliação de conforto térmico),
além de não ser uma medida abrangida pelo protocolo original.
Garcia (2013) cita que, apesar das adições, não houve mudança nos cálculos.
Para a inclusão da medida ‘carrapato’ no critério ausência de doenças (Princípio
Sanidade) apenas se aumentou o número de limiares analisados, o que depois foi
dividido pelo máximo teórico. Para a avaliação do critério conforto térmico, os
cálculos já tinham sido desenvolvidos pelo protocolo Welfare Quality®, apenas
faltava a metodologia, que foi sugerida pelo autor (Anexo A, 2.2).
Dessa maneira, Garcia (2013), além de ter sugerido uma nova logística para a
avaliação de BEA utilizando o Welfare Quality®, sugeriu a redução no tempo de
aplicação do protocolo. As adaptações nos cálculos do protocolo original foram
realizadas para que o sistema de classificação das propriedades não fosse alterado.
Para os cálculos do estudo, utilizou-se o modelo de avaliação
hierárquica desenvolvido pelo Welfare Quality® (2009), que aplica uma abordagem
“bottom-up” para produzir uma avaliação global de BEA (Figura 13).
Figura 13 - Abordagem “bottom-up” para integração dos dados de diferentes medidas para avaliação global de BEA. Adaptado de Welfare Quality® Assessment protocol for cattle – applied to dairy cows (2009)
Os resultados das medidas são interpretados e sintetizados para produzir as
pontuações dos 12 critérios, dentro de uma escala de 0 (pior) a 100 (melhor). Em
67
seguida, as pontuações dos critérios são combinadas, através da Integral de
Choquet, para gerar quatro pontuações, numa escala de 0 a 100, refletindo o
cumprimento da fazenda quanto aos princípios de BEA.
A operação matemática Integral de Choquet é utilizada para expressar duas
linhas de raciocínio: que alguns critérios são mais importantes do que outros e,
todavia, um critério não compensa o outro. Resumidamente, a Integral de Choquet
calcula a diferença entre a menor pontuação e a menor pontuação seguinte e atribui
a isso um peso, chamado de capacidade, para aquela diferença. Esse processo é
repetido até que a maior pontuação seja atingida (WELFARE QUALITY®, 2009).
Dessa maneira, as pontuações de BEA possíveis de serem alcançadas são:
1) Excelente: maior pontuação possível, é alcançada se os quatro princípios
forem pontuados em, pelo menos, 55, sendo que dois deles devem ser
pontuados em 80 ou mais;
2) Bom: pontuação alcançada se os quatro princípios forem pontuados em,
pelo menos, 20, sendo que dois deles devem ser pontuados em 55 ou
mais;
3) Aceitável: pontuação alcançada se os quatro princípios forem pontuados
em, pelo menos, 10, sendo que dois deles devem ser pontuados em 20 ou
mais;
4) Inaceitável: os princípios estão abaixo da pontuação considerada mínima.
2.2.2 Avaliação do Bem-estar Humano
Foi aplicada a Escala de Bem-estar Afetivo (Job-Related Affective Well-
Being Scale – Jaws), proposta primeiramente por Katwyk et al. (2000) e adaptada
por Gouveia et al. (2008) para o português, que se baseia no bem-estar subjetivo,
identificando os afetos positivos e negativos que podem ser experimentados no
ambiente de trabalho (Tabela 4).
68
Tabela 4 - Afetos positivos e negativos considerados na avaliação de bem-estar humano segundo a Escala de Bem-estar Afetivo (GOUVEIA et al., 2008)
Afetos positivos Afetos negativos
Entusiasmado Assustado
Empolgado Desgostoso
Animado Depressivo
Honrado Desencorajado
Satisfeito Chateado
Com energia Ansioso
Agradecido Incomodado
Feliz Com raiva
Inspirado Malsucedido Com orgulho do que
faço Triste
À vontade Furioso
Contente Confuso
Alegre Cansado
Tranquilo Miserável
Para a escolha do constructo a ser utilizado, foram feitas pesquisas nas
seguintes bases de dados: Scielo, Psicologia: Reflexão e Crítica, Avaliação
Psicológica, Psico-USF, Psicologia: Teoria e Pesquisa, Psicologia em Estudo,
Estudos de Psicologia e Biblioteca virtual em saúde. Foi utilizada a base de dados
em português, pois era necessário que o constructo empregado para avaliar o BEH
já tivesse sido adaptado à língua, uma vez que nem sempre as traduções livres de
palavras representam o mesmo significado entre as diferentes línguas. Depois de
uma análise detalhada e um pequeno projeto-piloto com oito trabalhadores
avaliando a facilidade de preenchimento de dois constructos escolhidos (GOUVEIA
et al., 2008; PASCHOAL e TAMAYO, 2008), concluiu-se que a metodologia proposta
por Gouveia et al. (2008) atendia melhor a proposta deste trabalho e mostrou-se
mais fácil de ser preenchida segundo os trabalhadores, sendo portando escolhida.
Em adição, a proposta de Gouveia et al. (2008) foi utilizar um constructo reconhecido
internacionalmente, adaptado para a língua portuguesa.
A avaliação do BEH foi realizada por meio do preenchimento de um
questionário em que a afirmação era colocada da seguinte maneira, por exemplo:
“Meu trabalho me faz sentir entusiasmado”, e o respondente poderia selecionar do
número 1 ao 5 (Escala de Likert), variando de “nunca”, para o número 1, a “sempre”
para o número 5.
69
Foi necessário adicionar à Escala de Likert desenhos como segunda opção às
alternativas de respostas nominais (BORGES; PINHEIRO, 2002; Figura 14), caso as
pessoas que fizessem parte da pesquisa fossem analfabetas, visto que parece mais
comum encontrar pessoas que não sabem ler e escrever ou têm muita dificuldade de
usar a linguagem escrita (analfabetos funcionais) no meio rural.
Figura 14 - Adaptação da Escala de Likert (pontuação não invertida e invertida) com a utilização de escala de apoio visual como auxílio no preenchimento das questões. Adaptado de Gouveia et al. (2008) e Borges e Pinheiro (2002)
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê Ético de Pesquisa com Seres
Humanos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” sob o protocolo
número 189 (Anexo D).
A avaliação era feita depois da primeira ordenha da manhã, logo após os
proprietários e trabalhadores terem finalizado todas as atividades de manejo dos
animais e de limpeza da sala de ordenha. Foi entregue o questionário para avaliar o
BEH com 30 afirmações com a opção de seleção de 1 (nunca) a 5 (sempre) (Anexo
E). As afirmações foram disponibilizadas para os participantes da seguinte forma:
“Meu trabalho me faz sentir...” (Tabela 5) e a pontuação máxima, tanto para afetos
positivos quanto negativos, era de 75, enquanto a pontuação mínima, de 15.
70
Tabela 5 - Forma de abordagem sobre os afetos positivos e negativos
Aspectos positivos
Meu trabalho me faz sentir tranquilo
Meu trabalho me faz sentir alegre
Meu trabalho me faz sentir calmo
Meu trabalho me faz sentir contente Meu trabalho me faz sentir orgulho do que faço
Meu trabalho me faz sentir com energia
Meu trabalho me faz sentir animado
Meu trabalho me faz sentir empolgado
Meu trabalho me faz sentir entusiasmado
Meu trabalho me faz sentir feliz
Meu trabalho me faz sentir inspirado
Meu trabalho me faz sentir agradecido
Meu trabalho me faz sentir honrado
Meu trabalho me faz sentir satisfeito
Meu trabalho me faz sentir à vontade
Aspectos negativos
Meu trabalho me faz sentir com raiva
Meu trabalho me faz sentir chateado
Meu trabalho me faz sentir ansioso
Meu trabalho me faz sentir incomodado
Meu trabalho me faz sentir confuso
Meu trabalho me faz sentir depressivo
Meu trabalho me faz sentir desgostoso
Meu trabalho me faz sentir desencorajado
Meu trabalho me faz sentir assustado
Meu trabalho me faz sentir malsucedido
Meu trabalho me faz sentir furioso
Meu trabalho me faz sentir triste
Meu trabalho me faz sentir cansado
Meu trabalho me faz sentir tímido
Meu trabalho me faz sentir miserável
Uma breve explicação para o preenchimento do questionário foi feita, bem
como a afirmação de que aquelas respostas eram confidenciais e apenas os dados
seriam usados, sem nenhum tipo de identificação dos participantes. Também foi
entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para cada participante da
pesquisa (Anexo F), que deixava bem claro que qualquer indivíduo poderia se
recusar a participar da pesquisa, em qualquer momento, sem que isso acarretasse
qualquer tipo de penalidade.
71
Etapa III – Treinamento. Os treinamentos técnicos foram baseados nos pontos mais
críticos avaliados na primeira visita. Foram abordados os seguintes aspectos: BEA,
biologia e comportamento animal; senciência e consciência das vacas; percepções
animal e humana em relação ao manejo; necessidades físicas e psicológicas de
animais; práticas de BEA e o papel do trabalhador na melhora do BEA. Após a parte
teórica, eles assistiram a um vídeo de aproximadamente 15 minutos sobre como
manejar bovinos de maneira calma e com interações positivas (PARKER et al.,
2009). Depois disso, o treinamento seguiu como uma conversa e foi se
desenvolvendo conforme a participação da equipe de trabalhadores e proprietários,
cujos conhecimentos e percepções eram levados em consideração. No final, todos
os tópicos eram abordados e a base teórica e prática era providenciada em
aproximadamente uma hora.
Etapa IV – Avaliação final do bem-estar humano e animal. Após dois meses do
treinamento técnico, foram realizadas novamente as avaliações de bem-estar
humano e animal aplicadas no primeiro dia de visita, e considerou-se esse momento
como o de avaliação final (D3). O objetivo dessa avaliação foi verificar se o
treinamento técnico em BEA havia tido efeito sobre o bem-estar humano e animal
em uma escala temporal.
2.2.3 Coleta de dados e análise dos resultados
Uma das principais diferenças entre propriedades rurais e empresas urbanas
está no número de trabalhadores. Nas fazendas leiteiras, encontram-se muitas
vacas sob os cuidados de poucos trabalhadores. Em função disso, várias limitações
surgiram ao se estabelecer o delineamento desta pesquisa:
1) Número de participantes: em dez fazendas, totalizaram-se 30 respondentes
da pesquisa, sendo dez proprietários das fazendas e 20 trabalhadores
contratados. Entretanto, durante o período da pesquisa, alguns trabalhadores
deixaram o trabalho e alguns proprietários não estavam no dia 2, o que
anulou sua participação. Ao final da pesquisa, totalizaram-se 22 respondentes
(oito proprietários e 14 trabalhadores) que estavam presentes em todos os
72
dias da pesquisa. Nas pesquisas avaliando BEH, os relatos envolvem
empresas urbanas com grande número de trabalhadores. Nos trabalhos
encontrados, a grande maioria envolveu mais que 280 participantes
(ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI et al., 2004), pois normalmente são
desenvolvidas em empresas com grande número de trabalhadores, apesar de
existirem pesquisas com menor número (n = 19; DANIELI et al., 2011).
Entretanto, nas fazendas não é comum encontrar grande número de
trabalhadores, sendo normalmente observados dois ordenhadores e um
trabalhador que maneja as vacas (Tabela 2);
2) Desequilíbrio do número de participantes de fazendas manejadas pelos
próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT): o grupo FT foi
representado por fazendas com maior número de vacas, e o grupo FP por
fazendas com menor número de vacas, o que explicou a diferença entre o
número de participantes (Tabela 2).
Dessa maneira, optou-se pela análise descritiva dos dados para estudar o
bem-estar dos humanos e dos animais e a relação entre essas duas variáveis. Para
a avaliação do BEA foram utilizados os cálculos propostos pelo Welfare Quality® e
adaptados por Garcia (2013) pela técnica de “bottom-up”. Para análise do BEH, foi
utilizada a somatória dos afetos negativos e positivos por participante, e depois feita
a média por fazenda, o que representou uma pontuação média por fazenda para
ambos os afetos.
2.3 Resultados e discussão
Os resultados deste trabalho serão apresentados em dois itens: avaliação do
bem-estar animal e avaliação do bem-estar humano.
2.3.1 Avaliação do Bem-estar Animal
Fazendas em que as vacas eram manejadas pelos próprios proprietários (FP)
apresentaram maiores pontuações médias, segundo o protocolo adaptado do
73
Welfare Quality® (Garcia, 2013), para os princípios de Instalação (85,8 vs. 75,5),
Sanidade (46,7 vs. 42,5) e Comportamento (64,3 vs. 52) no D3 em relação ao D1
(Figura 15). Considerando-se que o resultado alcançado no D1 é igual a 100%, do
D1 para o D3, observou-se aumento de 1,7% na pontuação dada para o princípio
Alimentação, 13,6% para o princípio Instalação, 9,9% para o princípio Sanidade e
23,6% para o princípio Comportamento.
Figura 15 - Pontuação média da avaliação BEA nos dias 1 e 3 (D1 e D3), antes e dois meses após o treinamento para fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP)
Observação. O espaço entre as linhas tracejadas representa a menor pontuação possível (4 princípios, pelo menos, pontuados em 10 e, pelo menos, 2 pontuados em 20 ou mais). O espaço entre as linhas pontilhadas ou acima, a maior pontuação possível (4 princípios, pelo menos, pontuados em 55 e, pelo menos, 2 pontuados em 80 ou mais)
Fazendas em que as vacas eram manejadas por trabalhadores (FT)
apresentaram maiores pontuações médias, segundo o protocolo adaptado do
Welfare Quality® (GARCIA, 2013), para os princípios de Instalação (66,5 vs. 37,5),
Sanidade (47,25 vs. 37,5) e Comportamento (61 vs. 45,5) no D3 em relação ao D1
(Figura 16). Considerando-se que o resultado alcançado no D1 é igual a 100%, do
D1 para o D3, observou-se aumento de 1,7% na pontuação dada para o princípio
Alimentação, 77,4% para o princípio Instalação, 26% para o princípio Sanidade e
34% para o princípio Comportamento.
46,2
75,5
42,5
52,0 47,0
85,8
46,7
64,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Alimentação Instalação Sanidade Comportamento
D1 D3
74
Figura 16 - Pontuação média da avaliação BEA nos dias 1 e 3 (D1 e D3), antes e dois meses após o treinamento para fazendas manejadas por trabalhadores
Observação. O espaço entre as linhas tracejadas representa a menor pontuação possível (4 princípios, pelo menos, pontuados em 10 e, pelo menos, 2 pontuados em 20 ou mais). O espaço entre as linhas pontilhadas ou acima, a maior pontuação possível (4 princípios, pelo menos, pontuados em 55 e, pelo menos, 2 pontuados em 80 ou mais)
Nota-se que para todos os princípios houve um aumento após o treinamento.
Em nenhuma situação a pontuação se manteve igual, evidenciando a importância do
treinamento nesta pesquisa.
2.3.2 Princípio Instalação
O princípio “Instalação”, de acordo com o protocolo adaptado do Welfare
Quality® (GARCIA, 2013), foi avaliado segundo os critérios conforto (área de
descanso), conforto térmico e facilidade de movimento dos bovinos.
Na Tabela 6, pode-se observar a pontuação alcançada para os critérios pelo
grupo FP e FT no D1 e D3; quanto maior a pontuação para o critério, melhor.
Entretanto, a discussão dessa tabela será feita apenas para dois de três critérios,
uma vez que para o critério conforto (área de descanso) há grande possibilidade de
os resultados estarem mascarados devido às diferentes condições dos pastos
(presença de lama) nos dias da avaliação para parte das fazendas.
57,25
37,5 37,5
45,5
58,25
66,5
47,25
61
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Alimentação Instalação Sanidade Comportamento
D1 D3
75
Tabela 6 - Pontuação para os critérios conforto da área de descanso, conforto térmico e facilidade de movimento do princípio ‘Instalação’ e as medidas utilizadas na avaliação das instalações das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT), nos dias 1 (D1) e 3 (D3)
Princípio Instalação
Critério Conforto (área de
descanso) Conforto térmico
Facilidade de movimento
Medida Escore de Sujidade Sombra Acesso à área
externa
Dias D1 D3 D1 D3 D1 D3
Pontuação FP 91,2 100 67,7 75 100 100
FT 51 100 16,5 41,5 100 100
Ambos os grupos, FP e FT, apresentaram maior valor para o princípio
‘Instalação’ no D3 em relação ao D1 (Figura 15 e 16, respectivamente). Para o grupo
FP, o resultado pode ser justificado pela maior pontuação do critério conforto térmico
(Tabela 6). Essa melhoria pode ser justificada pela utilização de piquetes que
possuíam sombra natural, visto que todas as fazendas desse grupo apresentaram
pontuação máxima para o critério facilidade de movimento, avaliado pelo acesso à
área externa ou pasto (Tabela 6). Em relação à melhoria observada no grupo FT,
explicou-se principalmente pela construção de sombrites, o que, de acordo com os
gerentes, ocorreu devido às instruções que foram passadas no treinamento técnico
sobre BEA. Todas as fazendas desse grupo também apresentaram pontuação
máxima para o critério facilidade de movimento (Tabela 6).
Em relação ao conforto térmico, há diversas evidências de que o
fornecimento de sombra de boa qualidade e em quantidade adequada é de grande
importância para vacas leiteiras (SCHÜTZ, 2009; SILVA et al., 2009; SCHÜTZ et
al., 2010; AINSWORTH, 2012), uma vez que esses animais podem sofrer
alterações fisiológicas e comportamentais se expostos a condições térmicas
adversas. Apesar disso, o Welfare Quality® ainda não tem descrita a medida para a
avaliação do critério conforto térmico. Assim, Garcia (2013), diante dessa
problemática, inseriu em sua avaliação a medida ‘sombra’ para analisar o conforto
térmico das vacas em pasto. Uma vez que o cálculo já havia sido proposto pelo
Welfare Quality®, o autor apenas sugeriu a metodologia para sua avaliação (Anexo
A, 2.2).
76
Uma vez que todas as fazendas desta pesquisa alcançaram pontuação
máxima para acesso às áreas externas, pode-se perceber a importância do
fornecimento de sombra, em quantidade e de qualidade, no alcance de melhor
pontuação do princípio ‘Instalação’. Foi verificado nesta pesquisa que os
trabalhadores muitas vezes não compreendem esse quesito como fator importante
para a melhoria do bem-estar e da produtividade animal. O simples fato de
instruções para a construção de sombrites serem fornecidas ajudou os
trabalhadores a se comprometer a fornecer sombra para as vacas, promovendo,
assim, melhoria do princípio citado.
2.3.3 Princípio Sanidade
Os critérios analisados foram ausência de injúrias (claudicação, alteração do
tegumento), ausência de doenças (corrimento nasal, corrimento ocular e corrimento
vulvar, diarreia, tosse, respiração dificultada, contagem de células somáticas,
mortalidade, distocia, síndrome da vaca caída e carrapato) e ausência de dor
induzida (mochamento e/ou descorna, corte de cauda) por procedimentos de
manejo. Observaram-se melhores pontuações do princípio ‘Sanidade’ no D3 em
relação ao D1 tanto para o grupo FP (Figura 15) quanto para o grupo FT (Figura 16).
Para avaliar a ausência de injúrias, foram utilizados o escore de locomoção
(claudicação) e o registro do número de áreas sem pelos, lesões ou inchaços no
tegumento das vacas. Essa avaliação é feita pela observação da presença de
alteração do tegumento em cinco regiões corporais do bovino (Anexo A, 3.1).
Na Tabela 7, pode-se observar a pontuação alcançada para os critérios pelo
grupo FP e FT no D1 e D3; quanto maior a pontuação para o critério, melhor.
77
Tabela 7 - Pontuação para os critérios ausência de injúrias, ausência de doenças e ausência de dor induzida pelo manejo do princípio ‘Sanidade’ e as medidas utilizadas na avaliação da saúde das vacas das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT), nos dias 1 (D1) e 3 (D3)
Princípio Sanidade
Critério Ausência de injúrias Ausência de doenças Ausência de dor
induzida (manejo)
Medida Claudicação e alteração do tegumento
Medidas diversas* Mochamento/descorna
, corte de cauda
Dias D1 D3 D1 D3 D1 D3
Pontuação
FP 63,7 80,7 61,8 70 28 28 FT 46 77,3 44 56,8 33,3 33,3 *Corrimento nasal, corrimento ocular e corrimento vulvar, diarreia, tosse, respiração dificultada, contagem de células somáticas, mortalidade, distocia, síndrome da vaca deitada e carrapato
Ambos os grupos, FP e FT, apresentaram melhor valor para o princípio
‘Sanidade’ no D3 em relação ao D1 (Figura 15 e 16, respectivamente). Tanto para o
grupo FP quanto FT, observou-se maior pontuação para o critério ausência de
injúrias no D3 em relação ao D1 (Tabela 7). Esse resultado provavelmente é
justificado pelas diferentes condições climáticas nos dias de avaliação das vacas,
maior exposição ao sol e maior quantidade observada de bernes (alteração severa,
devido ao inchaço provocado). Ainda, analisando-se o critério ausência de injúrias,
a melhor pontuação observada no D3 pode ser justificada pela menor exposição
dos cascos das vacas a um solo com maior quantidade de lama no D1. O que,
segundo os achados de Souza et al. (2002) e Mauchile et al. (2008), está de acordo
com o encontrado nesta pesquisa. Por outro lado, Breuer et al. (2000) observaram
que apenas 6% das vacas leiteiras que foram manejadas de forma positiva
apresentaram casos de claudicação, contra 48% das vacas que foram manejadas
de forma negativa. Isso pode ser explicado pelo efeito do treinamento na maneira
de manejar as vacas no momento da ordenha no D3.
Para avaliar a ausência de dor induzida pelo manejo, verificaram-se os
procedimentos relacionados ao mochamento, descorna e corte de cauda. Não
houve mudanças nos procedimentos durante o experimento. Nove fazendas
executavam o mochamento térmico nos bezerros sem nenhum tipo de
medicamento, não executavam a descorna e não cortavam as caudas das vacas.
78
Apenas uma fazenda do grupo FT administrava analgésico aos bezerros depois
do mochamento, o que elevou o escore médio desse grupo.
Com relação às medidas diversas relacionadas à avaliação do critério ausência
de doenças, são citadas várias observações de acordo com o Anexo I.
Sabe-se que um manejo mais positivo pode estar relacionado com a melhoria
do sistema imune, o que pode refletir positivamente na saúde do animal (BREUER et
al., 2000; SILVA et al., 2007). Uma vez que nenhuma fazenda modificou o manejo
de mochamento nos bezerros, a melhoria deve ser atribuída aos critérios ausência
de injúrias e ausência de doenças. Apesar de a maior quantidade de lama no D1
poder ter mascarado os resultados, ainda assim a melhoria nesses critérios pode
também ser atribuída ao melhor manejo das vacas na ordenha depois do
treinamento.
2.3.4 Princípio Comportamento
Em relação ao comportamento, os critérios analisados foram expressão de
comportamentos sociais (comportamentos agonísticos), expressão de outros
comportamentos (acesso ao pasto), boa relação humano-animal (teste de distância
de fuga) e estado emocional positivo (avaliação do comportamento qualitativo).
Observaram-se melhores pontuações do princípio ‘Comportamento’ no D3 em
relação ao D1 tanto para o grupo FP (Figura 15) quanto para o grupo FT (Figura 16).
Para avaliação do critério expressão de comportamentos sociais foram
observadas, por meio de um etograma, as interações entre os bovinos
relacionadas aos comportamentos agressivos e submissos (Anexo A, 4.1). De
acordo com estudos experimentais indicados no protocolo do Welfare Quality®, o
máximo absoluto esperado é de 5 encontros agonísticos por vaca por hora,
incluindo 3,4 de deslocamentos e 1,6 cabeçadas. Entretanto, Garcia (2013)
observou que esses valores são altos para vacas em sistema de pasto,
identificando baixa expressão de comportamentos agonísticos, o que também foi
observado na presente pesquisa (média de menos de 5 encontros
agonísticos/vaca/hora).
Von Keyserlingk et al. (2008) observaram que comportamentos agonísticos
podem estar relacionados com disputa hierárquica, mistura de idades e lotes,
introdução de novos animais no rebanho e disputa por recursos. Os baixos valores
79
nesta pesquisa podem ser indicativos de que nos rebanhos observados havia
pouca ou nenhuma disputa hierárquica, devido à baixa ou nenhuma competição
por recursos e lotes estáveis.
O critério expressão de outros comportamentos foi atribuído de acordo com o
número de dias por ano e horas por dia que as vacas tinham acesso ao pasto. No
caso de sistemas em pasto, as vacas possuem 365 dias por ano e 24 horas por
dia de acesso (com exceção dos períodos de ordenha). Todas as propriedades
apresentaram pontuação máxima para esse critério.
Para avaliação do critério boa relação humano-animal, aplicou-se o teste de
distância de fuga, que mede a distância de fuga das vacas em relação ao humano.
No total, aplicou-se o teste em 686 vacas, no D1 (n= 341) e no D3 (n= 345).
Observou-se maior número de vacas que deixaram ser tocadas pelo avaliador em
ambos os grupos e menor número de vacas que manteve maior distância do
avaliador no D3 em relação ao D1 (Tabela 8).
Tabela 8 - Porcentagem de vacas que deixaram ser tocadas (x = 0), que deixaram o avaliador se aproximar até 50 cm (0 < x ≤ 50), de 50 a 100 cm (50 < x ≤ 100) e que não deixaram o avaliador se aproximar mais que 100 cm (x < 100) em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3)
Distância de fuga (x; cm)
x = 0 0 < x ≤ 50 50 < x ≤ 100 x > 100
D1 D3 D1 D3 D1 D3 D1 D3
FP 46,8% 62,9% 24,5% 25,2% 17,3% 9,8% 11,5% 2,1%
FT 23,4% 42,2% 31,1% 27,2% 26,3% 22,8% 19,1% 7,8%
Há evidências de que o manejo positivo diminui a reatividade das
vacas (HEMSWORTH e COLEMAN, 2011; BURTON et al., 2012), o que
influenciaria a distância de fuga desses animais em relação ao humano
(HEMSWOTH; COLEMAN, 1998). De acordo com Waiblinger et al. (2003), o
comportamento de animais que não permitem maior aproximação em relação ao
humano está relacionado à frustração, dor e ao fato de provavelmente terem
recebido algum tipo de agressão, o que também está de acordo com o observado
por alguns pesquisadores (HEMSWORTH e COLEMAN, 1998; HEMSWORTH et
al., 2000; BREUER et al., 2000; BERTENSHAW et al., 2008; HEMSWORTH e
80
COLEMAN, 2011; BURTON et al., 2012) que demonstraram relação positiva entre
BEA e boa relação humano-animal.
Dessa maneira, acredita-se que os trabalhadores que passaram por
treinamento, ou seja, que tiveram a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos
teórico e prático sobre o comportamento e o bem-estar dos animais, possuem
maiores chances de manter boa relação com as vacas, executando manejos mais
positivos em relação a esses animais, o que provavelmente interfere de forma
positiva no medo que as vacas têm dos humanos (HEMSWORTH e COLEMAN,
1998; BREUER et al., 2000), tornando o manejo mais fácil.
Para avaliação do critério estado emocional positivo, foi utilizada a
Avaliação Qualitativa do Comportamento (QBA – Qualitative Behaviour
Assessment), em que observações do estado emocional dos animais foram
classificadas em escala de valores numéricos com a finalidade de se avaliar a
qualidade da experiência animal na fazenda (Anexo A, 4.4). Através do uso dessa
escala visual analógica (régua com valor mínimo e máximo), os avaliadores
pontuaram 20 expressões positivas e negativas de comportamento, de acordo com
o Welfare Quality® (2009). A metodologia, desenvolvida por Wemelsfelder et al.
(2000), baseia-se na capacidade de o observador perceber detalhes do
comportamento do animal dentro de determinado contexto, usando descritores
como calmo, contente, indiferente ou frustrado.
Estudos mostraram que o QBA apresentou correlação significativa com
medidas de comportamento dos animais individuais e respostas fisiológicas de
estresse, além de boa confiabilidade entre diferentes observadores
(WEMELSFELDER et al., 2001; WEMELSFELDER et al., 2009; RUTHERFORD et
al., 2012).
Ambos os grupos (FP e FT) apresentaram pontuações aceitáveis para o
critério estado emocional positivo no D1 e boas no D3. Possivelmente, a menor
pontuação no D1 (Tabela 9) se justifica pela observação de mais vacas frustradas,
inquietas, chateadas e estressadas em relação ao D3. Esse resultado pode ser
atribuído à influência positiva do treinamento sobre o manejo das vacas na ordenha
pelos trabalhadores.
81
Tabela 9 - Pontuação média para o critério ‘Estado emocional positivo” para fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) no dia 1 (D1) e dia 3 (D3) de acordo com a Avaliação Qualitativa do Comportamento (QBA – Welfare Quality®)
D1 D3
FP 45,3 52,2 FT 40,5 52,5
O estado emocional dos animais representa a experiência geral que
os mesmos têm no ambiente em que estão. Dessa maneira, a interação entre as
vacas e os trabalhadores responsáveis por seu manejo, a interação umas com as
outras, o acesso aos recursos, a hierarquia dentro dos lotes e outros aspectos são
importantes no comportamento que os animais expressam ao longo do dia.
Uma vez que a frequência de comportamentos agonísticos foi menor que a
estabelecida pelo protocolo Welfare Quality® e não se modificou entre o D1 e D3, e
o acesso ao pasto foi rotineiro, observou-se que os critérios relação humano-animal
e estado emocional dos animais foram mais importantes para vacas em pasto
nessa avaliação. Parece que o critério relação humano-animal é o pilar principal na
avaliação do princípio “Comportamento Adequado”, já que essa relação não
apenas interfere na reatividade das vacas, mas no estado emocional geral do
rebanho.
2.3.5 Avaliação final do Bem-estar Animal
Na avaliação final, pode-se observar na Tabela 10 que, de dez propriedades
avaliadas, 83% das fazendas manejadas pelos proprietários (FP) conseguiram
alcançar e/ou manter o nível bom, segundo a avaliação de BEA. Já para as
fazendas manejadas por trabalhadores (FT), 100% das fazendas conseguiram
alcançar e/ou manter o nível bom de BEA.
82
Tabela 10 - Nota final fornecida pelo protocolo Welfare Quality®, adaptado por Garcia (2013), nos dias 1 e 3 (D1 e D3), antes e após dois meses de treinamento para fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT)
Dias Proprietários Trabalhadores
D1 50% (n=3; aceitável) 50% (n=2; aceitável)
50% (n=3; bom) 50% (n=2; bom)
D3 83% (n=5; bom)
100 % (n=4; bom)
17% (n=1; aceitável)
Em relação à primeira hipótese, de que o efeito do treinamento pode
promover melhorias no BEA, verifica-se com esses resultados que houve mudanças
na classificação final das fazendas avaliadas, evidenciando-se a importância do
treinamento técnico na melhoria do BEA dentro das propriedades.
2.3.6 Avaliação do Bem-estar Humano
A segunda hipótese deste trabalho foi que, quanto maior o nível de BEH,
maior seria o nível de BEA. O BEH neste estudo foi mensurado a partir de uma
escala que forneceu os afetos negativos e positivos experimentados no ambiente de
trabalho. Quando os afetos positivos se destacam dos afetos negativos, pode-se
dizer que o BEH é, pelo menos, satisfatório.
De acordo com a Escala de Bem-estar Subjetivo (Job-Related Affective Well-
Being Scale – Jaws), tanto para o grupo FP quanto para o grupo FT, os afetos
positivos sobressaíram em relação aos afetos negativos no D1 e D3 (Figura 17).
Observou-se que, quando a pontuação recebida para afetos positivos foi maior, o
nível de BEA foi bom, e que, quando a pontuação recebida para afetos negativos foi
maior, o nível de BEA foi aceitável.
83
Figura 17 - Pontuação média para afetos positivos e negativos de proprietários e trabalhadores e pontuação para bem-estar animal (BEA) nas fazendas durante o experimento
Esses resultados estão de acordo com o que foi observado por Burton et al.
(2012), que indicaram como essencial no processo de pacificação no manejo de
vacas leiteiras que os trabalhadores experimentem afetos positivos em suas vidas.
Dessa maneira, as vacas seriam mais bem tratadas, teriam menos medo dos seus
trabalhadores e esses, por sua vez, ficariam mais satisfeitos com o seu trabalho,
realimentando esse ciclo e mantendo seu estado de felicidade.
Segundo Ryan e Deci (2001), as áreas do estudo do BEH podem ser
organizadas em duas perspectivas: 1) que aborda o estado subjetivo de felicidade
(bem-estar hedônico), e se denomina bem-estar subjetivo; e 2) que investiga o
potencial humano (bem-estar eudemônico) e trata do bem-estar psicológico. Além
disso, Alburqueque e Tróccoli (2004) citaram que o campo do bem-estar se refere ao
estudo científico da felicidade.
Dessa forma, quando Burton et al. (2012) observaram que o trabalhador feliz
pode desenvolver um manejo mais positivo em relação às vacas, fazem referência
àquele trabalhador que experimenta afetos positivos e negativos, porém os positivos
superam os negativos.
Apesar de Burton et al. (2012) explicarem o estado mental positivo do
trabalhador por meio de fatores positivos na vida fora da fazenda, segundo algumas
pesquisas (WARR, 1987; TAMAYO, 2004; WARR, 2003), o trabalho constitui
componente fundamental para a construção e para o desenvolvimento do bem-estar
0 10 20 30 40 50 60 70
Afetos Positivos
Afetos negativos
Pontuação de afetos positivos e negativos
Bom Aceitável
84
pessoal e, consequentemente, da felicidade. Nesse mesmo sentido, Riff (1989)
propôs que o bem-estar fosse entendido como o funcionamento positivo global do
indivíduo, o que não só advém da vida pessoal, mas da profissional também. Assim,
acredita-se que o bem-estar humano no ambiente de trabalho também seja fator
importante no alcance de melhores níveis de BEA, o que está de acordo com a
hipótese desta pesquisa.
A critério de estabelecer um valor único ao BEH − assim como existem
protocolos de BEA que fornecem uma pontuação final para essa variável −,
considerou-se, de acordo com Gouveia et al. (2008), o valor máximo (75) e mínimo
(15) que cada respondente pudesse pontuar em relação aos afetos positivos e
negativos experimentados no ambiente de trabalho. E partiu-se do pressuposto de
que o bem-estar subjetivo satisfatório é aquele em que os afetos positivos superam
os afetos negativos (ALBURQUEQUE; TROCCÓLI, 2004). Sendo assim, sugeriu-se
uma escala de BEH a partir da diferença entre afetos positivos e negativos,
considerando os valores máximos e mínimos para a construção de uma escala com
intervalos que representassem pontuação satisfatória e insatisfatória de BEH, de
acordo com a equação abaixo:
∆ BEH = Af Pos – Af Neg
Em que:
BEH = Bem-estar Humano
Af Pos= Afetos Positivos
Af Neg = Afetos Negativos
Assim, são possíveis os seguintes cenários:
Af Pos > Af Neg = + (BEH satisfatório);
Af Pos = Af Neg = 0 (BEH insatisfatório);
Af Pos < Af Neg = - (BEH insatisfatório).
85
Esclarecendo a escala de BEH (Figura 18), considera-se que ‘-60’, que
representa o valor mínimo de bem-estar, é a diferença entre a pontuação máxima
para afetos negativos (75) e a pontuação mínima para afetos positivos (15). O
resultado ‘0’ representa ainda valor insatisfatório de bem-estar, uma vez que os
afetos positivos não superam os negativos nessa pontuação. Já o total ‘60’, que
representa o valor máximo de bem-estar, é a diferença entre a pontuação mínima
para afetos negativos (15) e a pontuação máxima para afetos positivos (75).
Figura 18 - Escala de cor representando a pontuação mínima e máxima de BEH, considerando-se que níveis satisfatórios de bem-estar não significam ausência de afetos negativos, mas que esses são superados pelos afetos positivos
Na Figura 19, considerando-se a pontuação para o BEH e não mais para
afetos negativos e positivos, observa-se que as fazendas classificadas com BEA
nível bom receberam pontuação melhor para BEH em relação às fazendas com
classificação de BEA aceitável. Assim, pode-se dizer que o BEH foi melhor em
fazendas que foram melhor pontuadas em BEA.
Figura 19 - Pontuação para bem-estar humano (BEH) de acordo com a pontuação em bem-estar animal (BEA) recebida pelas fazendas durante o experimento
0 10 20 30 40 50 60
BEA Aceitável
BEA Bom
Pontuação para bem-estar humano
86
0
10
20
30
40
50
60
D1 D3
Pontu
ação p
ara
bem
-esta
r hum
ano
FP FC
Em relação à pontuação de BEH alcançada pelos participantes em ambos os
grupos (FP e FT), observou-se que os proprietários alcançaram maior pontuação em
relação aos trabalhadores no D1, entretanto o contrário aconteceu no D3 (Figura
20).
Figura 20 - Pontuação alcançada para bem-estar humano (BEH) nas fazendas manejadas
por proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) durante os dia 1 (D1) e dia 3 (D3)
Parece que o treinamento teve efeito positivo sobre o BEH, o que pode estar
de acordo com Santos Filho e Mourão (2011), que verificaram o efeito do
treinamento no comprometimento afetivo com a empresa, e Robbins et al. (2010),
que observaram maior satisfação por parte dos trabalhadores que passaram por
treinamento. Já para os proprietários, o treinamento não parece ter influenciado o
BEH. Já era esperado que o grupo FP tivesse maior pontuação no D1 em relação ao
FT, o que pode ser explicado em função do esclarecimento do próprio negócio pelos
proprietários e pela falta de satisfação e comprometimento por parte dos
trabalhadores, uma vez que as fazendas não investiam em treinamentos de nenhum
tipo.
Analisando-se a Tabela 11, pode-se observar na primeira linha a
porcentagem da diferença do BEH entre FP e FT. Quando se analisam isoladamente
ambos os grupos e considera-se o valor máximo para BEH no primeiro dia de
87
avaliação (D1), percebe-se que no D3 a pontuação de BEH teve queda de 8,6%
para o grupo FP e aumento cerca de 20,4% para o grupo FT.
88
Tabela 11 - Pontuação do bem-estar humano e porcentagem da diferença do bem-estar humano entre fazendas manejadas por proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) e o percentual da diferença dentro do mesmo grupo no D1 e D3
D1 D3
FP x FT +11,14% - 17% FP 35,9 (100%) 32,8 (- 8,6%) FT 31,9 (100%) 38,4 (+ 20,4%)
Segundo Hemsworth e Coleman (2011), existe grande desvalorização dos
trabalhadores que manejam animais nas fazendas pela sociedade, pelos gerentes e
pelos próprios donos das fazendas. Segundo Sousa e Coleta (2012), a falta de
reconhecimento profissional, descrita como a desvalorização da profissão em
relação às demais ocupações, foi um dos principais itens que prejudicaram o bem-
estar no trabalho, e isso pode explicar a menor pontuação de BEH no grupo FT em
relação ao FP no D1. Entretanto, no D3, a pontuação foi maior para o grupo FT em
relação ao FP. De acordo com esses resultados, é possível confirmar a hipótese de
que o treinamento pode ter tido efeito no BEH, o que pode ter sido resultado do
treinamento na valorização do trabalhador e esse, por sua vez, pode ter
experimentado mais afetos positivos, como satisfação no trabalho, o que está de
acordo com Pereira (2001).
2.4 Conclusões parciais
De acordo com os resultados apresentados neste capítulo, observou-se que
as fazendas apresentaram melhor classificação de bem-estar animal (BEA) após o
treinamento fornecido. Também houve melhora na pontuação de bem-estar humano
(BEH) em fazendas manejadas por trabalhadores, entretanto, o mesmo não
aconteceu para fazendas manejadas pelos próprios proprietários.
Fazendas classificadas em nível bom de BEA também foram classificadas
com melhor pontuação para BEH. O contrário aconteceu para fazendas classificadas
em nível aceitável de BEA, que receberam menor pontuação para BEH.
Referências
AINSWORTH, J.A.W.; MOE, S.R.; SKARPE, C. Pasture shade and farm management effects on cow productivity in the tropics. Agriculture, Ecosystems and Environment, Amsterdam, v. 155, p. 105-110, 2012.
89
ALBUQUERQUE, A.S.; TRÓCCOLI, B.T. Desenvolvimento de uma escala de bem-estar subjetivo. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 20, n.2, p. 153-164, 2004. APPLEBY, M. Science is not enough. How do we increase implementation? Animal Welfare, Inglaterra, v. 13, p. 159-162, 2004. BERTENSHAW, C.; ROWLINSON, P.; EDGE, H.; DOUGLAS, S.; SHIEL, R. The effect of different degrees of ‘positive’ human-animal interaction during rearing on the welfare and subsequent production of commercial dairy heifers. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 114, p. 65–75, 2008. BORGES, L.O.; PINHEIRO, J.Q. Estratégias de coleta de dados com trabalhadores de baixa escolaridade. Estudos de Psicologia, Natal, v. 7 (Número Especial), p. 53-63, 2002. BREUER, K.; HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L.; MATTHEWS, L.R.; COLEMAN, D.G.J. Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 66, p273–288, 2000. BURTON, R.J.F.; PEOPLES, S.; COOPER, M.H. Building ‘cowshed cultures’: A cultural perspective on the promotion of stockmanship and animal welfare on dairy farms. Journal of Rural Studies, New York, v. 28, p. 174 - 187, 2012. CARTER, S.D. Reexamining the temporal aspects of affect: Relationships between repeatedey measured affective state, subjective well-being, and affective disposition. Personality and Individual Differences, Amsterdam, v. 36, n.3, p. 381-391, 2004. CHENG, S.T. Endowment and contrast: The role of positive and negative emotions on well-being appraisal. Personality and Individual Differences,Amsterdam, v. 37,n.5,p. 905-915, 2004. CLARKE, N.; BARNETT, C.; CLOKE, P.; MALPASS, A. Globalising the consumer: doing politics in an ethical register. Political Geography, Inglaterra, v. 26, p. 231-149, 2007. COSTA, J.H.C.; HÖTZEL, M.J.; LONGO, C.; BALCÃO, LF. A survey of management practices that influence production and welfare of dairy cattle on family farms in southern Brazil. Journal of Dairy Science, Champaign, v. 96, n.1, p. 307-317, 2013.
90
DANIELI, F.; CASTIQUINI, E.A.T.; ZAMBONATTO, T.C.F; BEVILACQUA, M.C. Avaliação do nível de satisfação de usuários de aparelhos de amplificação sonora individuais dispensados pelo Sistema Único de Saúde. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo, v. 16, n.2, p. 152-159, 2011. FRANCHI, G.M.; NUNES, M.L.A.; GARCIA, P.R.; SILVA, I.J.O. Percepção do mercado consumidor de Piracicaba em relação ao bem-estar dos animais de produção. Pubvet, Paraná, v. 6, n.11, p. 1982-1263, 2012. GARCIA, P.R. Sistema de avaliação do bem-estar animal para propriedades leiteiras com sistema de pastejo. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências- Área de Concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013. GOUVEIA, V.V.; CHAVES, S.S.S.; OLIVEIRA, I.C.P.; DIAS, M.R.; GOUVEIA, R. S.; ANDRADE, P.R A utilização do QSG-12 na população geral: Estudo de sua validade de construto. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 19, n.3,p. 241-248, 2003. GOUVEIA, V.V.; FONSÊCA, P.N.; LINS, S.L.B.; LIMA, A.V.; GOUVEIA, R.S.V. Escala de bem-estar afetivo no trabalho (Jaws): evidências de validade fatorial e consistência interna. Revista Psicologia: Reflexão e Crítica, Santa Catarina, v. 21, n.3, Porto Alegre, 2008. HALL, C.; SANDILANDS, V. Public attitudes to the welfare of broiler chickens. Animal Welfare, Inglaterra, v. 16, p. 419-512, 2007. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. Human-livestock interactions: the stockperson and the productivity and welfare of intensively farmed animals. London: CAB International, 1998.p. 91-106. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively Farmed Animals, 2nd ed. 2011. CAB International: Wallingford, UK. p. 84-152. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L.; BORG, S. Relationships between human-animal interactions and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal Science, Champaign, v.78, p.2821-2831, 2000. KATWYK, P.T.V.; SPECTOR, P.E. FOX, S. ; KELLOWAY, E.K. Using the job-related affective well-being scale (JAWS) to investigate affective responses to work
91
stressors. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, v. 5, n.2, p. 219-230, 2000. KOLSTRUP, C.L.; HULTGREN, J. Perceived physical and psychosocial exposure and health symptoms of dairy farm staff and possible associations with dairy cow health. Journal of Agricultural Safety and Health, Missouri, v. 17, n.2, p. 111-25, 2011. LASSEN, J.; SANDOE, P.; FORKMAN, B. Happy pigs are dirty! – conflicting perspectives on animal welfare. Livestock Science, Amsterdam, v. 103,p. 221-230, 2006. MAUCHLE, U.; CARVALHO, A.U.; ALZAMORA FILHO, F.; FERREIRA, P.M.; FACURY FILHO, E.J.; CAVALCANTE, M. P. Efeito da sazonalidade sobre a ocorrência de lesões podais em vacas de raças leiteiras. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Bahia, v.9, n.1, p. 109-116, 2008. MOLENTO, C.F.M. Bem-estar e produção animal: aspectos econômicos – revisão. Archives of Veterinary Science, Curitiba v. 10, n. 1, p. 1-11, 2005. PARKER, M.; RODGERS, J; LUDTKE, C. KOLESAR, R. Abate Humanitário de Bovinos (Steps. Melhorando o Bem-estar Animal no Abate). [s.1.]: WSPA – Sociedade Mundial de Proteção Animal, 2009. 1 DVD. PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Construção e validação da Escala de bem-estar no trabalho. Avaliação Psicológica, Porto Alegre, v.7, n.1, p. 11 - 22, 2008. QUEIROZ, M.L.V.; BARBOSA FILHO, J.A.D.; ALBIERO, D.; BRASIL, D.F., MELO RP. Percepção dos consumidores sobre o bem-estar dos animais de produção em Fortaleza, Ceará. Revista Ciência Agronômica, Ceará, v. 45, n.2, p. 379-386, 2014. RIFF, C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of Psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, Washington, v. 57, p. 1069-1081, 1989. RYAN, R.M.; DECI, E.L. On happines and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, Palo Alto, v.52, n.1,p. 141-166, 2001.
92
ROBBINS, S.P.; JUDGE, T.A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2010. RUTHERFORD,K.M.D.; DONALD, R.D.; LAWRENCE, A.B.; WEMELSFELDER, F. Qualitative Behavioural Assessment of emotionality in pigs. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 139, p. 218–224, 2012. SANTOS FILHO, G.M; MOURÃO, L. A Relação entre Comprometimento Organizacional e Impacto do Treinamento no Trabalho. Psicologia: Organizações e Trabalho, Santa Catarina, v. 11, n.1, p. 75-89, 2011. SCHALY L.M.; OLIVEIRA M.C.; SALVIANO P.A.P.; ABREU J.M. Percepção do consumidor sobre bem-estar de animais de produção em Rio Verde, GO. Pubvet, Paraná, v. 4, n.(38, p. 1982-1263, 2010. SCHÜTZ, K.E.; ROGERS, A.R.; NEIL, R.C.; TUCKER, C.B. Dairy cows prefer shade that offers greater protection against solar radiation in summer: Shade use, behavior, and body temperature. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.116, p. 28-34, 2009. SCHÜTZ, K.E.; ROGERS, A.R.; POULOUIN, Y.A.; COX, N.R.; TUCKER, C.B. The amount of shade influences the behavior and physiology of dairy cattle. Journal of Dairy Science, Champaign, v. 93, n.1, p. 125-133, 2010. SILVA, E.C.L.; MODESTO, E.C.; AZEVEDO, M.; FERREIRA, M.A.F.; DUBEUX JUNIOR, J.C.B.; SCHULER, A.R.P. Efeitos da disponibilidade de sombra sobre o desempenho, atividades comportamentais e parâmetro fisiológicos de vacas da raça Pitangueiras. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringá, v.31, n.3, p.295-302, 2009. SILVA, L.C.M.; MADUREIRA, A.P.; PARANHOS DA COSTA, M.J.R. Mais carinho no manejo de bezerros leiteiros: uma experiência bem sucedida. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44, UNESP - Jaboticabal, 24 a 27 de julho, 2007. Disponível em: http://www.grupoetco.org.br/arquivos_br/pdf/SBZ_2007_bezerros_leite.pdf. Acesso em: 20 set. 2015. SOUSA, A.A.; COLETA, M.F.D. O bem-estar no trabalho de Psicólogos em Serviços de Saúde Pública. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 32, n.2, p. 404 - 421, 2012. SOUZA, R.C.; FERREIRA, P.M.; MAOLINA, L.R.; CARVALHO, A.U.; FILHO FACURY, E.J. Economic losses caused by sequels of lameness in free-stall-housed
93
dairy cows. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 58, n. 6, p. 982 – 987, 2006. TAMAYO, A. Introdução. Em A. Tamayo (Org.), Cultura e saúde nas organizações Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 11-16. VON KEYSERLINGK, M.A.G., OLENICK, D.; WEARY, D.M. Acute behavioral effects of regrouping dairy cows. Journal of Dairy Science, Champaign, v. 91, p. 1011-1016, 2008. WAIBLINGER, S.; MENKEA, C; KORFFA, J.; BUCHERB, A. Previous handling and gentle interactions affect behaviour and heart rate of dairy cows during a veterinary procedure. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.85, p. 31-42, 2004. WARR, P.B. Work, unemployment and mental health. Oxford: Clarendon Press, 1987. WARR, P.B Well-being and the workplace. Em Kahneman, D.; Diener, E.; Schwarz, N. (Org.). Well-being: the foundations of hedonic psychology New York: Russel Sage Foundation, 2003. p. 392-412.
WELFARE QUALITY® Welfare Quality assessment protocol for cattle. Welfare
Quality Consortium, Lelystad Netherlands, 2009. p. 60-111. WEMELSFELDER F.; HUNTER E.A.; MENDL, M.T.; LAWRENCE, A.B. The spontaneous qualitative assessment of behavioural expressions in pigs: first explorations of a novel methodology for integrative animal welfare measurement. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 3; 67, n.3, p. 193-215, 2000. WEMELSFELDER, F.; HUNTER, E.A.; MENDL, M.T.; LAWRENCE, A.B. Assessing the ‘whole animal’: a free choice profiling approach. Animal Behaviour, Londres, v.62, p. 209-220, 2001. WEMELSFELDER, F.; MILLARD, F.; DE ROSA, G.; NAPOLITANO, F. Qualitative Behaviour Assessment. In: FORKMAN, B.; KEELING, L. (Ed.) Assessment of Animal Welfare Measures for Dairy Cattle, Beef Bulls and Veal Calves. Welfare United Kingdom:Cardiff University, 2009. p. 215–224. (Quality Reports, 11).
94
3 INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO NAS ATITUDES, NO COMPORTAMENTO, NO CONHECIMENTO TÉCNICO DE MANEJADORES E NO MEDO EXPERIMENTADO POR VACAS Resumo O bem-estar animal (BEA) vem ganhando destaque em diversas discussões que envolvem animais, no entanto, pouco ainda se discute sobre o aspecto humano no cenário rural. Assim, a formação dos trabalhadores em diversas áreas, o que inclui o BEA, pode ser negligenciada, o que pode prejudicar o bem-estar dos animais sob seus cuidados. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos do treinamento em BEA dos trabalhadores e proprietários, os possíveis efeitos sobre as atitudes e os comportamentos humanos em relação às vacas leiteiras e o efeito sobre o medo das vacas em relação ao humano. A investigação foi realizada em dez fazendas leiteiras do estado de São Paulo. As propriedades foram divididas em dois grupos: fazendas em que as vacas eram manejadas pelos próprios proprietários (FP) e fazendas em que as vacas eram manejadas por mão de obra terceirizada (trabalhadores; FT). O protocolo para o desenvolvimento da pesquisa foi o seguinte: 1) Dia 1 (D1), ou seja, realização da avaliação inicial, sem nenhum tipo de treinamento; 2) Dia 2 (D2), realização do treinamento sobre bem-estar de vacas leiteiras; e 3) Dia 3 (D3), realização da avaliação final depois de dois meses do treinamento. Para a avaliação das atitudes e comportamentos foi utilizado o protocolo proposto por Hemsworth et al. (2002). Também foi avaliado o conhecimento técnico em BEA dos trabalhadores no D2, antes do treinamento, e no D3. Observou-se maior pontuação média para atitudes positivas (57,7 vs. 57,3) e menor para atitudes negativas (26,1 vs. 27,5) no D3 em relação ao D1 para o grupo FT. Entretanto, o contrário aconteceu com o grupo FP: a pontuação média para atitudes positivas foi maior e para atitudes negativas foi menor no D1 em relação ao D3 (52,7 vs. 51,7 e 27,8 vs. 28,9). A porcentagem média de comportamentos positivos foi maior no D3 em relação ao D1 para FP e FT (45,5% vs. 16,4% e 64,2% vs. 47,2%, respectivamente), já para comportamentos negativos foi menor no D3 em relação ao D1 para FP e FT (54,5% vs. 83,6% e 35,8% vs. 52,8%, respectivamente). A distância de fuga foi menor no D3 em relação ao D1, ou seja, maior foi a porcentagem de vacas que deixaram ser tocadas nesse dia em ambos os grupos FP e FT (62,9% vs. 46,8% e 42,2% vs. 23,4%, respectivamente). Os acertos no questionário sobre conhecimento técnico em BEA foram maiores no D3 em relação ao D1 para FP (55,2% vs. 49%) e para FT (69,3% vs. 55,7%). Como conclusão, o treinamento foi positivo no comportamento humano em relação às vacas leiteiras, na diminuição do medo que as vacas têm do humano e no conhecimento técnico em BEA. Os resultados da variável ‘atitudes’ foram positivos para o grupo FT, mas não para o grupo FP. Dessa maneira, o treinamento em BEA influenciou os comportamentos, os conhecimentos técnicos, o medo em vacas e as atitudes dos trabalhadores. Palavras-chave: Bem-estar animal; Relação humano-animal; manejo positivo dos
animais
95
Abstract
Animal welfare (AW) has been gaining attention in various discussions involving animals, however, little is discussed about the human aspect in the rural scenario. Thus, training of employees in several areas, including AW, can be neglected, which could affect the welfare of animals under their care. This study aimed to evaluate the effects of AW training on employees and owners, the possible effects on human attitudes and behavior towards dairy cows, and the effect on cows' fear towards human. The experiment was develop in ten farms in the state of Sao Paulo. These farms were divided into two groups: farms whose cows were handled by the owners (O) and farms whose cows were handled by outsourced labor (employees; E). The protocol for the development of the research was the following: 1) Day 1 (D1), i.e., initial assessment, no training was provided; 2) Day 2 (D2), training on dairy cow welfare and 3) Day 3 (D3), final assessment two months after training. Protocol proposed by Hemsworth et al. (2002) was used to assess attitudes and behaviours. Technical expertise on AW at D2 before training and at D3 was also assessed. For group E, higher average score for positive attitudes (57.7 vs. 57.3) and lower for negative attitudes (26.1 vs. 27.5) at D1 compared to D3 were observed. Nevertheless, the opposite happened to group O, the mean score was greater for positive attitudes and lower for negative attitudes at D1 compared to D3 (52.7 vs. 51.7 and 27.8 vs. 28.9). The average percentage of positive behaviors was greater at D1 compared to D3 compared for O and E groups (45.5% vs. 16.4% and 64.2% vs. 47.2% respectively), whereas for negative behaviors the average was lower at D3 compared to D1 for O and E group (54.5% vs. 83.6% and 35.8% vs. 52.8%, respectively). The flight distance was smaller at D3 compared to D1, it means, more cows let humans come closer in both O and E group (62.9% vs. 46.8% and 42.2% vs. 23.4%, respectively). Questions answered right on AW questionnaire were higher at D1 compared to D3 for O group (55.2% vs. 49%) and E group (69.3% vs. 55.7%). In conclusion, the training was positive on human behavior towards dairy cows, on reducing the number of fearful cows, on AW technical expertise. The results of variable 'attitudes' were positive for group E, but not for group O. Thus, AW training influenced behaviors, technical expertise, fear in cows and employees' attitudes. Keywords: Animal welfare; Human-animal relationship; Positive handling of animals
3.1 Introdução
A ligação entre as atitudes daqueles que manejam animais de
produção e o BEA tem sido investigada amplamente (COLEMAN et al., 1998;
BREUER et al., 2000; HEMSWORTH et al., 2000; WAIBLINGER et al., 2002;
BOIVIN et al., 2007; JANSEN et al., 2009; ELLINGSEN et al., 2014). Esses estudos
vêm indicando uma ligação entre as atitudes positivas e os comportamentos
positivos humanos em relação aos animais de produção. Esse modelo é bem
exemplificado pela proposta de Hemsworth e Coleman (1998), em que as atitudes
96
modulam os comportamentos em relação aos animais, influenciando no medo que
esses têm do humano, o que, consequentemente, tem efeito sobre o bem-estar e a
produtividade animal.
Atitude e comportamento são conceitos diferentes. Atitudes são
disposições aprendidas (crenças) que podem mudar dependendo do contexto
(EAGLY; CHAIKEN 2007). Comportamento, por sua vez, basicamente se refere à
ação tomada levando-se em consideração as atitudes. Entretanto, as atitudes
sozinhas não determinam o comportamento, que é definido pelos resultados
associados ao ‘feedback’ desse comportamento sobre as atitudes (HEMSWORTH;
COLEMAN, 2011). Em outras palavras, mesmo se os trabalhadores acreditarem que
o manejo positivo facilita na rotina de trabalho, eles só mudarão seu comportamento
em relação aos animais se executarem o manejo de acordo com as novas crenças e
tiverem o ‘feedback’ positivo esperado.
Alguns estudos mostraram que as atitudes em relação aos animais podem
mudar de acordo com a abordagem da intervenção cognitiva-comportamental
(HEMSWORTH et al., 1994; COLEMAN et al., 2000; HEMSWORTH et al., 2002).
Essa abordagem se baseia em dois aspectos principais: 1) Fornece informações
sobre os animais, como eles deveriam ser manejados, a sensibilidade desses
animais em relação aos comportamentos humanos negativos, os efeitos negativos
do manejo errado e a consequência negativa disso na produtividade e na facilidade
de manejo; e 2) Fornece exemplos de manejos e respostas dos animais em relação
aos tipos de manejo; mostra manejos negativos e suas consequências no medo dos
animais (HEMSWORTH; COLEMAN, 2011). Assim, o treinamento com base numa
abordagem cognitiva-comportamental pode ser de grande ajuda para se estabelecer
uma cultura mais positiva no manejo dos animais de produção. Esses animais, por
sua vez, apresentam menor distância de fuga, o que significa que têm menos medo
daqueles que os manejam (HEMSWORTH et al., 1989; HEMSWORTH et al., 1994;
COLEMAN et al., 1998).
Apesar de os estudos citados apontarem para a importância do
treinamento em BEA nas fazendas, existem poucas oportunidades para que isso se
torne aspecto presente nos manuais de boas práticas na pecuária, o que é explicado
pela pouca importância dada ao tema no meio (ENGLISH et al., 1992;
HEMSWORTH e COLEMAN, 2011).
97
O presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos do
treinamento em BEA dos manejadores (trabalhadores e proprietários) de fazendas
leiteiras, os possíveis efeitos sobre as atitudes e os comportamentos humanos em
relação às vacas leiteiras e o efeito sobre o medo das vacas em relação ao humano.
3.2 Material e métodos
A pesquisa foi conduzida em dez fazendas leiteiras nas bacias leiteiras de
Avaré, Campinas e Piracicaba, estado de São Paulo. Foram utilizadas vacas em
sistema de pastejo manejadas pelos próprios proprietários (FP) ou por mão de obra
terceirizada (trabalhadores; FT). O experimento foi dividido em quatro etapas, o que
pode ser observado na Figura 21: 1) seleção das fazendas, 2) avaliação inicial das
atitudes, comportamento humano e distância de fuga das vacas (D1), 3) pré-
avaliação dos conhecimentos em BEA dos trabalhadores e proprietários e
treinamento (D2) e 4) avaliação final das atitudes, comportamento humano, distância
de fuga das vacas e avaliação dos conhecimentos em BEA dos trabalhadores e
proprietários (D3), com o objetivo de se analisar o efeito do treinamento sobre as
atitudes e comportamentos humanos, e se isso teria alguma influência no medo das
vacas em relação ao humano.
98
Figura 21 - Desenho esquemático de todas as etapas da pesquisa que foi realizada em dez fazendas produtoras de leite em pasto na região de Piracicaba – SP. Observação: FP: fazendas manejadas pelos próprios proprietários e FT: fazendas manejadas por trabalhadores
Etapa I – Seleção das fazendas. Primeiramente, o contato foi feito pelo telefone com
produtores das bacias leiteiras de Avaré, Campinas e Piracicaba. Com a permissão
para desenvolver a pesquisa nas fazendas, as primeiras visitas foram realizadas e o
D1 foi estabelecido e agendado nesse mesmo dia. Em alguns casos, houve a
necessidade de reunião na própria fazenda antes do início da pesquisa, no intuito de
explicar com mais detalhes como o estudo seria conduzido. Entretanto, sem entrar
no mérito das avaliações que seriam realizadas, o que poderia prejudicar os
resultados. Foram selecionadas dez fazendas de leite em pasto e aquelas que
aceitaram participar da pesquisa foram adicionadas ao projeto, não havendo dessa
maneira critério mais rígido de seleção.
Em nenhuma das fazendas os respectivos trabalhadores ou proprietários
haviam recebido algum tipo de treinamento técnico referente à adoção de boas
práticas em BEA, assim como nenhum tipo de avaliação ou certificação anteriores. A
descrição geral das fazendas selecionadas se encontra na Tabela 12.
99
Tabela 12 - Descrição das fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) que foram selecionadas para realização das avaliações de bem-estar animal (BEA) e humano (BEH)
Fazendas Cidade Tipo Nº vacas lactantes
Produção diária (L / Dia)
Área (ha)
Nº trabalhadores
N º vacas ordenhadas / trabalhador
1 Piracicaba FP 32 500 40 2 16
2 Piracicaba FP 31 450 44 1 31
3 Piracicaba FP 25 250 40 1 25
4 Piracicaba FP 20 200 55 2 10
5 Piracicaba FP 17 180 55 1 17
6 Piracicaba FP 14 150 50 1 14
7 Serra Negra
FT 190 4300 102
5 38
8 Piracicaba FT 170 2150 104 4 ~42
9 Avaré FT 59 960 120 3 ~19
10 Piracicaba FT 52 1000 195 2 26
Outros dados não foram acrescentados por manutenção da privacidade das
fazendas envolvidas.
Etapa II – Avaliação inicial das atitudes e comportamentos humanos e distância de
fuga para vacas leiteiras. Foram aplicados os questionários de atitudes, realizadas
as observações dos comportamentos humanos e as avaliações de distância de fuga
das vacas leiteiras. Essas avaliações foram consideradas, nesse momento, como a
avaliação inicial (D1). Para as variáveis humanas, o objetivo foi verificar quais eram
as atitudes e comportamentos sem que ocorresse nenhum tipo de esclarecimento
teórico-prático para toda a equipe responsável pelas vacas leiteiras. Para a variável
distância de fuga, objetivou-se verificar o nível de medo que as vacas tinham do
humano antes de qualquer tipo de treinamento em BEA.
3.2.1 Avaliação das atitudes
Foi utilizado o escore de avaliação de atitudes dos trabalhadores em relação
às vacas leiteiras proposto por Hemsworth et al. (2002). Foi pedido a cada
trabalhador que respondesse o questionário, e o preenchimento dele foi justificado
100
como parte do estudo para identificação dos recursos humanos nas fazendas. O
questionário era composto por 27 itens que visavam conhecer quais eram as
crenças dos trabalhadores em relação às características das vacas (Tabela 13 e
informações complementares no Anexo G).
Tabela 13 - Questões para acessar as crenças dos trabalhadores em relação às vacas (Hemsworth et al., 2002)
Item Descrição do conteúdo
FÁCIL DE TRABALHAR
1 É fácil trabalhar com vacas leiteiras
2 Vacas leiteiras estimulam o meu trabalho
3 Vacas leiteiras são amigáveis
CRENÇAS NEGATIVAS
4 Vacas leiteiras são barulhentas
5 Vacas leiteiras são malcheirosas
6 Vacas leiteiras são feias
7 Vacas leiteiras não sentem dor
ANIMAIS AGRADÁVEIS
8 Vacas leiteiras são bonitas
9 É prazeroso trabalhar com vacas leiteiras
10 Vacas leiteiras são inteligentes
11 Vacas leiteiras são divertidas
12 Algum treinamento é necessário para trabalhar com vacas leiteiras
13 Alguma experiência é necessária para trabalhar com vacas leiteiras
14 Vacas leiteiras são fáceis de manejar
15 Algum tempo é necessário para manejar vacas leiteiras
CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
16 Vacas leiteiras são gulosas
17 Vacas leiteiras são agressivas
18 Vacas leiteiras são facilmente assustadas
19 Vacas leiteiras são curiosas
BOM COMPORTAMENTO
20 A reação das vacas em relação aos manejadores é positiva
21 A reação das vacas em relação a pessoas não familiares é positiva
22 Vacas leiteiras reagem positivamente a mudanças na rotina
23 As vacas leiteiras reagem bem à ordenha
ESFORÇO PARA MANEJAR
24 É necessário muito esforço físico para manejar vacas leiteiras
25 É necessário falar alto/gritar muito para manejar vacas leiteiras
CRENÇA DE FALAR COM VACAS E NOVILHAS EM LACTAÇÃO
26 Conversar com novilhas em lactação é importante
101
27 Conversar com vacas em lactação é importante
As respostas eram fornecidas de acordo com uma escala de cinco pontos,
definidas como: discordo totalmente (1), discordo (2), não discordo e nem concordo
(3), concordo (4) e concordo totalmente (5). Para cada grupo de perguntas, foi criado
um valor único pela soma dos itens listados, sendo que, quanto maior o valor para
os itens positivos, mais positiva era a atitude em relação às vacas e, quanto maiores
os valores para os itens negativos, menos positiva era a atitude em relação às
vacas.
3.2.2 Avaliação dos comportamentos humanos
A observação do comportamento dos trabalhadores foi realizada durante a
primeira ordenha do dia, de acordo com o protocolo aplicado por Hemsworth et al.
(2002). Assim, dois observadores, previamente treinados, registraram o
comportamento dos trabalhadores durante as seguintes atividades:
a. Mover as vacas do barracão para a linha de ordenha;
b. Posicionar as vacas para a ordenha;
c. Acoplar e desacoplar as teteiras;
d. Mover as vacas para fora da linha após a ordenha.
As interações táteis de humanos em relação às vacas foram classificadas
como positivas (POS) ou negativas (NEG). Interações positivas incluíram
“palmadinhas”, carinho ou apoiar a mão nas costas, pernas ou flancos da vaca.
Interações negativas incluíram tapas, empurrões ou golpes com a mão ou com
objetos de qualquer tipo. Além disso, dois tipos de interações táteis negativas foram
registrados: aquelas que eram ligeiras a moderadamente aversivas (tapas,
empurrões e batidas; NEG1), e aquelas que eram mais aversivas (tapas fortes,
empurrões fortes, agressões e torcidas de cauda; NEG2). As interações negativas
leves a moderadas diferiram das positivas em relação a algum ruído perceptível
associado com o contato e a intenção de mover as vacas. Um período de tempo de
cinco segundos foi escolhido para separar um nível do comportamento de outro nível
do mesmo comportamento.
102
3.2.3 Avaliação da distância de fuga das vacas
Essa variável é mensurada a partir da avaliação do critério ‘Boa relação
humano-animal’ do protocolo Welfare Quality®, que indica o nível de medo que os
animais têm dos humanos. A avaliação foi feita depois da ordenha, momento em
que as vacas já se encontravam no pasto. Foi utilizada uma amostra de cada lote
da fazenda, o que representou 686 vacas nos dois dias de avaliação. Essa
avaliação foi feita com base na distância de fuga (DF), zona individual de cada
animal (Figura 22), que é a distância entre a mão do observador e o focinho do
animal. A definição de distância de fuga é o ponto a partir do qual o animal se
move para trás ou vira a cabeça para o lado, na tentativa de esquivar-se
(WELFARE QUALITY®, 2009). Quanto maior a distância de fuga, maiores são as
chances de os animais sentirem medo dos humanos.
Figura 22 - a) Representação da zona de fuga ou distância de fuga dos animais (Parker et al., 2009) e b) A distância de fuga é a distância entre a mão do observador e o focinho do animal
Segundo o Welfare Quality®, são possíveis as seguintes distâncias:
vacas que permitem ser tocadas (DF = 0), que deixam o avaliador se aproximar até
50 cm (0 < DF ≤ 50), de 50 a 100 cm (50 < DF ≤ 100) e que não deixam o avaliador
se aproximar mais que 100 cm (DF < 100).
Etapa III – Treinamento. Antes da realização do treinamento, os trabalhadores e
proprietários responderam a um questionário de conhecimentos gerais em BEA.
a b
103
Essa avaliação teve como objetivo principal verificar os conhecimentos do assunto
sem nenhum tipo de esclarecimento. Todos os treinamentos técnicos foram
baseados nos pontos mais críticos avaliados na primeira visita. Foram abordados os
seguintes aspectos: BEA, biologia e comportamento animal; senciência e
consciência das vacas; percepções animal e humana em relação ao manejo;
necessidades físicas e psicológicas de animais; práticas de BEA e o papel do
trabalhador na melhora do BEA. Após a parte teórica, eles assistiram a um vídeo de
aproximadamente 15 minutos sobre como manejar bovinos de maneira calma e com
interações positivas (Parker et al., 2009). Depois disso, o treinamento seguiu como
uma conversa e foi se desenvolvendo conforme a participação da equipe de
trabalhadores e proprietários, cujos conhecimentos e percepções eram levados em
consideração. No final, todos os tópicos eram abordados e a base teórica e prática
era providenciada em aproximadamente uma hora.
Etapa IV – Avaliação final das atitudes, comportamentos humanos, distância de fuga
e conhecimentos gerais em BEA. Após dois meses do treinamento técnico, foram
realizadas novamente as avaliações de atitudes, comportamentos e distância de
fuga aplicadas no primeiro dia de visita, considerando-se esse momento como a
avaliação final. Também foi aplicado o questionário sobre BEA, a fim de verificar se
os conhecimentos passados no treinamento haviam sido absorvidos. O objetivo
dessa avaliação foi verificar se o treinamento técnico em BEA havia surtido efeito
sobre as variáveis humanas e consequentemente no medo que as vacas tinham dos
humanos.
3.2.4 Coleta de dados e análise dos resultados
Uma das principais diferenças entre propriedades rurais e empresas urbanas
está no número de trabalhadores. Nas fazendas leiteiras, encontram-se muitas
vacas sob os cuidados de poucos trabalhadores. Em função disso, várias limitações
surgiram ao se estabelecer o delineamento desta pesquisa:
1) Número de participantes: em dez fazendas, totalizaram-se 30 respondentes
da pesquisa, sendo dez proprietários das fazendas e 20 trabalhadores
contratados. Entretanto, durante o período da pesquisa, alguns trabalhadores
104
deixaram o trabalho e alguns proprietários não estavam no dia 2, o que
anulou sua participação. Ao final da pesquisa, totalizaram-se 22 respondentes
(oito proprietários e 14 trabalhadores) que estavam presentes em todos os
dias da pesquisa. Nas pesquisas avaliando BEH, os relatos envolvem
empresas urbanas com grande número de trabalhadores. Nos trabalhos
encontrados, a grande maioria envolveu mais que 280 participantes
(ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI et al., 2004), pois normalmente foram
desenvolvidas em empresas com grande número de trabalhadores, apesar de
existirem pesquisas com menor número (n = 19; DANIELI et al., 2011).
Entretanto, nas fazendas não é comum encontrar grande número de
trabalhadores, sendo normalmente observados dois ordenhadores e um
trabalhador que maneja as vacas (Tabela 12);
2) Desequilíbrio do número de participantes de fazendas manejadas pelos
próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT): o grupo FT foi
representado por fazendas com maior número de vacas e o grupo FP por
fazendas com menor número de vacas, o que explicou a diferença entre o
número de participantes (Tabela 12).
Dessa maneira, optou-se pela análise descritiva dos dados para o estudo das
atitudes, comportamentos humanos, conhecimentos técnicos e a distância de fuga
das vacas em relação aos humanos (distância de esquiva). Para todas as variáveis,
utilizou-se o programa Microsoft Excel. Para a análise das atitudes, foi criado um
valor único pela soma dos itens listados de cada grupo de perguntas, sendo que,
quanto maior o valor para os itens positivos, mais positiva era a atitude em relação
às vacas e, quanto maiores os valores para os itens negativos, menos positiva era a
atitude em relação às vacas. Para a análise de comportamento humano, as
observações foram contabilizadas e classificadas como positivas (POS) ou negativas
(NEG), sendo que nesse caso foram divididas em nível 1 (NEG1) e 2 (NEG2). Para a
análise de conhecimentos técnicos em BEA, foi utilizada a porcentagem média de
acertos em cada grupo de fazenda. Para a análise do medo das vacas em relação
aos humanos, foi utilizada a média da distância de fuga (DF).
105
3.3 Resultados e discussão
3.3.1 Atitudes
Fazendas em que as vacas eram manejadas pelos próprios proprietários (FP)
apresentaram menor pontuação média (52,8 vs. 56,4 e 51,9 vs. 55,5) para atitudes
positivas referentes às vacas em relação às fazendas que eram manejadas por
trabalhadores (FT) no D1 e no D3. Já a pontuação média para atitudes negativas
apresentou-se maior (27,8 vs. 27,5 e 28,9 vs. 26,1; Tabela 14) para o grupo FP em
relação ao FT no D1 e D3.
Tabela 14 - Pontuações dos itens relacionados às atitudes positivas e negativas e a pontuação média total em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3)
Atitudes D1 D3
Positivas FP FT FP FT
Facilidade de trabalhar 11,4 12,1 10,5 12,8
Animais agradáveis 17,4 20,3 17,0 19,9
Bom comportamento 14,8 15,9 15,7 16,0
Crença de conversar com os animais
9,1 9,0 8,5 9,0
Pontuação total 52,7 57,3 51,7 57,7
Negativas FP FT FP FT
Crenças negativas 8,0 9,7 9,6 9,2
Características negativas 14,0 13,1 13,4 12,6
Esforço para manejar 5,8 4,7 5,9 4,2
Pontuação total 27,8 27,5 28,9 26,1
Isso resulta, principalmente, da maior pontuação do item ‘Animais
agradáveis’ dada pelos entrevistados do grupo FT em relação aos entrevistados do
grupo FP no D1 e da maior pontuação dos itens ‘Facilidade de trabalhar’ e ‘Animais
agradáveis’ no D3. Em adição, comparando-se os diferentes dias (D1 e D3) na
Tabela 14, observou-se que no grupo FP as pontuações médias para atitudes
positivas foram menores no D3 em relação ao D1, já as pontuações médias para
atitudes negativas foram maiores no D3 em relação ao D1. Para o grupo FT, o
contrário e esperado aconteceu: as pontuações médias para atitudes positivas foram
maiores no D3 em relação ao D1, já as pontuações médias para atitudes negativas
foram menores no D3 em relação ao D1.
106
Alguns estudos (HEMSWORTH et al., 2002; WINDSCHNURER et al., 2009;
RUIS et al., 2010) observaram que trabalhadores que passaram por treinamento
com base na intervenção cognitiva-comportamental melhoraram suas atitudes e
comportamentos em relação aos animais quando comparados aos trabalhadores
que não tiveram acesso ao treinamento. Esses achados poderiam explicar o
resultado apenas para o grupo FT em relação à diminuição de atitudes negativas e
aumento de atitudes positivas depois do treinamento. Para o grupo FP, tanto em
relação às atitudes positivas e negativas após o treinamento, a presente pesquisa
não encontrou resultados semelhantes.
Uma possível explicação é que, apesar de o treinamento do presente
experimento ter sido baseado na intervenção cognitiva-comportamental, ele foi feito
em curto período de tempo (aproximadamente uma hora). O modelo proposto
inicialmente por Hemsworth e Coleman (1998), e aplicado por Hemsworth et al.
(2002), utilizava-se de uma hora de treinamento individual, além de visitas rotineiras
para verificar as dificuldades de se alcançar ou manter a mudança comportamental,
sendo que essas visitas também serviam para reforçar os conhecimentos passados
anteriormente. Assim, o treinamento oferecido para o grupo de proprietários no
presente experimento pode não ter representado o efeito esperado nas mudanças
de atitudes. Talvez haja necessidade, para esse grupo, de fornecer um treinamento
de maior duração, abordando temas mais específicos à realidade do pequeno
produtor de leite.
Uma outra explicação possível se baseia na escolha do questionário para
acessar as atitudes dos participantes, que se restringiu apenas às crenças sobre as
vacas, o próprio comportamento, o comportamento das vacas e à crença de falar
com animais (aspecto cognitivo), deixando de avaliar os aspectos de afeto (a
resposta emocional a algo ou alguém) e o aspecto de conação (tendência
comportamental em relação a algo ou alguém, ou ainda o processo mental de
formação da vontade e da intenção). Apesar de a metodologia escolhida para
desenvolver o presente experimento ser possível e correta (HEMSWORTH;
COLEMAN, 2011), segundo a Teoria da Ação Razoável de Fishbein e Ajzen’s
(AJZEN; FISHBEIN, 1977; 1980), a melhor proposta para explicar a relação entre
atitudes e comportamento é aquela que é composta pela análise dos três aspectos
mencionados anteriormente (aspectos cognitivo, de afeto e de conação).
107
Em outras palavras, as crenças que as pessoas possuem quando
combinadas com as avaliações dessas crenças, levam à formação das atitudes
(AJZEN; FISHBEIN, 1980). Nesse mesmo sentido, para que as atitudes resultem no
comportamento, a causa imediata é a intenção. Dessa maneira, atitudes são
determinadas pela combinação das crenças sobre os resultados que são prováveis
de acontecer, seguindo um comportamento específico e a avaliação desses
resultados (HEMSWORTH; COLEMAN, 2011).
Por outro lado, Hemsworth et al. (2002), utilizando o mesmo questionário para
verificar as atitudes, encontrou diferença apenas em dois itens (‘esforço para
manejar’ e ‘crença de conversar com novilhas’). Os autores sugeriram que essa
diferença evidenciou o treinamento como fator de mudança de atitude, o que
diminuiu as interações negativas no momento da ordenha. Isso foi explicado devido
à crença de que era necessário pouco esforço para manejar as vacas e que
conversar com novilhas ajudaria no manejo, uma vez que são animais mais
assustados em um ambiente novo.
O modelo de Hemsworth e Coleman (1998) que relaciona atitudes,
comportamentos e medo nos animais, tem sido comprovado por diversos estudos
(COLEMAN et al., 1998; BREUER et al., 2000; HEMSWORTH et al., 2000;
WAIBLINGER et al., 2002; BOIVIN et al., 2007; JANSEN et al., 2009). Alguns
estudos têm também sugerido ligação entre atitudes e produtividade dos animais
(BREUER et al., 2000; HEMSWORTH et al., 2000; WAIBLINGER et al., 2002;
HANNA et al., 2009), entretanto, Panamá-Arias e Spinka (2005) não encontraram
essa relação. Em adição, Hanna et al. (2009) encontraram outros aspectos, que não
atitudes, fortemente correlacionados à produtividade, como empatia e satisfação no
trabalho. Apesar de esses trabalhos discordarem, em parte, daqueles que utilizaram
a metodologia de Hemsworth e Coleman (1998), eles não abordaram o aspecto do
BEA, mas o fato de a produtividade animal estar correlacionada a outros fatores
humanos que não às atitudes. E isso pode lançar luz sobre as possíveis relações
entre BEA e fatores além das próprias atitudes humanas.
Dessa maneira, os resultados de atitudes para o grupo de trabalhadores (FT)
parece estar de acordo com outros trabalhos na área, entretanto, o grupo de
proprietários (FP) não parece ter seguido o padrão observado. Os resultados
divergentes podem ser explicados pelo curto tempo investido – comparado a outros
trabalhos – no treinamento e pelo modelo do questionário utilizado, que foi deficiente
108
em analisar os três aspectos dessa avaliação, o que pode ter mascarado uma
possível mudança positiva de atitude no grupo de proprietários (FP).
3.3.2 Comportamento
Podem-se observar na Tabela 15 as porcentagens de comportamentos
humanos positivos e negativos em relação às vacas leiteiras nos dias de avaliação.
Os comportamentos foram divididos em positivos, negativos nível 1 e negativos nível
2.
Tabela 15 - Porcentagem média de comportamentos humanos positivos e negativos observados no momento da ordenha em relação às vacas de fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3)
D1 D3
Comp.
Positivos (%) Comp. Negativos (%)
Comp. Positivos (%)
Comp. Negativos (%)
Nível 1 Nível 2 Nível 1 Nível 2
FP 16,4 44,3 39,3 45,5 43,2 11,3 Total (n)
10 27 24 20 19 5
FT 47,2 37,3 15,5 64,2 29 6,8
Total (n)
167 132 55 122 55 13
Está claro que programas de treinamento podem ter ação benéfica no manejo
mais positivo de animais de produção (HEMSWORTH et al., 1994; COLEMAN et al.,
2000; BOIVIN et al., 2003; HONORATO et al., 2012). Nesta pesquisa, para ambos
os grupos, houve maior porcentagem de comportamentos negativos no D1 em
relação ao D3 e maior porcentagem de comportamentos positivos no D3 em relação
ao D1 (Tabela 15). Observando-se os comportamentos entre grupos no D1,
percebe-se que fazendas manejadas pelos proprietários tiveram porcentagem menor
de comportamentos positivos em relação às fazendas manejadas por trabalhadores
(16,4% e 47,2%, respectivamente), o fato de proprietários terem tocado menos nas
vacas do que os trabalhadores durante o manejo possivelmente explica esses
109
resultados. Entretanto, quando observamos os comportamentos negativos nível 1,
percebe-se que o grupo FP teve porcentagem maior em relação ao grupo FT (44,3%
e 37,3%, respectivamente), possivelmente pelo toque ser utilizado mais quando o
proprietário perdia o controle da vaca, desempenhando manejo agressivo contra o
animal. Para o comportamento negativo nível 2, o mesmo aconteceu, o grupo FP
teve porcentagem maior em relação ao grupo FT (39,3% e 15,5%, respectivamente).
Observando-se agora os resultados no D3 entre grupos, percebe-se que a
porcentagem para o comportamento positivo aumentou para FP e FT (45,5% e
64,2%, respectivamente), já para o comportamento negativo nível 1 (43,2% e 29%,
respectivamente) e 2 (11,3% e 6,8%, respectivamente) diminuiu. Esses resultados
podem ser explicados pela influência positiva do treinamento no manejo dos
animais, sendo que o resultado parece ter sido mais positivo para o grupo FP em
relação ao FT, já que o aumento na porcentagem de comportamentos positivos e a
diminuição dos comportamentos negativos em relação aos animais foram maiores
em relação ao outro grupo.
A Figura 23 apresenta o resultado, em porcentagem, da observação de
manejo em 20 ordenhas, totalizando 1.220 vacas. Os números em vermelho
representam as porcentagens de comportamentos humanos negativos e os números
em azul, os comportamentos humanos positivos. Somando-se todos os manejos
observados, somando comportamentos antes e depois do treinamento, a maior
porcentagem de comportamentos negativos em todas as visitas foi observada no
momento de mover as vacas do barracão para a linha de ordenha (18% de todos os
comportamentos humanos observados), seguido pelo manejo de mover as vacas
para fora da linha após a ordenha (17%), posicionar as vacas para a ordenha (15%)
e acoplar e desacoplar as teteiras (1%). Também foi observado que os
comportamentos humanos positivos em relação às vacas aconteceram, na maioria
das vezes, no momento de mover as vacas do barracão para a linha de ordenha
(21%) e no momento de posicionar as vacas para a ordenha (19%).
110
Figura 23 - Esquema ilustrativo da sala de ordenha e dos momentos de manejo das vacas
pelos proprietários e trabalhadores
Os números representam os momentos em que os comportamentos foram observados: 1) Mover as vacas do barracão para a linha de ordenha, 2) Posicionar as vacas para a ordenha, 3) Acoplar e desacoplar as teteiras e 4) Mover as vacas para fora da linha de ordenha após a ordenha
Quando essa mesma avaliação é feita antes e depois do treinamento (Figura
24), verifica-se que a porcentagem total de comportamentos humanos em relação às
vacas no momento da ordenha é mais positiva no D3, dois meses depois do
treinamento, em relação ao D1 (61% vs. 43%, respectivamente). O contrário
acontece com os comportamentos negativos, que são mais prevalentes no D1 em
relação ao D3 (57% vs. 39%, respectivamente).
111
Figura 24 - Esquema ilustrativo da sala de ordenha e dos momentos de manejo das vacas pelos trabalhadores no dia antes do treinamento (D1; Figura a) e dois meses depois do treinamento em bem-estar animal (D3; Figura b)
Os números representam os momentos em que os comportamentos foram observados: 1) Mover as vacas do barracão para a linha de ordenha, 2) Posicionar as vacas para a ordenha, 3) Acoplar e desacoplar as teteiras e 4) Mover as vacas para fora da linha de ordenha após a ordenha
b
a
112
Rosa e Paranhos da Costa (2001) observaram que há destacada interação
entre trabalhadores e vacas no momento em que elas são conduzidas da sala de
espera até a linha de ordenha, o que parece estar de acordo com os resultados
desta pesquisa. Entretanto, os mesmos autores observaram que, no momento de
mover as vacas da linha de ordenha para fora, houve baixa interação, porém, ela foi
‘expressivamente negativa’ em direção às vacas que levaram mais tempo para se
moverem. Já Hemsworth et al. (2002) observaram que fazendas que tiveram
treinamento apresentaram maior porcentagem de comportamentos humanos
positivos e menor porcentagem de comportamentos humanos negativos quando
comparadas às fazendas do grupo controle. Alguns estudos (HEMSWORTH et al.,
2002; WINDSCHNURER et al., 2009; RUIS et al., 2010) mostraram que depois de
treinamento o comportamento dos trabalhadores foi mais positivo comparado ao
grupo que não recebeu treinamento. O que pode explicar os resultados deste
experimento, evidenciando o papel do treinamento no manejo mais positivo dos
animais.
Outro ponto que deve ser destacado, apesar de não ter sido mensurado
nesse experimento, é o retorno positivo do treinamento sobre as declarações dos
participantes no último dia de avaliação. Sem serem questionados, alguns
trabalhadores, gerentes e proprietários declararam suas opiniões sobre o
treinamento. Alguns exemplos de frases comuns que foram ouvidas: “Deixei de dar
tanta porrada nas vacas”; “Fiz o que vocês falaram na palestra e achei que as vacas
responderam bem”; “Entendi como a vaca enxerga e isso melhorou o meu jeito de
tocar elas”; “Elas [vacas] sentem dor como a gente, são inteligentes... depois do que
vocês falaram sobre o sentimento delas, eu comecei a tratar as vacas melhor”; “Eu
já sabia que fornecer sombra pra vaca ajuda ela a produzir mais e ter mais
conforto... bem-estar... mas faltava alguém vir aqui e falar isso, hoje estamos
construindo dois sombrites com as medidas que vocês passaram”; “Depois que
vieram aqui, sentimos que os trabalhadores estão tratando melhor as vacas, eles
gostaram do treinamento”.
É interessante notar que, mesmo sem alcançar o resultado esperado para a
variável ‘atitude’ em um dos grupos, os resultados para o comportamento humano
foram alcançados, ou seja, depois do treinamento foi observada menor porcentagem
de comportamentos negativos e maior de comportamentos positivos em relação às
113
vacas, evidenciando os resultados positivos do treinamento na maneira com que os
proprietários e trabalhadores manejam as vacas no momento da ordenha.
Nos resultados originários da observação do comportamento humano, um
fator que poderia ser considerado como interferência seria a observação presencial
do manejo no momento da ordenha. Entretanto, alguns cuidados foram tomados: 1)
a observação sem interferência no trabalho dos trabalhadores, mantendo certa
distância; 2) a justificativa de que as observações eram do manejo de ordenha como
um todo e não apenas dos humanos; e 3) a verificação do tempo de ordenha, que foi
o mesmo no D1 e D3, o que pode ajudar a comprovar o procedimento de manejo
usual em ambos os dias.
3.3.3 Medo em vacas leiteiras
A análise do medo que as vacas têm dos humanos é mensurada a partir da
Distância de Fuga (DF). Foi observado em ambos os grupos, FP e FT, que houve
maior porcentagem de vacas permitindo o toque pelo avaliador ou uma maior
aproximação no D3 em relação ao D1 (Tabela 16).
Tabela 16 - Porcentagem de vacas que deixaram ser tocadas (x = 0), que deixaram o avaliador se aproximar até 50 cm (0 < x ≤ 50), de 50 a 100 cm (50 < x ≤ 100) e que não deixaram o avaliador se aproximar mais que 100 cm (x < 100) em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) nos dias 1 (D1) e 3 (D3)
Distância de fuga (DF; cm)
DF = 0 (%) 0 < DF ≤ 50 (%) 50 < DF ≤ 100
(%) DF > 100
(%) D1 D3 D1 D3 D1 D3 D1 D3
FP 46,8 62,9 24,5 25,2 17,3 9,8 11,5 2,1 Total (n) 65 90 34 36 24 14 16 3
FT 23,4 42,2 31,1 27,2 26,3 22,8 19,1 7,8 Total (n) 49 87 65 56 55 47 40 16
Hemsworth et al. (2002) e Breuer et al. (2000; 2003) observaram que vacas
em fazendas em que os trabalhadores foram treinados mostraram menores distância
de fuga, indicando menor nível de medo dos humanos por parte dessas vacas em
relação àquelas do grupo de trabalhadores que não foram treinados. Em adição,
Breuer et al. (1997) observaram que comportamentos negativos no manejo de
novilhas aumentou a distância de fuga. Outros estudos também indicaram que o
medo dos animais diminuiu quando os trabalhadores eram treinados para a
114
mudança de atitude e comportamento (HEMSWORTH et al., 1989; HEMSWORTH et
al., 1994; COLEMAN et al., 1998). Entretanto, Ruis et al. (2010) observaram que o
treinamento não afetou a distância de fuga. Os autores justificaram o fato alegando
que o período entre o treinamento e a segunda visita pode ter sido curto (quatro a
seis semanas) para mostrar os efeitos da mudança de comportamento dos humanos
no comportamento dos animais.
Outras ações que levam em consideração a capacitação/treinamento dos
trabalhadores para o manejo positivo dos animais têm mostrado resultados positivos.
Magalhães et al. (2007) observaram que, com a implementação do manejo positivo
de bezerros, a frequência de óbitos, uso de antibióticos, ocorrência de diarreia e
ocorrência de sinais de desidratação diminuíram. Outras pesquisas também
correlacionaram menor medo dos humanos pelos animais e produtividade
(HEMSWORTH et al., 1981; 1989; HEMSWORTH e BARNETT, 1991; BREUER et
al., 1997; BREUER, et al., 2000, HEMSWORTH, 2003), e atitudes e
comportamentos positivos à melhor produtividade e bem-estar dos animais
(HEMSWORTH et al., 1989; HEMSWORTH et al., 1994; COLEMAN et al., 1998;
BREUER et al., 2000; HEMSWORTH et al., 2000; HEMSWORTH et al., 2002;
WAIBLINGER et al., 2002; BOIVIN et al., 2007; JANSEN et al., 2009; ELLINGSEN et
al., 2014).
3.3.4 Conhecimento técnico em bem-estar animal
Em relação ao conhecimento técnico dos trabalhadores e proprietários que
participaram da pesquisa sobre BEA, foi fornecido um teste de múltipla escolha
(Anexo H) com base em conhecimentos de bem-estar e comportamento animal,
senciência e manejo. Observaram-se mais acertos (64,6%, aproximadamente oito
questões de 12) no D3, dois meses depois do treinamento, do que no dia do
treinamento (53,5%, aproximadamente seis questões de 12). Os entrevistados do
grupo FT acertaram mais questões que o grupo FP (Tabela 17).
115
Tabela 17 - Porcentagem média de acertos observada no questionário sobre bem-estar
animal, número aproximado de questões corretas e número de participantes no dia do treinamento (D2) e dois meses após o treinamento (D3) em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT)
D2 D3 n
FP 49 % (6/12) 55,2 % (7/12) 8
FT 55,7 % (7/12) 69,3 % (8/12) 14
É interessante observar que mesmo utilizando-se um período curto de
treinamento, diferentemente de Hemsworth et al. (2002) que, além de aplicarem o
treinamento com base na intervenção cognitiva-comportamental, utilizaram relatórios
mensais e visitas rotineiras que reforçavam os assuntos abordados no treinamento,
os resultados foram positivos, evidenciando-se a importância do treinamento na
formação de recursos humanos com conhecimento em bem-estar animal nas
fazendas.
Dessa maneira, apesar de os resultados de atitudes em BEA não parecerem
favoráveis ao esperado, os comportamentos humanos foram mais positivos em
relação às vacas leiteiras no momento da ordenha, e a distância de fuga, que se
refere ao medo que os animais têm do humano, foi menor no D3 em relação ao D1.
Existem evidências claras de que atitudes positivas e comportamentos
positivos podem ser benéficos para os animais de produção, e que o modelo
proposto por Hemsworth e Coleman (1998) é de grande importância no alcance de
melhores níveis de BEA no setor da produção animal. Entretanto, existem outros
fatores importantes que devem ser considerados e que muitas vezes não seguem
um modelo padrão, como é o caso da cultura que se origina das interações
desenvolvidas dentro de cada fazenda e da melhoria das instalações (Burton et al.,
2012).
Em relação ao treinamento, alguns autores (SANTANNA e
PARANHOS DA COSTA, 2007; HEMSWORTH e COLEMAN, 2011) vêm apontando
para as dificuldades de se encontrar treinamento específico que aborde a mudança
de atitude e comportamento dos humanos em relação aos animais de produção. Isso
pode ser explicado pela falta de interesse das fazendas e da indústria nesse tópico,
116
bem como pela falta de entendimento desses grupos sobre a importância dos
trabalhadores no bem-estar e produtividade animal.
3.4 Conclusões parciais
De acordo com os resultados apresentados neste capítulo, o treinamento foi
positivo no comportamento humano em relação às vacas leiteiras, na diminuição do
medo que as vacas têm do humano e no conhecimento técnico em BEA.
Os resultados da variável ‘atitudes’ foram positivos para o grupo de
trabalhadores, mas não para o grupo de proprietários. Dessa maneira, o treinamento
em BEA influenciou os comportamentos humanos, os conhecimentos técnicos, o
medo em vacas e as atitudes dos trabalhadores.
Referências
AJZEN, I.; FISHBEIN, M. Attitude-behaviour relations: a theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletin, Washington, v. 84, p. 888-918, 1977. AJZEN, I.; FISHBEIN, M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.,1980. ALBUQUERQUE, A.S.; TRÓCCOLI, B.T. Desenvolvimento de uma escala de bem-estar subjetivo. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 20, n.2, p. 153-164, 2004. BREUER, K.; HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L.; MATTHEWS, L.R.; COLEMAN, G.J. Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 66, p. 273–288, 2000. BREUER, K.; HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. The influence of handling on the behaviour and productivity of lactating heifers. Proc. 31st Intern. Soc. Appl. Ethology, Research Institute of Animal Production, Prague, Czech Republic and the Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Slovak Academy of Sciences, Slovakia. BOIVIN, X; MARCANTOGNINI, L; BOULESTEIX, P; GODET, J; BRULÉ, A; VEISSIER, I. Attitudes of farmers towards Limousin cattle and their handling. Animal Welfare, Inglaterra, v. 16, n.2, p. 147-151, 2007.
117
BOIVIN, X.; LENSINK, J.; TALLET, C.; VEISSIER, I. Stockmanship and farm animal welfare. Animal Welfare, Inglaterra, v.12, n.4, p.479-492, 2003. BURTON, R.J.F.; PEOPLES, S.; COOPER, M.H. Building ‘cowshed cultures’: A cultural perspective on the promotion of stockmanship and animal welfare on dairy farms. Journal of Rural Studies, New York, v. 28, p. 174 - 187, 2012. COLEMAN, G.C.; HEMSWORTH, P.H; HAY, M.; COX, M. Predicting stockperson behaviour towards pigs from attitudinal and job-related variables and empathy. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 58, p. 63–75, 1998. COLEMAN, G.J.; HEMSWORTH, P.H.; HAY, M.; COX, M. Modifying stockperson attitudes and behaviour towards pigs at a large commercial farm. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.66, p.11-20, 2000. DANIELI, F.; CASTIQUINI, E.A.T.; ZAMBONATTO, T.C.F; BEVILACQUA, M.C. Avaliação do nível de satisfação de usuários de aparelhos de amplificação sonora individuais dispensados pelo Sistema Único de Saúde. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo, v. 16, n.2, p. 152-159, 2011. EAGLY, A.; CHAIKEN, S. The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, New York, v. 25, p. 582-602, 2007. ELLINGSEN, K.; COLEMAN, G.J.; LUND, V.; MEJDELL, C.M. Using qualitative behaviour assessment to explore the link between stockperson behaviour and dairy calf behaviour. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 153, p.10-17, 2014. ENGLISH, P.; BURGESS, G.; SEGUNDO, R.; DUNNE, J. Stockmanship: improving the care of the pig and other livestock. Ipswich, UK: Farming Press Books, 1992. p. 10. GARCIA, P.R. Sistema de avaliação do bem-estar animal para propriedades leiteiras com sistema de pastejo. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências- Área de concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013. HANNA, D.; SNEDDON, I.A.; BEATTIE, V.E. The relationship between the stockperson’s personality and attitudes and the productivity of dairy cows. Animal, Cambridge, v. 3, n.5, p. 737-743, 2009.
118
HEMSWORTH, P.H. Human-animal interactions in livestock production. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 81, p. 185-189, 2003. HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L. The effects of aversively handling pigs either individually or in groups on their behaviour, growth and corticosteroids. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 30, p. 61-72, 1991. HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L.; COLEMAN, G.J.; HANSEN; C. A study of the relationships between the attitudinal and behavioural profiles of stockpeople and the level of fear of humans and the reproductive performance of commercial pigs. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 23, p. 301–314, 1989. HEMSWORTH, P.H.; BRAND, A.; WILLEMS, P.J. The behavioural response of sows to the presence of human beings and their productivity. Livestock Production Science, Amsterdam, v. 8, p.67–74, 1981. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. Human-livestock interactions: the stockperson and the productivity and welfare of intensively farmed animals. London: CAB International, 1998. p.91-106. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J. Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively Farmed Animals, 2nd ed. Wallingford:CAB International, 2011. p. 84-152. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L. Improving the attitude and behaviour of stockpersons towards pigs and the consequences on the behaviour and reproductive performance of commercial pigs. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v.39, p.349-362, 1994. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L.; BORG, S. Relationships between human-animal interactions and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal Science, Champaign, v.78, p.2821-2831, 2000. HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.J.; BARNETT, J.L.; BORG, S.; DOWLING, S. The effects of cognitive behavioral intervention on the attitude and behavior of stockpersons and the behavior and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal Science, Champaign, v.80, p.68-78, 2002. HONORATO, L.A.; HÖTZEL, M.J.; GOMES, C.C.M.; SILVEIRA, I.D.B.; FILHO, C.P.M. Particularities of the human-animal interactions relevant to the welfare and productivity of dairy cows. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n.2, p. 332-339, 2012.
119
JANSEN, J.; VAN DEN BORNE, BH, RENES, RJ; VAN SCHAIK, G; LAM, TJ; LEEUWIS, C. Explaining mastitis incidence in Dutch dairy farming: the influence of farmers' attitudes and behaviour. Preventive Veterinary Medicine, Amsterdam, v. 92, n.3, p. 210-223, 2009. MAGALHÃES SILVA, L.C.; MADUREIRA, A.P.; PARANHOS DA COSTA, M.J.R. Mais carinho no manejo de bezerros leiteiros: uma experiência bem sucedida. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44., 2007, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal, 2007. PANAMÁ-ARIAS, J.L; SPINKA, M. Associations of stockperson’s personalities and atitudes with performance of daity cattle herds. Czech Journal of Animal Science, República Theca, v. 50, n.5, p.226-234, 2005. PARKER, M.; RODGERS, J; LUDTKE, C. KOLESAR, R. Abate Humanitário de Bovinos (Steps. Melhorando o Bem-estar Animal no Abate). [s.1.]: WSPA – Sociedade Mundial de Proteção Animal, 2009. 1 DVD. ROSA, M.S.; PARANHOS DA COSTA, M.J.R. Interações entre retireiros e vacas leiteiras no momento da ordenha. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ETOLOGIA,19, 2001, Juiz de Fora - MG Anais... 2001, v. 01, n. 01, p. 217. RUIS, M.; COLEMAN, G.J.; WAIBLINGER, S.; WINSCHNURER, I.; BOIVIN, X. A multimedia-based cognitive behavioural intervention program improves attitudes and handling behaviours of stockpeople in livestock farming. In: BRITISH SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE AND AGRICULTURAL RESEARCH FORUM, 2010. Cambridge. Proceedings.. Cambridge:Cambridge University Press, UK, 2010. p. 175. SANT'ANNA, A.C.; PARANHOS DA COSTA, M.J.R. A noção de ordenhadores sobre suas interações com as vacas leiteiras. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44, 2007, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal, 2007. WAIBLINGER, S.; MENKE, C.; COLEMAN, G. The relationship between attitudes, personal characteristics and behaviour of stockpeople and subsequent behaviour and production of dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 79, p. 195-219, 2002.
WELFARE QUALITY® Welfare Quality assessment protocol for cattle. Welfare
Quality Consortium, Lelystad Netherlands, 2009. p. 60-111.
121
4 CONCLUSÕES FINAIS
De acordo com os resultados apresentados nesta pesquisa, concluiu-se que:
O treinamento teve efeito positivo sobre o bem-estar de animais em
ambos os grupos e sobre o bem-estar de trabalhadores, entretanto o mesmo
não aconteceu para o bem-estar de proprietários;
Fazendas classificadas em nível bom de BEA tiveram melhor
pontuação para BEH, e fazendas classificadas em nível aceitável de BEA
tiveram menor pontuação para BEH. Dessa maneira, quanto maior o nível de
BEH, maior o nível de BEA encontrado nas fazendas avaliadas;
O treinamento influenciou no comportamento e nos conhecimentos
técnicos dos manejadores (proprietários e trabalhadores);
O treinamento reduziu o medo das vacas em relação aos humanos,
evidenciando a importância do mesmo sobre o comportamento animal;
Em relação às atitudes, o efeito do treinamento foi positivo nas atitudes
dos trabalhadores, mas o mesmo resultado não foi apresentado pelos
proprietários.
123
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em todo o mundo, a preocupação da sociedade está impulsionando
mudanças importantes no bem-estar dos animais. Dentro da porteira, preocupações
com o manejo e alojamento são os principais pontos de atenção para a sociedade e,
consequentemente, para o setor corporativo. Entretanto, cada vez mais, outros
fatores do bem-estar animal (BEA) vêm sendo considerados por uma sociedade
mais informada sobre os produtos que adquire.
Apesar de o apelo para a produção animal mais ética ser voltado quase que
integralmente para os animais, outros são os atores que devem ser levados em
consideração nesse cenário: os humanos. Está claro que o fator humano é essencial
à implementação de uma cultura mais pacífica dentro das fazendas, ou seja, quando
a relação humano-animal, em grande parte ou integralmente, é positiva, o manejo é
mais fácil e positivo, e consequentemente animais e humanos são beneficiados.
É evidente a importância de fornecer oportunidades para que trabalhadores
se sintam felizes e satisfeitos no ambiente de trabalho. Apesar de essa não parecer
ser uma prioridade no setor, para que se tenha sucesso na implantação de
programas de BEA, é essencial que o bem-estar humano (BEH) seja considerado.
Nesse mesmo sentido, é necessário que as empresas rurais, considerando
suas particularidades, invistam em programas de gestão de recursos humanos
baseados na seleção e no treinamento, de forma similar ao que acontece no meio
urbano. A carência da discussão sobre esse tema no meio da produção animal
aponta que é necessário trabalhar em conjunto com especialistas em recursos
humanos e desenvolver treinamentos que se adequem à realidade da produção
animal, levando em consideração o bem-estar dos humanos envolvidos.
No Brasil, assim como em outras partes do mundo, o tema é pouco discutido.
Dessa maneira, acredita-se que esta pesquisa é apenas o primeiro passo – uma vez
que apresenta limitações no número de fazendas visitadas para uma discussão mais
profunda e conclusões mais completas – para que mais atenção seja dada ao BEH
no cenário da produção animal, sendo esse aspecto fundamental na implementação
de programas de BEA de sucesso. Em outras palavras, quando se pensa em BEA,
deve-se inicialmente pensar no bem-estar dos trabalhadores; BEA e BEH devem
caminhar juntos no mesmo sistema de gestão do agronegócio.
127
ANEXO A
Metodologia adaptada do Welfare Quality® para avaliação de bem-estar de vacas leiteiras em sistema em pasto (WELFARE QUALITY®, 2009 adaptado por GARCIA, 2013)
1. Princípio Boa Alimentação
1.1 Ausência de fome prolongada
Medida Escore da condição corporal
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra
De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método
Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se mantidas com vacas em lactação.
As vacas não devem ser tocadas, mas somente observadas. Observam-se quatro regiões corporais do animal. Cada animal é pontuado (escore da condição corporal) em relação aos quatro indicadores.
Descritores para os indicadores em vacas leiteiras:
Região corporal Muito magra Muito gorda
1. Cavidade em
torno do alto da cauda
Profunda cavidade em torno do alto da
cauda
Cavidade do alto da cauda cheia e dobras
de tecido adiposo presente
2. Lombo Depressão profunda entre espinha dorsal e ossos do quadril
Abaulado entre espinha dorsal e ossos do quadril
3. Vértebra Extremidades dos
processos transversos afiadas
Processos transversos não
perceptíveis
4. Alto da cauda, ossos do quadril, espinha e costelas
Proeminentes
Esboço de manchas de gordura visíveis
sob a pele
Nível individual (Escore da Condição Corporal):
1- condição corporal regular 2- muito magra: indicadores de ‘muito magra’ presentes em, pelo menos, 3
regiões do corpo 3- muito gorda: indicadores de ‘muito gorda’ presentes em, pelo menos, 3 regiões
do corpo
Classificação Nível do rebanho:
porcentagem de vacas muito magras (escore 1)
Informação adicional
Até agora, para os cálculos de escores, somente animais muito magros são considerados nos cálculos. No entanto, para informação de fins consultivos sobre animais muito gordos (risco de distúrbios metabólicos e dificuldades de parto etc.)
este pode ser útil.
1.2 Ausência de sede prolongada
128
Medida Fornecimento de água
Escopo Medida com base nos recursos: bebedouros
Descrição do método O fornecimento direto de água, para as vacas, de fontes naturais (lagos, açudes e rios) não é avaliado. Os bebedouros avaliados são aqueles localizados dentro ou próximos da área de pastagem, com acesso livre, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita.
Registrar o número de animais e o número de bebedouros disponíveis para cada lote de animais (se houver, separação em grupos), dentro ou próximos de cada área/piquete na qual estão mantidos. Medir o comprimento e a altura dos bebedouros.
Classificação Nível de grupo: Número de animais Número de bebedouros
Comprimento e altura do(s) bebedouro(s) em cm.
Medida Limpeza dos bebedouros
Escopo Medida com base nos recursos: bebedouros
Descrição do método Os bebedouros avaliados são aqueles localizados dentro ou próximos da área de pastagem, com acesso livre, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita.
Verificar a limpeza dos bebedouros com relação à presença de sujeira velha ou nova na parte interna do bebedouro tal como a coloração da água. O bebedouro é considerado limpo quando não há evidência de crostas de sujeira (exemplo, fezes, lama) e/ou resíduos de alimentos deteriorados. Note que certa quantidade de comida fresca é aceitável.
Classificação Nível de grupo: – Limpo: todos os bebedouros e água estão limpos, no momento da inspeção
1 – Parcialmente limpo: bebedouros sujos, mas água fresca e limpa no
momento da inspeção ou apenas parte dos bebedouros limpos e contendo água limpa, no momento da inspeção. 2 – Sujo: todos os bebedouros e água estão sujos,no momento da
inspeção.
Medida Funcionamento dos bebedouros
Escopo Medida com base nos recursos: bebedouros
Descrição do método Os bebedouros avaliados são aqueles localizados dentro ou próximos da área de pastagem, com acesso livre, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita.
Verificar se os bebedouros estão funcionando corretamente, por exemplo, se alavancas estão se movendo e se a água flui quando estas são movidas.
Classificação Nível de grupo:
SIM – os bebedouros estão funcionando corretamente
NÃO – os bebedouros estão em mau funcionamento.
Medida Fluxo de água
Escopo Medida com base nos recursos: bebedouros
129
Descrição do método Os bebedouros avaliados são aqueles localizados dentro ou próximos da área de pastagem, com acesso livre, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita.
Verificar a quantidade de água que sai do bebedouro por minuto. Para ser suficiente, o fluxo de água deve ser de, pelo menos, 20 L/minuto por bebedouro.
Nível de cada bebedouro:
Quantidade de água em L/min por bebedouro. Classificação Nível de grupo:
Comprimento de bebedouro com suficiente fluxo de água
2. Princípio Boa Instalação
2.1 Conforto na área de descanso
Medida Limpeza dos úberes, flanco/parte superior e inferior das pernas
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Os bebedouros avaliados são aqueles localizados dentro ou próximos da área de pastagem, com acesso livre, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita. Pode haver dois tipos de sujeiras sobre as partes do corpo avaliadas:
Respingos (por exemplo, fezes, lama)
Placas: camadas tridimensionais de sujeira numa quantidade do tamanho de uma palma da mão ou maior do que metade da área considerada
Avaliar um lado do corpo (seleção do lado aleatória) e por trás. As seguintes áreas são pontuadas:
1. Parte inferior das pernas traseiras (incluindo o jarrete) 2. Quartos traseiros – parte superior das pernas traseiras, flanco e
traseiro incluindo cauda (excluindo os úberes) 3. úbere
Nível individual: Inferior das pernas traseiras:
sem sujeira ou pequenos respingos separadas ou contínuas placas de sujeira
Quartos traseiros e flanco: 0 – sem sujeira ou pequenos respingos 2– separadas ou contínuas placas de sujeira Úbere: 0 – Sem sujeira ou pequenos respingos, com exceção dos tetos 2 – placas distintas de sujeira no úbere ou alguma sujeira sobre ou em torno
dos tetos
Classificação Nível de rebanho: Inferior das pernas traseiras: porcentagem de animais com pernas traseiras
sujas (escore 2) Quartos traseiros: porcentagem de animais com quartos traseiros sujos
(escore 2) Úbere: porcentagem de animais com úbere sujo (escore 2)
2.2 Conforto térmico
Medida Provisão de sombreamento
130
Escopo Medida com base nos recursos
Descrição do método O sombreamento artificial ou natural avaliados é aquele localizado dentro ou próximo da área de pastagem, com livre acesso, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita.
Verificar a presença de sombreamento disponível às vacas.
Registrar o número de animais e as áreas de sombra disponíveis para cada lote de animais (se houver separação em grupos), dentro ou próximos de cada área/piquete a que os animais têm acesso a qualquer momento.
Classificação Nível de grupo: Número de animais Número de áreas distintas disponíveis em cada lote Áreas de sombreamento em metros
Pé-direito das estruturas artificiais
Medida Qualidade do sombreamento
Escopo Medida com base nos recursos
Descrição do método O sombreamento artificial ou natural avaliado é aquele localizado dentro ou próximo da área de pastagem, com livre acesso, na qual as vacas em lactação estão mantidas, no momento da visita.
Verificar as áreas de sombreamento com relação à qualidade de sombra proporcionada aos animais O sombreamento é considerado adequado quando provém de sombreamento natural e artificial, no caso de estruturas fechadas (ex., telha francesa, fibrocimento, galvanizada etc.). N o caso de tela de polipropileno, uma tela com fator de proteção >50% é considerada adequada, <50% é considerada inadequada.
Classificação Nível de grupo: 0 – adequada: sombreamento referente à sombra natural e sombra artificial
fechada – inadequada: sombreamento referente à sombra artificial de tela de
polipropileno com fator de proteção contra radiação solar < 50%
Observação em relação à metodologia de avaliação do critério conforto térmico (GARCIA, 2013): De acordo com o WQ (2009), quando todas as medidas utilizadas para verificar um critério são em nível de propriedade (avaliação dos recursos disponibilizados aos animais) e expressas em um número limitado de categorias, uma árvore de decisão é produzida. Os dados produzidos pelas medidas são interpretados e sintetizados para produzir uma pontuação para o critério conforto térmico (C4) que reflete a conformidade da propriedade para este critério. Esta conformidade é expressa em uma escala que varia de 0 a 100 (0 – pior situação e 100 - a melhor situação). Desse modo, este trabalho optou por adotar o método da árvore de decisão para classificar a propriedade em relação ao conforto térmico (C4). Então, a pontuação para o Conforto Térmico será atribuída de acordo com a presença de sombreamento e suas características, nas áreas de pastagens. Para cada grupo de animais, três aspectos foram considerados: 1. Área de sombreamento por animal; 2. Fator de proteção contra radiação solar; 3. Se há pelo menos duas estruturas de sombreamento artificial ou áreas de sombreamento natural para cada animal, ou uma área maior do que 5,6 m² por animal.
Então, a pontuação do critério Conforto Térmico é atribuída ao grupo de vacas lactantes de acordo com as respostas para essas quatro questões (Figura abaixo).
131
Área de
sombreamento
adequada
No caso de estruturas artificiais de sombreamento, somente será computada para a
pontuação do C4 a estrutura que apresentar como altura mínima de pé-direito o valor de 3,5 m. Então, uma área de 4,2 m² por animal está adequada, enquanto uma área de 3 m² por animal está parcialmente adequada.
O sombreamento foi considerado de boa qualidade quando este apresentou um fator de proteção de, no mínimo, 50% contra radiação solar. O fator de proteção do sombreamento natural e das estruturas de sombreamento artificial com material fechado (por exemplo, telha francesa, galvanizada, fibrocimento) foi considerado como maior do que 50% de proteção contra radiação solar.
Considerou-se que os três aspectos – área, qualidade e acessibilidade de sombreamento – possuem a mesma importância dentro dos conceitos do bem-estar animal, e consequentemente o mesmo valor nos cálculos. Desse modo, a pontuação final foi estabelecida com 33 pontos para cada sim quando há uma área mínima de 4,2 m² por animal, e 20 pontos para cada sim quando há uma área mínima de 3 m².
Em seguida, a pontuação atribuída à propriedade leiteira é igual à pior pontuação obtida ao nível do grupo, sob a condição que este represente pelo menos 15% dos animais observados.
2.3 Facilidade de circulação
Medida Acesso ao pasto
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método Esta medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
O gerente é questionado sobre o manejo dos animais na fazenda no que diz respeito ao acesso ao pasto e também às respectivas condições em termos de dias por ano e média de tempo gasto no pasto por dia.
Classificação Nível de rebanho: Número de dias no pasto por ano
Número de horas no pasto por dia
3. Princípio Boa Saúde
3.1 Ausência de Injúrias
Medida Claudicação
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a do Anexo C
132
Descrição do método Esta medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
A claudicação descreve uma anormalidade de movimento e é mais evidente quando as pernas estão em movimento. É causada por uma redução da capacidade de usar um ou mais membros de um modo normal. A claudicação pode variar em gravidade, desde habilidade diminuída até reduzida capacidade para suportar o peso. Indicadores de claudicação são:
Passos irregulares
Ritmo temporal irregular entre as batidas do casco
Peso não suportado por tempo igual em cada um dos quatro pés
Os atributos de marcha são levados em conta:
Tempo dos passos
Ritmo temporal
Suporte de peso sobre os pés
Para avaliar o escore da marcha do animal, todos os animais devem estar andando em linha reta. Os avaliadores devem observar por trás e pelo lado. Animais não devem ser avaliados quando eles estão se virando.
Nível individual: – sem claudicação: tempo dos passos e distribuição do peso igualmente
sobre todos os 4 pés. – claudicação moderada: ritmo temporal imperfeito no tranco criando uma
mancação. –claudicação severa: forte relutância em suportar peso sobre um membro,
ou mais do que um membro afetado. Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais sem claudicação (escore 0) Porcentagem de animais com claudicação moderada (escore 1)
Porcentagem de animais com claudicação severa (escore 2)
Medida Alteração do tegumento
Escopo Medida com base nos animais: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Esta medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Alterações no tegumento são definidas como manchas sem pelos, lesões e inchaços. Somente alterações da pele com um diâmetro mínimo de 2 cm de extensão são contadas. Adicionalmente, alterações na pele em termos de manchas sem pelos e lesões/inchaços são contadas em acordo com os critérios abaixo:
Manchas sem pelo:
Área com pelo perdido
133
Pele não danificada
Desbaste intenso da pelagem devido a parasitas
Hiperqueratose Lesões/inchaços:
Pele danificada seja na forma de uma crosta ou uma ferida
Dermatite devido a ectoparasitas
Tetos total ou parcialmente ausentes
Lesões na orelha devido a marcas auriculares arrancadas
Marcação com ferro quente
A uma distância não superior a 2 m, cinco regiões do corpo de um lado do animal são examinadas com os devidos critérios listados abaixo.
Essas regiões do corpo são verificadas a partir da traseira para frente, excluindo o lado inferior da barriga e a parte interna das pernas, mas incluindo a parte interna da perna traseira oposta, bem como o úbere com os tetos. Uma seleção aleatória do lado (esquerdo ou direito) tem de ser assegurada. Para evitar resultados tendenciosos, o lado deve ser escolhido antes do exame. Na maioria dos casos, o lado que é visto primeiro quando o animal se aproxima pode ser escolhido. No caso de mais do que 20 alterações por região, somente “>20” é anotado. O valor “>20” é também anotado se a área afetada é pelo menos tão grande quanto o tamanho da mão. Se existem diferentes categorias de alterações na mesma região (por exemplo, inchaço e lesões em uma junta da perna) ou adjacente uns aos outros (por exemplo, mancha sem pelos com uma lesão em seu centro) todas estas alterações são contadas.
Nível individual: Número de manchas sem pelo Número de lesões/inchaços
Classificação Nível de rebanho: Porcentagem de animais sem alterações no tegumento (ausência de manchas sem pelo, ausência de lesões/inchaços) Porcentagem de animais com suaves alterações no tegumento (pelo menos uma mancha sem pelo, ausência de lesão/inchaço) Porcentagem de animais com severas alterações do tegumento (pelo
menos uma lesão/inchaço)
134
3.2 Ausência de doença
Medida Tosse
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Descrição do método Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Tosse é definida como uma explosão súbita e ruidosa de ar dos pulmões. É registrada usando amostra de comportamento contínuo.
Observações realizadas em lotes de vacas lactantes. O tempo total de observação é de 60 minutos. Duração mínima de observação por lote é 10 minutos, no caso de haver 6 lotes de animais.
Classificação Nível de rebanho:
Número médio de tosse por animal e por 15 minutos.
Medida Corrimento nasal
Escopo Medida com base: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Esta medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Corrimento nasal é definido como fluído claramente visível das narinas; transparente a amarelo/verde e frequentemente de espessa consistência. O animal é observado, mas não deve ser tocado. Animais são pontuados com respeito aos critérios de escorrimento nasal.
Nível individual:
0 – sem evidência de corrimento nasal 2 – evidência de corrimento nasal
Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais com corrimento nasal (escore 2)
Medida Corrimento ocular
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Esta medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Corrimento ocular é definido como fluído claramente visível (molhado ou seco) dos olhos; com pelo menos 3 cm de comprimento. O animal é observado, mas não deve ser tocado. Animais são pontuados com respeito aos critérios de corrimento ocular.
Nível individual:
0 – sem evidência de corrimento ocular 2 – evidência de corrimento ocular
Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais com corrimento ocular (escore 2)
Medida Respiração dificultada
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
135
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Taxa de respiração dificultada é definida como profunda e trabalhosa ou claramente dificuldade de respiração. A expiração é suportada pelos músculos do tronco, a maioria acompanhada por um som pronunciado. A taxa de respiração pode estar ligeiramente aumentado. O animal é observado, mas não deve ser tocado. Animais são pontuados com respeito aos critérios de dificuldade respiratória.
Nível individual:
0 – sem evidência de dificuldade respiratória 2 – evidência de dificuldade respiratória
Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais com respiração dificultada (escore 2).
Medida Diarreia
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Diarreia é definida como estrume aquoso abaixo da cauda em ambos os lados, em área afetada pelo menos do tamanho da mão. O animal é observado, mas não deve ser tocado. Animais são pontuados com respeito aos critérios de diarreia.
Nível individual:
0 – sem evidência de diarreia 1 – evidência de diarreia
Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais com diarreia (escore 2)
Medida Corrimento vulvar
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
Descrição do método Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Corrimento vulvar é definido como efluente purulenta da vulva ou placas de pus na parte inferior da cauda (muco viscoso em animais no final da gravidez). O animal é observado, mas não é tocado. Animais são pontuados com respeito aos critérios de corrimento vulvar.
Nível Individual:
0 – sem evidência de corrimento vulvar 2 – evidência de corrimento vulvar
Classificação Nível de rebanho: Porcentagem de animais com corrimento vulvar
Medida Contagem de células somáticas do leite
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
136
Descrição do método Dados da contagem de células somáticas do leite podem ser obtidos pelos registros do leite. O avaliador deverá considerar a quantidade de células somáticas (cel/ml de leite) registrada na análise da amostra individual das vacas, nos últimos três meses.
Classificação Nível de rebanho:
% de vacas com CCS maior do que 400.000 cel/Ml de leite
Medida Mortalidade
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método Mortalidade é definida tanto como a morte ‘sem controle’ de animais quanto como casos de eutanásia e abate de emergência.
O gerente é questionado sobre o número de vacas leiteiras que morreram em sua fazenda, foram eutanasiadas devido a doenças ou acidentes ou foram abatidas emergencialmente, nos últimos 12 meses. Adicionalmente o número médio de vacas leiteiras na unidade animal é perguntado. Registros da fazenda devem ser consultados.
Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais mortos, eutanasiados e abatidos emergencialmente na fazenda nos últimos 12 meses.
Medida Distocia
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método Distocia é definida como o número de partos onde uma importante assistência foi requerida.
O gerente é questionado sobre o número de casos de distocia na fazenda nos últimos 12 meses. O número médio de partos (em uma base anual) é também registrado. Registros da fazenda devem ser consultados.
Classificação Nível de rebanho: Porcentagem de distocia, nos últimos 12 meses
Medida Sindrome da vaca deitada
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método Incidência de síndrome da vaca deitada é definida como o número de casos de vacas sem capacidade de caminhar.
O gerente é questionado sobre o número de vacas com a síndrome nos últimos 12 meses. O número médio de vacas leiteiras (em uma base anual) é também registrado. Registros da fazenda devem ser consultados.
Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de síndrome da vaca deitada nos últimos 12 meses
Medida Carrapato
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
137
Descrição do método Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Avaliar um lado do corpo (seleção aleatória) e por trás do animal. O número de fêmeas do carrapato maiores de 4,5 mm no corpo do animal é registrado. O valor encontrado é multiplicado por 2 (considerando que os carrapatos se distribuem do mesmo modo em ambos os lados). Para calcular a intensidade de infestação, o número total de carrapatos é dividido pelo número de vacas examinadas.
Nível individual:
Número de carrapato fêmeas maiores que 4,5 mm
Classificação Nível de rebanho:
Intensidade de infestação de carrapato
3.3 Ausência de dor induzida por procedimentos de manejo
Medida Mochamento / descorna
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método O gerente é perguntado sobre as práticas de mochamento/descorna realizadas na fazenda em relação aos seguintes itens:
procedimentos usados para mochamento e descorna
uso de anestésicos
uso de analgésicos
Classificação Nível de grupo: 1- sem mochamento ou descorna 2- mochamento em bezerros usando termocauterizador (ferro quente)
2-mochamento em bezerros usando pasta cáustica
1- uso de anestésico 2- sem uso de anestésico
0-uso de analgésico
1-sem uso de analgésico
Medida Corte da cauda
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método O gerente é perguntado sobre as práticas de mutilações realizadas na fazenda em relação aos seguintes itens:
procedimentos para corte de cauda
uso de anestésicos
uso de analgésicos Classificação Nível de grupo:
Idem à medida mochamento
4. Princípio Comportamento Apropriado
4.1 Expressão de comportamentos sociais
Medida Comportamentos agonísticos
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
138
Descrição do método Essa medida aplica-se para vacas em lactação bem como para vacas secas e novilhas prenhas, se elas estão mantidas com animais em lactação.
Comportamento agonístico é definido como comportamento social relacionado com o combate e inclui comportamentos agressivos, bem como comportamentos submissos. Aqui, apenas interações agressivas são consideradas. Avaliar a ocorrência dos comportamentos listados abaixo.
Observações realizadas nos piquetes ou áreas de pastejo, após 75% dos bovinos finalizarem o consumo de alimento no cocho (se for oferecido). O tempo total de observação é de 60 minutos. Duração mínima de observação por lote é de 10 minutos, no caso de haver seis lotes de animais.
Comportamentos agonísticos são registrados usando amostragem de comportamento contínuo sempre levando em conta o animal agressor.
Parâmetros Descrição
Cabeçada Interação envolvendo contato físico quando o agressor está batendo, empurrando o receptor com a testa, chifres ou base do chifre com um movimento forte; o receptor não desiste da sua posição (ausência de deslocamento, ver definição abaixo).
Deslocamento Interação envolvendo contato físico quando o agressor está batendo, empurrando ou penetrando o receptor com a testa, chifres, base do chifre ou qualquer outra parte do corpo com um movimento forte e, como resultado, o receptor desiste de sua posição (sair por pelo menos metade de um animal de comprimento ou pisar de lado por pelo menos um animal de largura).
Penetrante é definido como um animal enfiando-se entre dois outros animais, ou entre um animal e um equipamento (por exemplo, cocho, bebedouro). Se, após um animal se deslocar, o animal que está do lado também deixar seu local. Entretanto, se o contato físico, como descrito acima, não ocorrer, essa reação não é registrada como deslocamento.
Perseguição O agressor faz um animal fugir, seguindo-o rapidamente, e por vezes também utilizando ameaças como os movimentos da cabeça ‘jerky’.
Perseguição só é registrada se antes ocorrer uma interação com contato físico. Se, no entanto, a perseguição ocorre no contexto de combate, esta perseguição é registrada como combate.
Combate Dois competidores vigorosamente empurrando a cabeça (testa, base do chifre e/ou chifres) um contra o outro ao plantar os pés no chão na ‘posição sawbuck’ (ambos exercendo força um contra o outro).
Movimentos de empurrar pelo lado não são contabilizados como “cabeçada” quando esses movimentos fazem parte da sequência de luta.
Um novo combate começa se os mesmos animais recomeçarem o combate depois de 10 segundos ou se o combate mudar de parceiros.
Perseguir para levantar
O agressor usa o contato físico forte (por exemplo, batendo, empurrando) contra um animal deitado, fazendo o receptor levantar.
139
Antes de começar e depois de terminar a observação do comportamento em um segmento, o número de animais presentes no segmento é registrado.
Nível de grupo: Número de animais por lotes Número de cabeçadas por período de observação Número de deslocamento (ações de deslocamento, perseguição, combate e perseguir para levantar) por período de observação Duração de observação
Classificação Nível de rebanho: Média do número de cabeçadas por animal por hora Média do número de deslocamento por animal por hora
Informação adicional
Número de pontos de observação e duração de observação por segmento:
Nº lote (piquete)
Duração de observações (min)
Repetição das observações
Tempo total (min)
1 60 Não 60
2 30 Não 60
3 20 Não 60
4 15 Não 60
5 12 Não 60
6 10 Não 60
4.2 Expressão de outros comportamentos
Medida Acesso ao pasto
Escopo Medida com base no gerenciamento: Questionário
Descrição do método Verifique a disponibilidade de acesso das vacas ao pasto.
O gerente da unidade animal é questionado sobre o gerenciamento do pasto (dias por ano, tempo médio gasto no pasto por dia).
Classificação Nível de rebanho: Número de dias com acessos ao pasto por ano
Número de horas por dia no pasto
4.3 Boa relação humano-animal
Medida Distância de esquiva
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
Tamanho da amostra De acordo com a tabela do Anexo C
140
Descrição do método Coloque-se a uma distância de 2 metros na frente do animal. Certifique- se que o animal está atento ou tomando conhecimento da sua presença.
A abordagem deve ser realizada a uma velocidade de um passo por segundo e um comprimento de passo de aproximadamente 60 centímetros com o braço em ângulo de aproximadamente 45º do corpo. Ao aproximar- se, dirigir o dorso da mão em direção ao focinho do animal. Não olhe nos olhos do animal, mas olhe para o focinho. Continue a caminhar em direção ao animal, até perceber os sinais de retirada do animal ou até tocar o focinho.
Definição de retirada é quando o animal se move para trás, vira a cabeça para o lado, ou puxa para trás a cabeça tentando se esquivar do observador; balançar a cabeça também pode ser observado. No caso de retirada, a distância de esquiva é estimada (= distância entre a mão e o focinho no momento da retirada) com uma resolução de 10 centímetros (200 cm a 10 cm possível). Se a retirada acontece a uma distância inferior a 10 cm, o resultado do teste ainda é 10 cm. Se o avaliador tocar o focinho, uma distância esquiva de 0 cm é registrada. Certifique-se de que a mão está sempre mais próxima do animal durante a abordagem (não o joelho ou o pé). Quando se aproximar de animais que estão se alimentando ou têm suas cabeças em uma posição baixa, dobre um pouco a fim de tentar tocá-los. Animais vizinhos que reagem a um animal que está sendo testado devem ser testados mais tarde. Faça o teste novamente em outro momento se a reação não foi clara.
Nível individual:
Distância em cm (200-0 cm, com resolução de 10 cm) Classificação Nível de rebanho:
Porcentagem de animais que podem ser tocados Porcentagem de animais que permitem aproximação menor que 50 cm, mas não deixa tocá-los Porcentagem de animais que permitem aproximação entre 100 e 50 cm.
Porcentagem de animais que não permitem aproximação menor que 100 cm
4.4 Estado emocional positivo
Medida Avaliação de comportamento qualitativo
Escopo Medida com base no animal: Vacas leiteiras
141
Descrição do método
A avaliação do Comportamento Qualitativo (ACQ) considera a qualidade expressiva de como os animais se comportam e interagem uns com os outros e com o ambiente, ou seja, sua “linguagem corporal”.
Essa observação poderá ser realizada juntamente com a Avaliação Comportamental e Tosse. Quando a observação for concluída e a “Avaliação Comportamental e Tosse” for finalizada, o avaliador deve encontrar um local tranquilo e marcar os 20 descritores utilizando a escala visual analógica (EVA). Note que a pontuação não é realizada durante a observação, e que apenas uma avaliação integradora é realizada por fazenda. Cada EVA é definida pela sua esquerda ‘mínimo’ e à direita ‘máximo’ ponto. “Mínimo” significa que neste ponto a qualidade expressiva indicada pelos termos está totalmente ausente em qualquer um dos animais observados. ‘Máximo’ significa que neste ponto este termo é dominante em todos os animais observados. Para marcar cada termo, desenhe uma linha ao longo da escala de 125 mm no ponto apropriado. A medida para esse termo é a distância em milímetros do ponto mínimo para o ponto onde a linha cruza a escala. Não pule nenhum termo. Cuidado quando marcar os termos que apresentarem valores negativos, tal como inseguro ou desconfortável. No ponto máximo, o significado da pontuação fica mais negativa, não mais positiva.
Os termos usados para o grupo de vacas leiteiras são:
ativo frustado irritado
relaxado amigável inquieto
apreensivo chateado sociável
agitado brincalhão apático
calmo positivamente ocupado feliz
contente animado estressado
indiferente inquisitivo Classificação Nível de rebanho:
Escala contínua para todos os parâmetros de linguagem corporal do mínimo ao máximo.
142
ANEXO B
QUESTIONÁRIO DE GERENCIAMENTO
Vacas secas são mantidas juntas com vacas em lactação? ( ) SIM ( ) NÃO Novilhas prenhas são mantidas juntas com vacas em lactação? ( ) SIM ( ) NÃO
Número (no momento da visita): vacas em lactação = vacas secas = novilhas =
Acesso ao pasto
Quanto tempo em média os animais têm acesso para pastar? .................. dias/ ano ; ................... Horas/dia
CCS - Contagem de Célula Somática – amostra do tanque (últimos 3 meses) ........................... cels/ml de leite
Distocia
Número médio de partos (últimos 12 meses) =
Número de vacas leiteiras que sofreram de distocia (últimos 12 meses) =
Síndrome da vaca deitada
Número de vacas leiteiras ou novilhas (se mantidas com vacas leiteiras) diagnosticadas com esta síndrome (últimos 12 meses) =
Taxa de mortalidade
Número de vacas leiteiras ou novilhas (se mantidas com vacas leiteiras) que morreram ou foram eutanasiadas devido a doenças ou acidentes (últimos 12 meses) =
Número total de vacas leiteiras e novilhas (se mantidas com vacas leiteiras) nos últimos 12 meses =
143
Descorna
Quantos animais são descornados? ......................% Os animais foram descornados na fazenda? ( ) Sim ( ) Não
Se SIM: Mochamento (bezerros) Idade: ...............semanas Método: ( ) Temocauterização ( ) Pasta cáustica Analgésicos: ( ) Sim ( ) Não
Descorna (animal mais velho) Idade: ................semanas/meses Analgésicos: ( ) Sim ( ) Não
Se NÃO: Você sabe como eles foram descornados? ( ) Sim ( ) Não Se SIM: Mochamento (bezerros) Idade: ...............semanas Método:( ) Temocauterização( ) Pasta cáustica Analgésicos: ( ) Sim ( ) Não
Descorna (animal mais velho) Idade: ...............semanas/meses Analgésicos: ( ) Sim ( ) Não
Corte de cauda Quantos animais têm a cauda cortada? ..................% Os animais foram amputados na fazenda? ( ) Sim ( ) Não
Se SIM: Idade: ................semanas/meses Método: ( ) anel rubber ( ) cirurgia Analgésicos: ( ) Sim ( ) Não
Se NÃO: Você sabe como eles foram amputados? ( ) Sim ( ) Não SE SIM Idade: ..................semanas/meses Método: ( ) anel rubber ( ) cirurgia Analgésicos: ( ) Sim ( ) Não
Produção anual: ......................
Produção diária: .........................
144
ANEXO C
Número de vacas a serem avaliadas individualmente de acordo com o número de vacas em lactação
Número de vacas em lactação
Número de vacas para avaliação (sugestão A)
Caso A não seja viável
30 30 30
40 30 30
50 33 30
60 37 32
70 41 35
80 44 37
90 47 39
100 49 40
110 52 42
120 54 43
130 55 45
140 57 46
150 59 47
160 60 48
170 62 48
180 63 49
190 64 50
200 65 51
210 66 51
220 67 52
230 68 52
240 69 53
Fonte: Welfare Quality® (2009)
145
ANEXO D
Observação: Houve mudança no título a critério de deixá-lo mais compatível com a pesquisa que se desenvolveu, essa mudança foi avisada à Comissão de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos.
146
ANEXO E
Avaliação de bem-estar humano (GOUVEIA et al., 2008), com adição de escala visual (BORGES; PINHEIRO, 2002)
INSTRUÇÕES. Abaixo estão afirmações que mostram os diferentes afetos que o trabalho pode fazer a pessoa sentir. Por favor, leia com atenção as frases abaixo e indique quanto o seu trabalho tem feito você se sentir nos últimos 30 dias para cada um dos afetos abaixo. Pedimos que, para cada afeto, marque um “X” embaixo do desenho que mais estiver de acordo com a sua resposta, de acordo com a seguinte escala de resposta:
Nunca Pouco Às vezes Muitas vezes Sempre
1. Meu trabalho me faz sentir TRANQUILO
2. Meu trabalho me faz sentir ALEGRE
3. Meu trabalho me faz sentir CALMO
4. Meu trabalho me faz sentir CONTENTE
5. Meu trabalho me faz sentir ORGULHO DO QUE FAÇO
147
6. Meu trabalho me faz sentir COM ENERGIA
7. Meu trabalho me faz sentir ANIMADO
8. Meu trabalho me faz sentir EMPOLGADO
9. Meu trabalho me faz sentir ENTUSIASMADO
10. Meu trabalho me faz sentir FELIZ
11. Meu trabalho me faz sentir INSPIRADO
148
12. Meu trabalho me faz sentir AGRADECIDO
13. Meu trabalho me faz sentir HONRADO
14. Meu trabalho me faz sentir SATISFEITO
15. Meu trabalho me faz sentir À VONTADE
Nesse momento, há uma inversão dos desenhos, pois representam aspectos negativos que uma pessoa pode sentir no trabalho.
Nunca Pouco Às vezes Muitas vezes Sempre
16. Meu trabalho me faz sentir COM RAIVA
149
17. Meu trabalho me faz sentir CHATEADO
18. Meu trabalho me faz sentir ANSIOSO
19. Meu trabalho me faz sentir INCOMODADO
20. Meu trabalho me faz sentir CONFUSO
21. Meu trabalho me faz sentir DEPRESSIVO
22. Meu trabalho me faz sentir DESGOSTOSO
23. Meu trabalho me faz sentir DESENCORAJADO
150
24. Meu trabalho me faz sentir ASSUSTADO
25. Meu trabalho me faz sentir MALSUCEDIDO
26. Meu trabalho me faz sentir FURIOSO
27. Meu trabalho me faz sentir TRISTE
28. Meu trabalho me faz sentir CANSADO
29. Meu trabalho me faz sentir TÍMIDO
30. Meu trabalho me faz sentir MISERÁVEL
152
ANEXO F
1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1.1 Título da pesquisa: Bem-estar humano e sua influência no bem-estar de
vacas leiteiras
1.2 Justificativa para a realização da pesquisa: Existem poucas
pesquisas na área de bem-estar humano no meio urbano, e no meio rural são
raros os trabalhos que se preocupam com os aspectos que abordam o bem-estar
humano. Muito possivelmente, ter essas respostas será algo inédito no Brasil, e
poderá ser o primeiro passo para que os trabalhadores comecem a ser
reconhecidos como peça fundamental no alcance de melhores níveis de bem-
estar humano e animal no cenário agropecuário.
1.3 Objetivo: Avaliar se o bem-estar humano e o treinamento têm efeito
sobre o bem-estar animal (BEA) em propriedades leiteiras.
1.4 Procedimentos: Para avaliação dos animais, será utilizado um
protocolo para que os pesquisadores possam conhecer os níveis de bem-estar
das vacas leiteiras. Para avaliar o bem-estar do trabalhador, será aplicado um
questionário com 30 afirmações sobre os sentimentos e/ou realizações que uma
pessoa pode ter no ambiente de trabalho, e as respostas deverão ser
assinaladas em escala que varia de 1 a 5. Para verificar os pensamentos dos
trabalhadores em relação às vacas, será aplicado outro questionário, com 27
afirmações, e as respostas deverão ser assinaladas em escala que varia de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Ainda serão coletados dados
funcionais (quais cargos ocupam e tempo de trabalho no setor e na empresa) e
de caracterização (sexo, idade, estado civil e grau de instrução). Para verificar o
nível de conhecimento sobre as práticas em bem-estar animal, será aplicado
(antes e depois do treinamento) um questionário de múltipla escolha. Para
verificar a percepção dos mesmos sobre as possíveis mudanças pós-
treinamento, um questionário de opinião será aplicado para todos os
trabalhadores ao final do experimento. Em nenhum momento será necessária a
identificação do trabalhador, sendo as respostas totalmente sigilosas e a
privacidade do indivíduo totalmente preservada, de modo que não possam
provocar constrangimentos ou prejuízos aos voluntários. Diante de quaisquer
dúvidas, os pesquisadores estarão à disposição para esclarecê-las antes,
durante e após a realização da pesquisa.
1.5 Observação importante: Qualquer indivíduo pode se recusar a
participar em qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer penalidade.
1.6 Forma de contato com os pesquisadores: Fernanda Victor
Rodrigues Vieira, Guilherme Amorim Franchi e Prof. Dr. Iran José Oliveira da
153
Silva; Avenida Pádua Dias, nº 11, Departamento de Engenharia de Biossistemas,
CX 09 / CEP: 13418-900, Piracicaba/SP. E-mail: [email protected],
[email protected], [email protected]. Telefones: (19) 3447-8563 ou
(19) 3447-8566.
154
ANEXO G
QUESTIONÁRIO DE ATITUDES (HEMSWORTH et al., 2002)
INSTRUÇÕES. Abaixo estão algumas afirmações sobre as vacas leiteiras. Por favor, leia com atenção as frases abaixo e indique qual a melhor resposta de acordo com o que você pensa e sente. Pedimos que, para cada afirmação, faça um “X” na resposta que mais estiver de acordo com o que você acredita.
1 2 3 4 5
Discordo totalmente Discordo Concordo em parte Concordo Concordo totalmente
1. É fácil trabalhar com vacas leiteiras
1 2 3 4 5
2. Vacas leiteiras estimulam o meu trabalho
1 2 3 4 5
3. Vacas leiteiras são amigáveis
1 2 3 4 5
4. Vacas leiteiras são barulhentas
1 2 3 4 5
5. Vacas leiteiras são malcheirosas
1 2 3 4 5
6. Vacas leiteiras são feias
1 2 3 4 5
7. Vacas leiteiras não sentem dor
1 2 3 4 5
8. Vacas leiteiras são agradáveis
1 2 3 4 5
9. É prazeroso trabalhar com vacas leiteiras
1 2 3 4 5
10. Vacas leiteiras são inteligentes
1 2 3 4 5
11. Vacas leiteiras são divertidas
1 2 3 4 5
12. Pouco treinamento é necessário para trabalhar com vacas leiteiras
1 2 3 4 5
155
13. Pouca experiência é necessária para trabalhar com vacas leiteiras
1 2 3 4 5
14. Vacas leiteiras são fáceis de manejar
1 2 3 4 5
15. Pouco tempo é necessário para manejar vacas leiteiras
1 2 3 4 5
16. Vacas leiteiras são gulosas
1 2 3 4 5
17. Vacas leiteiras são agressivas
1 2 3 4 5
18. Vacas leiteiras são facilmente assustadas
1 2 3 4 5
19. Vacas leiteiras são curiosas
1 2 3 4 5
20. A reação das vacas em relação aos manejadores é positiva
1 2 3 4 5
21. A reação das vacas em relação a pessoas não familiares é positiva
1 2 3 4 5
22. Vacas leiteiras reagem positivamente a mudanças na rotina
1 2 3 4 5
23. As vacas leiteiras reagem bem à ordenha
1 2 3 4 5
24. É necessário muito esforço físico para manejar as vacas leiteiras
1 2 3 4 5
25. É necessário muito esforço verbal (falar, gritar) para manejar as vacas
leiteiras
1 2 3 4 5
26. Conversar com novilhas em lactação é importante
1 2 3 4 5
27. Conversar com vacas em lactação é importante
1 2 3 4 5
156
ANEXO H
QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO E PRÁTICAS EM BEM-ESTAR ANIMAL
O questionário foi aplicado antes e depois do treinamento para verificar o acréscimo que o treinamento propiciou ao conhecimento dos trabalhadores e proprietários. Os resultados foram apresentados em porcentagem, sendo que aqueles que acertassem as 12 questões corretamente teriam 100% de acerto. 1. A melhor definição de bem-estar animal é: a) Conforto térmico, saúde e comportamento; b) Alta produção de leite e saúde; c) Higiene e bom local para descansar; d) Somatória do ambiente, do comportamento e dos aspectos físicos dos
animais. 2. Escolha a afirmação verdadeira: a) Vacas leiteiras preferem rotinas diferentes todos os dias; b) Conhecer o comportamento das vacas é interessante, mas existem aspectos
mais importantes; c) Gritar com as vacas prejudica a produção de leite; d) Pessoas boas para lidar com as vacas são pessoas agitadas. 3. Escolha a afirmação verdadeira: a) A colocação de brincos não causa dor nos animais; b) A descorna nos animais deve ser feita até os três meses de idade; c) A remoção de tetos pode ser feita de maneira indolor sem uso de anestésico
e analgésico; d) O casqueamento deve ser feito quando a vaca apresentar algum problema. 4. Escolha a afirmação verdadeira: a) O corte de cauda, uso de argola no focinho e piques nas orelhas são manejos
necessários; b) Sempre é necessário encostar nas vacas para que elas se movam; c) O bastão elétrico auxilia na condução das vacas; d) Manejar as vacas em grupos pequenos facilita o trabalho. 5. Escolha a afirmação verdadeira: a) Vaca estressada pode reduzir a produção de leite na mesma hora; b) Colocar peso nas teteiras auxilia a retirada de leite; c) Misturar lotes na sala de espera ajuda o manejo ser mais rápido; d) É comum vacas defecarem e mugirem na sala de espera. 6. Escolha a afirmação verdadeira:
157
a) Vacas precisam de água limpa e à vontade depois da ordenha; b) O abate das vacas deve ser feito preferencialmente com um golpe forte na
cabeça; c) O piso é pouco importante no manejo das vacas leiteiras; d) As vacas se alimentam em momentos diferentes, por isso dimensionar o
cocho apenas para algumas vacas é um manejo adequado. .
7. Escolha a afirmação correta: a) Fornecer sombra no pasto é garantia de conforto térmico; b) É necessário considerar ventilação e aspersão na sala de espera para
adequado conforto térmico; c) O pedilúvio deve ser feito só quando existirem problemas de casco; d) Vacas tomam qualquer tipo de água, por isso a limpeza dos bebedouros pode
ser feita em intervalos longos. 8. Escolha a afirmação correta: a) É necessário limpar o comedouro a cada refeição; b) Fornecer qualquer tipo de pasto já garante os requerimentos nutricionais das
vacas; c) O escore de condição corporal é uma ferramenta apenas utilizada por
nutricionistas; d) Deve-se avaliar as vacas em relação à locomoção uma vez por mês. 9. Escolha a afirmação correta: a) Bovinos são animais solitários; b) Para acalmar uma vaca, deve-se isolar o animal e não permitir o contato
visual com os outros animais; c) A zona de fuga de uma vaca é caracterizada como a área de segurança
individual; d) Para manejar as vacas, a zona de fuga é um conceito pouco utilizado. 10. Escolha a afirmação correta: a) As vacas possuem visão binocular, monocular, área cega e ponto de
equilíbrio, aspectos importantes no manejo; b) As vacas enxergam em preto e branco; c) As vacas sabem diferenciar uma sombra de um buraco; d) As vacas são lerdas. 11. Escolha a afirmação correta:
a) Estereotipia é um comportamento normal nas vacas; b) Comer terra é sinal de falta de algum nutriente; c) Apenas para estudantes é importante saber sobre comportamento animal; d) Comportamentos anormais das vacas podem prejudicá-las. 12. Escolha a afirmação correta
158
a) Um ambiente de trabalho tranquilo é importante para o bem-estar do
trabalhador; b) Uma reunião por ano com os manejadores nas fazendas já é o suficiente, pois
cada um já sabe de sua função; c) A interação entre manejadores e animais influencia pouco na produção de
leite; d) O treinamento técnico visa apenas melhorar o conhecimento dos
manejadores em relação aos equipamentos de ordenha.
159
ANEXO I
Considerações gerais sobre o princípio Sanidade dos rebanhos analisados
Nas Tabelas 1 e 2, são apresentadas a incidência de claudicação e de algum
tipo de alteração no tegumento em 686 vacas no D1 e (n= 341) D3 (n= 345). Nas
outras tabelas dos resultados de avaliação dos critérios, também foram avaliadas
686 vacas.
Tabela 1. Porcentagem de claudicação em vacas de fazendas manejadas pelos
próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) no dia 1 (D1) e 3 (D3)
Critério Ausência de Injúria
Medida Claudicação (%)
D1 D3
Sem presença Moderada Severa Sem presença Moderada Severa
FP 96,5 1,4 2,1 97,2 2,1 0,7
FT 77,0 19,0 4,0 98,5 1,5 0,0
Segundo algumas pesquisas, as principais causas de claudicação
encontradas em propriedades leiteiras estão relacionadas com protocolos de
casqueamento, frequência de ordenha, nutrição e tipos de piso (BOND, 2010;
TELEZHENKO et al., 2007), sendo que Onyiro (2008) relacionou a alta incidência
de claudicação com a época do ano, além de que o uso de cascalho e pedras em
corredores de acesso, sem a compactação adequada, pode aumentar a prevalência
de problemas de casco por se tratar de uma agressão diária na sola dos bovinos.
De maneira similar, Cook et al. (2004) observaram que a laminite pode estar
associada à longa exposição dos cascos a piso úmido e com esterco, situação
comum nas fazendas analisadas, principalmente em áreas sombreadas nos pastos.
No estudo realizado por Paz (2012) em três sistemas de produção, não foi
registrado nenhum caso de claudicação severa. Vacas com acesso ao pasto
apresentaram 12,5% de claudicação moderada e vacas em sistema semi-
intensivo apresentaram 2,5%. Garcia (2013) observou 1,9% e 1,2% de
claudicação em sistemas de pasto, entretanto também observou valores acima,
representados por 7,2% das vacas com claudicação.
Pode-se observar que o valor para a medida claudicação foi maior no D1 em
relação ao D3 em ambos os grupos (Tabela 1). Para o grupo FT, apesar do
aumento no número de vacas com claudicação moderada no D3, houve
160
diminuição do número de vacas acometidas com claudicação severa. Acredita-se
que esses valores sejam explicados pelas diferentes épocas da avaliação das
vacas.
Em relação à medida de alteração de tegumento, foram observadas alterações
moderadas do corpo, com pele despigmentada, principalmente na área dorsal e
lombar, o que pode ser justificado pela fotossensibilização, pois se trata de vacas
que ficam muito tempo expostas ao sol. Pode-se observar que essas alterações,
principalmente lesões e inchaços, estavam também relacionadas à infestação por
berne. Já a presença de abscessos subcutâneos provavelmente originou-se devido
aos procedimentos de vacinação mal executados.
Observou-se maior incidência de alterações de tegumento no D1 em relação
ao D3 (Tabela 2), o que provavelmente pode ser explicado pelas diferentes
condições climáticas nos dias de avaliação das vacas, maior exposição ao sol e
maior quantidade observada de bernes (alteração severa, devido ao inchaço
provocado).
Tabela 2. Porcentagem de vacas com alguma alteração de tegumento em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) no dia 1 (D1) e 3 (D3)
Critério Ausência de Injúria
Medida Alteração de Tegumento (%)
D1 D3
Sem alteração Moderada Severa Sem alteração Moderada Severa
FP 48,9 14,9 35,5 88,1 11,2 0,7
FT 47,00 10,50 42,50 77,2 5,4 17,3
Em relação à medida ‘Ausência de doença’, foi avaliada a incidência de
sintomas nos rebanhos leiteiros, como presença de corrimento nasal, ocular e
vulvar, respiração dificultada, tosse, diarreia, CCS, síndrome da vaca deitada,
distocia, mortalidade e infestação de carrapatos (Anexo A; 3.2).
Observou-se que o resultado para a medida distocia foi um dos problemas mais
encontrados em ambos os grupos. Esse problema também foi encontrado por Garcia
(2013). Outras medidas também se encontravam no limiar de alerta e alarme em
ambos os dias e grupos (% média de síndrome da vaca deitada, % média de
mortalidade e intensidade média de carrapatos; Tabela 3).
161
Tabela 3. Valor médio de medidas utilizadas para avaliar o critério ‘Ausência de doenças’ em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT) no dia 1 (D1) e 3 (D3)
FP FT
Medidas D1 D3 D1 D3
% média das vacas com corrimento nasal 0,0 0,0 1,0 1,0 % média das vacas com corrimento ocular 0,7 0,7 3* 2,5 Frequência média de tosse por vaca por 15 minutos 0,0 0,0 2,7 1,3 % média das vacas com respiração dificultada 2,1 0,0 4,5* 0,5 % média de vacas com diarreia 0,0 0,0 5* 0,0 Média da CCS (cél. / Ml) 293,0 262,8 388,1 336,8 % média das vacas com corrimento vulvar 0,0 0,0 0,0 0,0 % média de distocia 3,5* 1,4 10,5** 5,4* % média de síndrome da vaca deitada 5* 2,1 4,5* 4* % média de mortalidade 3,5* 2,1 6,8** 5,9** Intensidade média de carrapatos 3,5 14,7** 7,3* 17,4**
*medidas que estão em limiar de alerta **medidas que estão em limiar de alarme
Ainda em relação ao princípio ‘Saúde’, foi avaliado o critério ‘Ausência de dor
induzida pelo manejo’, verificando-se os procedimentos relacionados ao
mochamento, descorna e corte de cauda. Não houve mudanças nos procedimentos
durante o experimento. Nove fazendas executavam o mochamento térmico nos
bezerros sem nenhum tipo de medicamento, não executavam a descorna e não
cortavam as caudas das vacas. Apenas uma fazenda, do grupo FP, administrava
analgésico aos bezerros depois do mochamento, o que elevou o escore médio
desse grupo (Tabela 4).
Tabela 4. Valor médio do escore de ausência de dor induzida pelo manejo em fazendas manejadas pelos próprios proprietários (FP) e por trabalhadores (FT)
Medida Ausência de dor induzida (manejo)
FP FT
Escore 33 28
Referências
BOND, G.B. Diagnóstico de bem-estar de bovinos leiteiros. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.
162
COOK, N.B.; BENNETT, T.B.; NORDLUND, K.V. Using indices of cow comfort to predict stall use and lameness.In: INTERNATIONAL RUMINANT LAMENESS SYMPOSIUM, 13, 2004. Proceedings… Maribor, Slovenia, 2004. Disponível em http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/publicats/research_abs/Indicesand_Comfort.pdf. Acesso em 10/09/2015. GARCIA, P.R. Sistema de avaliação do bem-estar animal para propriedades leiteiras com sistema de pastejo. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências- Área de concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013. ONYIRO, O.M.; OFFER, J.; BROTHERSTONE, S. Risk factors and milk yield losses associated with lameness in Holstein-Friesian dairy cattle. Animal, Cambridge, v. 2 (8), p. 1230-1237, 2008. PAZ, T.C. Avaliação de bem-estar em vacas em lactação. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2012. TELEZHENKO, E.; LIDFORS, L.; BERGSTEN, C. Dairy Cow Preferences for Soft or Hard Flooring when Standing or Walking. Journal of Dairy Science, Champaign, v. 90 (8), p. 3716-3724, 2007.