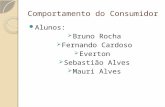O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE McSICA … · resumo da tese O estudo teve por objetivo a análise...
Transcript of O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE McSICA … · resumo da tese O estudo teve por objetivo a análise...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MÚSICA CLÁSSICA:
UM ESTUDO NO RIO DE JANEIRO
Lúcia Helena Tavares Viegas
Tese de Mestrado
Orientadora: Angela da Rocha
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Março 1999
ii O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MÚSICA CLÁSSICA:
UM ESTUDO NO RIO DE JANEIRO
Lúcia Helena Tavares Viegas
Tese submetida ao corpo docente do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos
requisitos necessários para obtenção do grau de Mestre em Ciências (M Sc.) em
Administração.
Aprovado por:
___________________________________ - Presidente da Banca
Prof. Angela da Rocha
COPPEAD – UFRJ
___________________________________
Prof. Everardo Rocha
COPPEAD – UFRJ
___________________________________
Prof. Ana Carolina P. D. da Fonseca
FACC - UFRJ
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Março de 1999
iii
Viegas, Lúcia Helena Tavares
O Comportamento do Consumidor de Música
Clássica: um estudo no Rio de Janeiro/ Lúcia Helena
Tavares Viegas. Rio de Janeiro. COPPEAD/UFRJ, 1999.
viii, 141p. il.
Dissertação – Universidade Federal do Rio de
Janeiro, COPPEAD.
1. Marketing das Artes. 2. Comportamento do
Consumidor. 3. Tese (Mestr. – COPPEAD/UFRJ). I. Título
iv AGRADECIMENTOS
Este estudo não existiria sem a Professora Angela da Rocha. Sua orientação foi
objetiva, tranqüilizadora, segura, paciente e abrangente. O seu incentivo, apoio,
estímulo e dedicação não me fizeram desistir. Agradeço-a de forma muito
especial.
Agradeço aos professores e funcionários da COPPEAD, especialmente à Maria
Aparecida Portugal (Cida), da Secretaria Acadêmica, pela paciência, eficiência
e carinho, à Dilze da Reprografia e a todos da Biblioteca.
Agradeço à Maria Angela Musiello, por me fazer muito feliz por contar com a sua
amizade; a Luciane, Ziza e André, a todos os meus colegas da Turma 95, e à
Marie e ao Celso.
Agradeço a Heloise e Janaina pela amizade, solidariedade, incentivo e apoio.
Agradeço a todos os meus amigos que me encorajaram a concluir o estudo,
especialmente à Denise, Rosi, Tânia, Rosângela, D. Júlia, Marlene, Liv, Mario
Robert e Julius.
Agradeço a minha família, à Dirce, minha mãe, que me ensinou ser na vida tudo
possível, bastando querer e lutar, Mica e Adri, minhas irmãs, meus cunhados e
sobrinhos, Mimi, Jini e Spock (in memorian), meus gatos, Vasco, meu
companheiro e também a José, meu pai.
Agradeço à força cósmica superior pela luz.
Agradeço a todos que me ajudaram e particularmente à Tânia, da bilheteria do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao Professor Samuel Araújo, da Escola de
Música e a todos que responderam o questionário.
v RESUMO DA TESE
O estudo teve por objetivo a análise do comportamento do consumidor de música
clássica no Rio de Janeiro, visando auxiliar o entendimento do processo de
compra de produtos da música clássica, para orientar o posicionamento da
indústria fonográfica em relação a esses produtos.
As principais questões investigadas relacionaram-se a possíveis diferenças
demográficas, de comportamentos de uso e de compra de música clássica e de
percepção do produto, entre grupos de consumidores, descritos pelo grau de
preferência por música clássica e pela posse absoluta e relativa de CDs de
música clássica.
Características pessoais, como sexo, idade, escolaridade, bairro de residência e
renda não parecem diferenciar os consumidores de música clássica.
Já o meio e o local de ouvir música clássica, o local onde o produto está
disponível para aquisição, os influenciadores na decisão de compra e as
percepções do papel da música clássica permitiram discriminar diferentes
segmentos de consumidores de música clássica.
O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa de campo, realizada no mês
de março de 1999, utilizando uma amostra de conveniência constituída de 116
ouvintes, selecionados em audiências de concertos de música clássica e de
peças teatrais, assim como na seção de CDs clássicos de lojas de discos. Os
testes de hipóteses foram realizados utilizando estatística descritiva e análise
linear de discriminante.
.
vi ABSTRACT
The study aimed to analyse the Rio de Janeiro’s consumer behaviour related to
classical music, in order to increase the understanding of buying processes for
these products and help the phonographic industry to position its products.
The research questions were related to possible differences between consumer
segments in demographic, usage and buying behaviour, as well as product
perceptions. Segments were described by their degree of preference for classical
music and by the relative and absolute number of classical music CDs owned.
Personal characteristics such as gender, age, education, place of residence and
income did not seem to differentiate consumers of classical music. The medium and the place where they used to hear music, channels of distribution
used to purchase the product, influences in the decision-making process and
perceptions of the role of classical music in their lives permitted however to
differentiate consumer segments.
The research methodology consisted of a survey, during the month of March, 1999,
using a convenience sample of 116 users selected among concert and theater
audiences, as well as in the classical music area of CD stores. Statistical analysis
used descriptive statistics and linear discriminant analysis.
vii ÍNDICE
página CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 1
1.1 Objetivo do Estudo 2 1.2 A Importância do Estudo 2 1.3 Conceito de Música Clássica 3 1.4 A Indústria da Música Clássica 6 CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 16
2.1 O Conceito de Música 17 2.1.1 A Relação entre Música e Emoção 19 2.1.2 O Papel do Ouvinte 31 2.1.3 Síntese Conceitual 40 2.2 O Marketing da Música e o Comportamento do consumidor 40 2.2.1 Conceito de Marketing 42 2.2.2 Marketing Mix 51 2.2.3 Segmentação do Mercado 53 2.2.3.1 Critérios de Segmentação do Mercado 57 2.2.3.2 Segmentação por Uso 58 2.2.4 O Comportamento do Consumidor de Música 61 CAPÍTULO III – METODOLOGIA 68
3.1 Método de Pesquisa 69 3.2 Perguntas de Pesquisa e Hipóteses 70 3.3 Determinação da População e da Amostra 72 3.4 Coleta de Dados 73 3.4.1 Instrumento de Coleta de Dados 73 3.4.2 Trabalho de Campo 74 3.5 Análise de Dados 75 3.6 Limitações 76 CAPÍTULO IV – RESULTADOS 77
4.1 Análise Descritiva 78 4.1.1 Características Demográficas 79 4.1.2 Características do Comportamento de Uso 83 4.1.3 Características do Comportamento de Compra 86 4.1.4 Percepções em Relação à Música Clássica 90
viii ÍNDICE – cont.
página
CAPÍTULO IV – RESULTADOS (cont.)
4.2 Teste de Hipóteses 92 4.2.1 Teste da Hipótese 1 92 4.2.2 Teste da Hipótese 2 94 4.2.3 Teste da Hipótese 3 98 4.2.4 Teste da Hipótese 4 102 CAPÍTULO V – SUMÁRIO E CONCLUSÕES 106
5.1 Sumário do Estudo 107 5.2 Conclusões 109 5.3 Indicações para Outros Estudos 111 BIBLIOGRAFIA 112
ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 125
ANEXO 2 – EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA
MÚSICA CLÁSICA
132
2 1.1. OBJETIVO DO ESTUDO
Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento do consumidor de
música clássica do Rio de Janeiro, por meio de uma pesquisa de natureza
descritiva. Pretendeu-se, desta forma, auxiliar o entendimento de como é feita a
compra de música clássica, de modo a orientar o posicionamento dado pela
indústria fonográfica a produtos de música clássica.
1.2. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
A importância do estudo pode ser evidenciada tanto no plano teórico quanto
prático.
Do ponto de vista teórico, é muito pouca a literatura específica a tratar do tema
"música clássica". De fato, recorremos, neste estudo, à bibliografia proveniente
de várias áreas distintas do conhecimento, com vistas a ilustrar os
conhecimentos existentes sobre o assunto. No Brasil, especificamente, não foram
identificados estudos sobre o tema em questão, enfocando o comportamento do
consumidor de música clássica.
Do lado prático, a importância do estudo decorre da necessidade de orientar
melhor os esforços de marketing realizados pela indústria fonográfica e pelos
canais de distribuição de música clássica no Rio de Janeiro, disponibilizando
produtos a este consumidor através de um mix de marketing mais bem orientado.
Decorre, ainda, da importância da música na vida do ser humano, do papel da
música clássica no decorrer da história e de sua disseminação nas sociedades
contemporâneas ocidentais.
3 1.3. CONCEITO DE MÚSICA CLÁSSICA
Candé (s/d), ao perguntar o que é a música clássica, obteve as respostas: “é o
contrário das variedades”, “é a grande música”, é a música séria.. a do concerto,
das igrejas” (p.57), mas, para ele, “uma arte é clássica, quando a liberdade do
artista é limitada pela tradição” (p.57).
Shepherd (1996) considera que a música clássica é uma das justificativas da
ideologia capitalista, onde “as pessoas são o objeto e o sistema domina os
indivíduos”(p.162) e menciona que:
“a música clássica reproduz a alienação em termos de experiência
daqueles com poder e influência. Como que com textos prontos, há pouca
jouissance1
, pouca possibilidade para a dialética significativa entre a
música e o ouvinte, pouca oportunidade para uma asserção apreciável da
subjetividade através de um papel ativo na construção do significado.
Muita música clássica parece inescrutável, impenetrável, porque existe um
mito de vácuo, de uma interioridade complexa e rica que não mais existe
porque sua lógica e racionalidade recaíram da mesma forma sobre um
exterior uniforme e regular para todos ouvirem” (p.162).
O estudioso contrapõe a música clássica à música popular e cita que esta última
“conhece uma certa jouissance, afirma um grau de subjetividade e subverte, se
somente parcialmente, as normas burocratizadas da música clássica” (p.162).
Do ponto de vista social, mesmo nas salas de concerto, onde as pessoas vão
para ouvir música e pagam muitas vezes caro por isso, é necessário um
determinado comportamento, roupas adequadas, não é permitido tossir fora dos
1 gozo - termo utilizado por Roland Barthes (apud Shepherd, 1996)
4 intervalos entre um movimento e outro e se o fizerem são, geralmente,
repreendidas pelo restante da platéia.
Como mostra Budd (1992), não há nada de fenomenológico ou psicológico no
ouvir música clássica que impeça que uma obra seja apreciada por um ouvinte
trajando bermuda e sandália de dedo na sala de concerto. Isso poderia ser
puramente uma convenção social criada por alguns, talvez com objetivo de elitizar
a música clássica.
Se assim fosse, como se poderia explicar a multidão que assiste concertos ao ar
livre, por exemplo na Praia de Copacabana ou na Quinta da Boa Vista e
certamente não vestindo "traje passeio completo"? Será que a música clássica
se tornaria então popular? A música clássica seria impopular, em oposição à
música popular?
Com relação a esse aspecto, do ponto de vista da história da música, foi possível
afirmar, que a partir da Renascença havia uma clara distinção entre música
clássica de um lado e música popular ou folclórica, de outro.
No século XX, na Europa, o relacionamento entre a música clássica e popular se
processou em escala cada vez menor, porque, naquele continente, as formas de
cultura popular foram se tornando menos expressivas, enquanto na América
aconteceu exatamente o contrário. Alguns exemplos elucidam essa questão, do
ponto de vista do compositor.
Candé (s/d) menciona que “infelizmente criou-se o hábito de chamar de “música
clássica” a toda a música histórica, desde as origens até os nossos dias” (p.58) e
considera que essa expressão não se adapta à realidade da música, pois seria
bastante difícil definir claramente a música clássica ou a “grande música” e
considera que o rótulo de música clássica se adapta mais ao compositor do que
às suas obras.
5
Medaglia (1988), por outro lado, apresenta a incorporação de elementos da
música popular na música clássica e mostra que o minueto era uma forma de
dança popular de origem francesa que, a partir do barroco, foi muito utilizada
como parte das suítes para diversos grupos instrumentais pelos compositores da
época. A partir de Haydn, essa forma de dança é incorporada à sinfonia clássica,
tornando-se seu obrigatório terceiro movimento. A utilização freqüente do minueto
por compositores clássicos fez com que a dança sofresse transformações.
Beethoven, por exemplo, imprimiu-lhe andamentos tão rápidos que ela passou a
ser denominada scherzo.
A nível popular, o minueto sofreria iguais mudanças de andamento e a dança
lenta e mesureira, do povo e também da corte se transforma na valsa romântica.
Outros compositores usaram a música popular em suas obras, como Villa-Lobos,
que usou vasto repertório da música brasileira de forma agressiva,
estabelecendo uma polêmica entre seus componentes e as técnicas de
composição da música clássica (Medaglia, 1988).
Com relação a chamar a música clássica de música erudita, parece que essa
denominação deveu-se a Mario de Andrade que utilizou a expressão, no Brasil,
para se referir à música elaborada e de origem européia (Faria, 1999). Observa-
se porém, que em outras línguas, como o inglês e o francês, o termo usado é
música clássica. Seria a denominação música "erudita" outra forma de elitizar a
música clássica, de torná-la não popular?
Alguns consideram que existe diferença entre música popular e erudita e que
essa diferença não é de estilo, já que ambas apresentam pontos de contato.
Como observa Faria (1999), na música dita popular o executante é mais
valorizado, pois é responsável por comunicar as idéias, geralmente centrada na
6 melodia. Mas isso também pode acontecer na música clássica, onde a música
"orientada para o intérprete" também pode ser bastante apreciada.
Por outro lado, outros preferem chamar a “música clássica” de “música de
concerto”. Essa nomenclatura também pode não ser adequada porque é comum
as pessoas assistirem, por exemplo, a um “concerto de rock”.
Em suma, adotou-se neste estudo o termo música clássica para fazer referência
à música de compositores como Bach, Mozart, Hildegard von Bingen, Beethoven,
Satie, Debussy, Stravinsky, Cage, Villa-Lobos, Hindemith, Santoro, Krieger e
tantos outros.
1.4. A INDÚSTRIA DE MÚSICA CLÁSSICA
A música, especialmente a música clássica, tem sido comumente estudada pelo
lado criativo, ou seja, de como as grandes peças foram desenvolvidas, de como
os grandes compositores as realizaram e de como essas obras foram recebidas
pela sociedade. Os aspectos negociais da música clássica não foram, porém,
freqüentemente discutidos.
A própria concepção da música como negócio parece ser mal vista, remetendo à
imagem de agentes "espertos", dispostos a se aproveitar da arte dos grandes
mestres. A música clássica, como outras artes, parece operar de modo a
proteger o mito do artista imaculado. Tal mito vem sendo questionado, com a
popularização da música clássica. Isto é evidenciado pela observação feita pelo
crítico Norman Lebrecht, que afirmou que "quase tudo na música clássica parece
estar à venda pela melhor proposta" (1997, p. 4).
De acordo com o autor, a música clássica vem representando um papel cada vez
menos significativo na vida das pessoas de classe média, resultado da ação de
7 "superagentes", que controlariam as carreiras de centenas de artistas; de “reis do
esporte”, que nunca teriam assistido a uma ópera, mas que insistiriam em alterar
a maneira de apresentá-la; de críticos de arte, que escreveriam na imprensa o
"pensamento" das gravadoras; dos acionistas das gravadoras; de regentes que
inflacionariam o mercado e de produtores culturais, que escolheriam os
patrocinadores.
Ainda conforme Lebrecht (1997), a música clássica seria mais do que a soma de
compositores e intérpretes. Os programadores de concertos, os vendedores de
ingressos, os editores e promoters, os agentes e empresários, os engenheiros
de som, contadores, cenógrafos, os críticos de música, todos, enfim,
desempenhariam um papel favorável ou desfavorável.
Mas que produto é esse - a música -, consumido há mais de cinqüenta mil anos,
quando ainda se vivia na sociedade da abundância, e que se perpetua na
sociedade da escassez?2
A música clássica ocidental tem profundas raízes na Renascença, onde a Igreja e
as cortes ditavam as regras de produção musical. O suporte financeiro dependia
da igreja, da corte e de governos locais, que não permitiam a comercialização da
música de nenhuma forma.3
Com o aumento da complexidade musical das peças, primeiramente os copistas
e, depois, a indústria gráfica, se tornaram relevantes meios de disseminação da
música clássica, a partir do século XVIII. A música foi, assim, retirada da Igreja,
ingressando nos lares e difundindo-se nas cidades.
2 Essas expressões foram consagradas na obra de Pierre Clastres, Arqueologia da Violência. São
Paulo : Brasiliense, 1982, cap. 8, p. 127-144.
3 Para a perspectiva histórica da evolução da música clássica, de que se ocupa esta seção, foram consultadas as seguintes obras: Fink (1989), Cowen (1998), Candé (s/d) e Medaglia (1988).
8 No entanto, o crescimento do mercado de música clássica ainda era muito lento
até o século XVIII. A música clássica não era um bem durável, nem facilmente
reproduzido, e as partituras apresentavam elevado custo. Somente a partir do
século XVIII iniciaria sua difusão mais ampla no mercado.
Por outro lado, o concerto, ou seja, a música ao vivo, poderia ser vendido no lugar
da composição, e cada concerto, por sua característica de unicidade, era mais
caro que a música impressa. Além disso, os marchands de arte da época se
dedicavam muito mais à pintura, uma vez que esta podia ser revendida,
diferentemente da música clássica, na forma de concerto, que, por sua
característica de serviço, só podia ser consumida no momento de sua produção4
.
Por tudo isso, a música era muito mais um bem público, uma vez que teatros e
igrejas eram locais públicos.
No século XVIII, os músicos já podiam realizar concertos públicos com fins
lucrativos, especialmente na Alemanha, Itália e Áustria, enquanto que, na França,
o concerto público ainda permanecia como monopólio do Estado.
No entanto, foi a publicação da música que transformou o mercado musical no
século XVIII.
A ascensão da classe média burguesa também contribuiu para a disseminação
da música nos lares. As famílias burguesas do século XVIII tinham
freqüentemente por hábito tocar música após o jantar, misturando voz, piano, e
pequeno conjunto de cordas. Aprender e praticar música tornou-se um símbolo de
ascensão social. Isso criou uma demanda por música impressa, pois os músicos
eram treinados pela família, tocavam para a família e vendiam suas composições
para outras famílias.
4 Veja-se, para uma definição das características do serviço, Levitt, T., A Imaginação de Marketing.
São Paulo : Atlas, 1991, cap. 5 e Kotler, P., Andersen A. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, 4th ed., New Jersey : Prentice Hall, 1991, cap. 13.
9
O ouvinte daquela época tinha, também, acesso à música clássica via concertos
públicos e estes se tornaram importante fonte de renda para os músicos, que
compunham para ouvintes de "sofisticação moderada" (Cowen, 1998), que
exigiam apenas sons agradáveis a seus ouvidos.
A partir daí, a música clássica apresentaria um mercado em expansão,
permitindo, à medida que a tecnologia evoluiu, o advento do mercado de massa.
A invenção da gravação fonográfica, por Thomas Edison, em 1877, tinha o
objetivo de preservar a música clássica e a palavra falada.
No início do século XX, a indústria fonográfica era controlada por duas grandes
empresas norte-americanas: a Victor Talking Machine Company, originária da
English Gramophone and Typewriter Company, e a Columbia Gramophone
Records, uma incorporação de várias pequenas empresas. O repertório dessas
empresas, segundo relata Fink (1989), era operístico, em sua maior parte, e os
grandes nomes da ópera, na época, eram persuadidos a gravar discos.5
A baixa
qualidade técnica das gravações prejudicava a produção de discos para piano e
orquestra, cuja gravação era praticamente inexistente.
O rádio seria o principal instrumento difusor da música clássica, a partir de então.
Até 1922, o rádio apoderou-se de uma parcela do mercado das gravadoras.
Através do rádio, os ouvintes escutavam gratuitamente suas músicas preferidas,
sem a necessidade de investir em coleções próprias.
Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, duas grandes invenções
marcaram a indústria fonográfica: o uso da fita magnética, introduzida pela
empresa Basf, da Alemanha, em 1935, e a gravação do LP (por long-playing).
As vantagens da fita em relação aos discos existentes, eram a facilidade de 5 Um dos grandes campeões de venda foi Enrico Caruso, que chegou a vender cerca de um
milhão de cópias (Fink, 1989).
10 colocar, o tempo de gravação, a facilidade de repetição e de edição. Várias
tecnologias desenvolvidas posteriormente viriam a aperfeiçoar a gravação e a
reprodução sonora em fitas de rolo e cassete.
Em 1948, a Columbia Records introduziu o LP, que representava uma importante
evolução por ser inquebrável, possibilitando maior difusão e oferecendo melhoria
substancial de qualidade de som em relação aos discos anteriores. Essa nova
tecnologia foi particularmente importante para a música clássica, ao permitir, por
exemplo, a gravação de uma sinfonia inteira, sem interrupção entre os
movimentos.
A televisão seria o passo seguinte. O estabelecimento das redes de televisão
ocorreu nos anos 40 e, na década de 50, esta já era o entretenimento favorito dos
americanos, impactando outros negócios de entretenimento, tais como o rádio e
o cinema. A indústria fonográfica sofreu bem menos, pois a introdução de novas
tecnologias de melhoria da qualidade de som, através do hi-fi, ou seja, a
reprodução em alta fidelidade, tiveram efeito positivo sobre a ampliação dos
mercados.
Nos anos 60, desenvolvimentos tecnológicos tornaram os discos mais
compactos e mais portáteis, de melhor qualidade sonora e comportando várias
faixas. Muitas tecnologias de melhoria da qualidade sonora foram desenvolvidas
ao longo dos anos seguintes, como a Dolby, o som quadrifônico e a gravação
digital, todos na década de 70.
Em 1983, foi introduzido nos EUA o primeiro aparelho de som completamente
digital, que tocava um pequeno disco compacto de leitura a laser, o CD (por
compact disc), praticamente sem ruído ou distorção.6
6 O primeiro CD comercializado foi de música clássica, regido por Karajan. O tempo de reprodução
de um CD - cerca de 70 minutos - foi estabelecido pela duração da Quinta Sinfonia, de Beethoven. (Fisher,1999)
A venda de CDs de música
11 clássica nos EUA responde atualmente por cerca de 5% do mercado total de
CDs.
Apesar da difusão dos CDs, novas tecnologias, como a MP3, parecem ameaçar
a sobrevivência deste produto, embora não da música clássica.7
.
O Brasil é o sexto mercado mundial de CDs de música, atrás dos Estados
Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra e França, com vendas de cerca de 110
milhões de unidades, equivalentes a aproximadamente US$ 1 bilhão, em 1998
(Caride, 1997). Desse total, a música clássica responde por 1 a 2% em
quantidade. O Quadro 1.4.1 mostra o tamanho do mercado fonográfico brasileiro,
quando comparado com outros países. O Quadro 1.4.2 apresenta, por sua vez,
dados relativos ao mercado específico de CDs de música clássica.
A demanda brasileira de CDs de música clássica vem sendo suprida em cerca
de 50% pela produção nacional e em 50% por importações. O Rio de Janeiro
responde por aproximadamente 18% da demanda de CDs de música clássica no
Brasil e é o segundo estado consumidor, sendo que São Paulo representa cerca
de 50% do consumo de CDs de música clássica no Brasil, conforme dados da
Associação Brasileira de Produtores de Discos – ABPD, 1999.
7 A MP3 é uma tecnologia de compressão de arquivos, que permite "baixar" músicas pela Internet
com qualidade sonora de CD. Para uma discussão do tema, veja-se: HUFFSTUTTER, P.J. MP3, a sigla que faz tremer as gravadoras. Jornal do Brasil, 18.02.1999, caderno B, p.11.
12
Quadro 1.4.1
Mercado Fonográfico Mundial - Principais Países (1996)
País
Vendas de CDs em US$ milhões
Valor Absoluto
%
Estados Unidos
Japão
Alemanha
Reino Unido
França
Brasil
Canadá
Austrália
Países Baixos
Itália
12,2
6,7
3,1
2,7
2,3
1,3
0,9
0,8
0,7
0,6
31
17
8
7
6
4
2
2
2
2
Fonte: Federação Internacional da Indústria Fonográfica.
Quadro 1.4.2
Participação da Música Clássica (1996)
País
Vendas de CDs de Música Clássica
(em US$ milhões)
% de CDs de Música Clássica sobre Total
Estados Unidos
Alemanha
França
Brasil
610
310
230
20*
5%
10%
10%
2%
13
* inclusive importados Fonte: Associação Brasileira de Produtores de Discos, Gazeta Mercantil, WEA, EMI. As principais empresas atuantes no mercado mundial são: PolyGram/Universal,
Warner, Sony, BMG e EMI, esta última atuando somente no mercado musical,
enquanto que as outras cinco atuam também em outros negócios de
entretenimento ou na indústria eletroeletrônica.
No Brasil, o mercado fonográfico reflete o alto grau de concentração observado
internacionalmente. As principais empresas atuantes são: PolyGram, Warner,
Sony, BMG, EMI e Som Livre, que controlam cerca de 90% do mercado
brasileiro. Dessas, apenas a Som Livre é de capital nacional. No que concerne à
música clássica, somente a Som Livre não atua neste mercado. A evolução da
participação de cada uma das gravadoras no mercado de CDs clássicos, nos
últimos três anos, expressa em volume e valor, encontra-se no Quadro 1.4.3.8
A evolução e o crescimento das vendas de CDs clássicos, no Brasil,
comparativamente ao total de CDs, nos últimos três anos, encontra-se no Quadro
1.4.4. Observa-se um crescimento expressivo no ano de 1997, quando o volume
de CDs vendidos, em unidades, cresceu quase 150%, passando de pouco mais
de 1% do mercado para 2,6%. Fontes da indústria atribuem tal crescimento às
vendas de alguns produtos específicos.9
8 O aumento da participação no mercado da PolyGram e da Sony, em 1998, deveu-se às vendas
dos CDs do tenor Andrea Bocelli e da trilha sonora do filme Titanic, que foram lançados no mercado como clássicos. Esse tipo de disco é chamado de cross-over pelas gravadoras, uma vez que é lançado pelas divisões de clássicos, mas, ao mesmo tempo, não são considerados “verdadeiros” CDs de música clássica.
9 Exatamente os CDs com a trilha sonora do filme Titanic e do tenor Andrea Bocelli já mencionados.
14
Quadro 1.4.3
Evolução das Vendas de CDs de Música Clássica no Brasil
(1996-1998)
Discriminação CDs de Música Clássica
Total de CDs % de CDs de Música Clássica
sobre Total 1996
- volume (unidades)
- valor (US$ mil)
1.328.467
11.288,8
95.716.128
851.360,7
1,39
1,33 1997
- volume (unidades)
- valor (US$ mil)
1.068.302
9.816,2
106.327.851
933.857,8
1,05
1,00 1998
- volume (unidades)
- valor (US$ mil)
2.659.357
20.513,4
103.179.781
779.341,7
2,58
2,63
Fonte: Associação Brasileira dos Produtores de Discos
Quadro 1.4.4
Crescimento Anual das Vendas de CDs de Música Clássica
(em %)
Discriminação
1997 em relação a 1996
1998 em relação a 1997
volume
-20%
149%
valor
-13%
109%
15
Embora o produto música clássica esteja longe de liderar o negócio de música,
no que se refere a estilo musical, é considerado atualmente um negócio maduro
nos mercados ocidentais, em que as gravadoras buscam estratégias de
extensão do ciclo de vida de discos de música clássica. Além disso, alguns
mercados na Ásia têm apresentado forte crescimento, mostrando oportunidades
para expansão do mercado global.
Por outro lado, cabe observar que a música clássica é em garnde parte
composta por obras de domínio público, onde as questões relativas ao direito
autoral não se aplicam.
17 2.1. O CONCEITO DE MÚSICA
Muitas definições de música têm sido apresentadas desde que estudiosos
começaram a teorizar sobre a música. A música:
é a arte da combinação dos sons segundo certas regras, variáveis em função
dos lugares e das épocas;
é a arte e ciência de combinar os sons agradáveis ao ouvido;
confunde-se com a acústica, ramo particular da física;
é uma linguagem;
é um meio de aumentar a intenção de compra no varejo;
é a expressão de emoções;
é a indução de emoções;
é um meio de se aproximar das divindades;
é uma atividade coletiva, como qualquer outra atividade humana.
Para Rameau (apud Nattiez et al., s/d), no seu Traité de l’Harmonie (Paris, 1722),
música é a ciência dos sons. “A música é uma ciência fisico-matemática, o som
é o objeto físico e as relações entre os diferentes sons são objetos matemáticos;
seu objetivo é nos agradar e nos excitar paixões”.(apud Leppert, 1996, p.76)
Para Budd (1992), sendo a música uma das artes, seria mais correto definí-la
como a arte dos sons, e não como a ciência dos sons. E continua nas suas
definições: “a música é essencialmente a arte dos sons não interpretáveis” ...
“música não é a arte dos sons entendidos como sinais, com significados não
auditivos e composta de acordo com regras sintáticas: a música não é a arte da
palavra”(p. ix) ... “a música está baseada na capacidade humana de ouvir
seqüências de sons crus de várias maneiras: escutar um ritmo em uma série de
sons, escutar dois ritmos simultâneos em uma série de sons, escutar uma série
de sons como uma melodia, ouvir uma melodia como uma variação de uma outra,
ouvir um conjunto de sons como um acorde, ouvir um acorde depois como
18 resolução de um outro prévio, e assim por diante” (p.ix). Para ele, essas maneiras
de ouvir sons não conteriam pensamentos: ouvir um ritmo, uma melodia, um
acorde, uma cadência seria, em cada caso, ter consciência de uma forma de
sons e cada forma poderia ser percebida sem que algo estivesse presente ou
sendo pensado pela mente.
Budd (1992) discute também o apelo fundamental de uma peça musical como
uma estrutura de sons que seria sua própria razão de ser: a experiência pela qual
a peça fosse apreciada, ou seja, a experiência que realizasse o seu valor como
música. Se a peça fosse valorizada como tal, o que seria valorizado não poderia
ser separado da própria composição de sons. A experiência, nesse caso, seria,
no fundo, puramente auditiva: consistiria de modos interconectados de ouvir sons.
O valor da música não poderia ser abstraído dos sons nos quais estivesse
localizado e nem considerado sem referência a eles.
Para alguns teóricos, seria esta a razão pela qual não procederia tentar produzir
um sentido do valor de uma peça musical para alguém que não fosse musical. A
significância de qualquer peça somente poderia ser revelada para iniciados.
Houve muitas tentativas de definição da música em termos de atributos
específicos dos sons musicais. Hanslick, famoso crítico musical do século XIX,
considerava o tom mensurável como a primeira condição essencial de qualquer
música. Segundo ele, os sons musicais se diferenciariam dos sons da natureza
por usarem escalas de tons fixas, enquanto os sons naturais consistiriam de
flutuações constantes de freqüências (Kivy, 1993).
No entanto, a música africana e a música oriental, como a japonesa ou a
coreana, baseadas em percussão, e mesmo a música contemporânea parecem
mostrar que a música pode existir mesmo não estando organizada ou fixada em
escalas de tons.
19 Seria possível, portanto, ter organização musical sem restringir a organização a
escalas fixas, o que levou a definições alternativas àquela da música como som
organizado. Mas mesmo essa definição não teria caráter geral, pois nela se
enquadrariam as escalas musicais de sons organizados em tons não fixos, mas
que não poderiam ser encaradas como música, onde também se incluiriam
sistemas de comunicação como o código Morse e a língua falada.
Conforme Ingarden (apud Cook, 1992), não se poderia sustentar que uma ordem
particular e co-presente de sons sucessivos e construções sonoras não fosse
suficiente para distinguir uma composição musical de sinais acústicos ou
fenômenos sonoros da natureza.
Mas, como mostrou Cook (1992), não seria possível chegar a uma definição
satisfatória da música simplesmente em termos de som, provavelmente pelo
papel essencial do ouvinte e mais amplamente do ambiente no qual o som é
ouvido, representado na constituição de qualquer acontecimento como musical. O
autor sintetizou: "Música é uma interação entre som e ouvinte" (p. 10).
2.1.1 A Relação entre Música e Emoção
Muitos estudiosos, principalmente no âmbito da Filosofia, desenvolveram teorias
sobre a relação música-emoção.
De acordo com Budd (1992), alguns teóricos sustentam que o valor da música
como forma de arte e os diferentes valores das obras musicais devem ser
explicados pela relação da música com algo fora da música e no qual se tem
algum interesse e esse fenômeno extra-musical é a emoção. Há outros que
acreditam que o valor da música como obra de arte é puramente musical,
intrínseco à música e não tem nenhuma relação com algo externo, não musical,
ou seja suas teorias dissociam a música, como forma de arte, das emoções. E
há aqueles que discordam desses dois primeiros grupos de pensadores.
20
A emoção pode ser considerada como algo que acontece por acaso,
circunstancialmente, ou quando há pré-disposição para que ocorra. Como acaso,
a emoção é uma ocorrência, é algo sentido, experimentado ou sofrido em
determinado tempo. Considerada como pré-disposição, a emoção parece
envolver a presença de certas condições mentais ou pensamentos.
No caso da música, a principal questão do marketing, a satisfação dos desejos e
necessidades dos consumidores, parece envolver um componente bastante
significativo do comportamento do consumidor - a emoção.
Uma peça musical poderia ser relacionada com a circunstância da emoção ou
com a emoção em si própria.
Segundo Budd (1992), haveria três instâncias significativas da emoção com a
qual uma peça musical ou uma execução da peça deveria estar conectada: a
emoção que o compositor experimentou quando compôs a peça, a emoção que
o executante experimentaria ao executar a peça e a emoção do ouvinte quando
ouvisse a peça. As duas primeiras poderiam não ser relevantes para o ouvinte.
Há vários exemplos de intenções de expressar emoções por parte dos
compositores10
, o que não implicaria que o ouvinte pudesse sentir essa mesma
emoção, ou, ainda, que o ouvinte pudesse sentir a emoção mesmo que o
compositor não a tivesse expressado ou sentido. A mesma argumentação
poderia ser usada para mostrar que a emoção do executante não
necessariamente é a mesma do ouvinte. Sob a ótica do ouvinte, não importaria,
portanto, a emoção do compositor ou do executor, mas a sua própria.
Poder-se-ia incluir ainda, a utilização da música para induzir emoções no ouvinte 10 Como desespero no adagio do Quinteto para Cordas em Sol Menor, de Mozart, joie-de-vivre, na
abertura da Sinfonia Italiana, de Mendelssohn; desejo não satisfeito, derramado no Prelúdio de Tristão e Isolda, de Wagner. Como mostra Leppert (1996), essas emoções podem ser induzidas, por exemplo, pela utilização de escalas de tonalidade (o tom menor é considerado triste).
21 por um terceiro que não o compositor ou executante, como no caso da música
ambiente, da musicoterapia, da propaganda, e da sonoplastia ou trilhas
sonoras11
.
Aristóteles e Platão acreditavam que a música imitava estados da alma, da
essência, especialmente aqueles estados onde a emoção era experimentada.
Hanslick (apud Kivy, 1993) estudou também esses aspectos e concluiu que não
havia relação entre música e emoção. Para ele, o valor musical - a que chamava
de “beleza da música” - nunca seria conseqüência do fato de representar uma
emoção definida e que esse valor não seria evocar ou excitar emoção no ouvinte,
mas que a música seria um fim em si própria e não um meio para realizar algo
relacionado à emoção. A música agradaria por si só. A principal questão de
Hanslick é negar que sentimentos e emoções sejam o assunto-chave que a
música pretende ilustrar ou demonstrar.
Pratt (apud Budd, 1992) encarou a questão da emoção na música de outra
forma. Para ele, sentimentos, emoções e estados de espírito seriam subjetivos à
pessoa que os experimentasse e aquilo que uma pessoa sentisse quando
preocupada, ansiosa, alegre, pertenceria ao, ou estaria localizado dentro do
corpo. Pratt argumentou ainda que o ouvinte transferiria erroneamente para a
música suas próprias emoções, sucumbindo ao que Pratt chamou de “falácia
patética”, em que os objetos poderiam assumir falsas aparências sob influência
do estado emocional da pessoa. Se alguém ouvisse uma música e fosse
fortemente afetado por ela, a ponto de percebê-la como tendo emoções, essa
falsa interpretação seria um caso de "falácia patética": a força de seus
sentimentos levaria a pessoa a projetar sua emoção na música.
11 Para uma discussão sobre sonoplastia, veja-se: Medaglia J., Música Impopular, São Paulo :
Global, 1988, pp. 273 a 311.
22 Mas, será que a música não faz despertar emoções no ouvinte? Seria difícil
saber como ele pode genuinamente ter a impressão de que o sujeito das
emoções que sente é a música ou ele próprio? E como, então, pode ser
entendida essa atribuição ostensiva de emoções, sentimentos e estados de
espírito à música?
Pratt respondeu a essas questões argumentando que o corpo humano se
movimentaria cinetica e organicamente e que o fato de podermos sentir esses
movimentos seria responsável por muitos adjetivos, tais como forte, fraco,
lânguido, agitado, calmo, excitado, quieto, gracioso, desajeitado, trôpego, rítmico.
Assim sendo, não haveria falácia patética envolvida no uso dessas palavras. O
movimento musical possuiria essas mesmas características.
Esta argumentação de Pratt poderia ser contestada, segundo Budd (1992),
considerando que, quando uma nota sucede a outra, não haveria nenhuma
mudança de posição e a mudança de posição nem seria percebida pelo ouvinte.
Na música, o que mais se assemelharia a uma mudança de posição seria a
mudança de tonalidade.
Para Gruney (apud Budd, 1992), “as diferenças entre as tonalidades são
peculiares, pois não são diferenças de espécies, como entre cores vermelha e
azul, os sabores doce e amargo, ou entre notas como uma nota do violino e da
clarineta; nem diferenças de grau de intensidade ou força, como entre a luz
ofuscante e discreta, ou entre um sabor muito doce ou levemente doce ou entre
uma nota estridente e uma suave; mas são diferenças de distância e direção,
clara e indiscutivelmente sentidas como tal” (p.41).
Em suma, para Pratt, a música poderia ser agitada, repousante ou triunfante,
desde que possuísse o caráter dos movimentos do corpo, que estariam
envolvidos com as emoções e estados de espírito a que são dados esses nomes
precisamente, porque seria esse caráter dos movimentos corporais que seria
23 percebido quando uma emoção ou estado de espírito fosse experimentado. A
música não incorporaria condições psicológicas, mas sim o caráter dos
movimentos do corpo.
Conforme Budd, 1992, a tese de Pratt mostraria considerações sobre somente
uma interpretação de uma forma de discurso: a descrição do que fosse objetivo
(a música), em termos do que fosse subjetivo (emoções e estados de espírito).
Essas considerações não especificariam a relação entre o objetivo e o subjetivo,
que seria tida como importante do ponto de vista da música como arte.
Outra concepção da música é dada por aqueles que acreditam que ela seja uma
arte “humanista”, ou seja, que embora a música “absoluta” seja essencialmente
uma forma de arte abstrata e não representacional e que prescinda dos recursos
de uma verdadeira linguagem, a sua natureza não representacional não impediria
que muitos de seus produtos tivessem uma significância, somente explicada pela
relação deles com o que fosse familiar, fora da música. Nas obras musicais,
haveria fenômenos incorporados, expressos, simbolizados ou de qualquer outro
modo apresentados que seriam integrais à vida humana. Reconhecer-se-iam, na
música, estados de espírito, sentimentos, emoções, atitudes e vários outros
estados de nossa vida interior, manifestados de tal modo que, ao respondermos
à forma pela qual a música os apresentasse, estaríamos dando valor às obras
musicais pela sua essencial referência humana (Budd, 1992).
Gurney (apud Kivy, 1993) foi importante opositor a essa teoria “humanista” e a
sua maior crítica foi apresentada no livro “O Poder do Som”. Para ele, não se
deveria levar à música nenhuma qualidade especial de caráter ou intelecto, e
nenhum interesse ou valor extra-musical, mas somente um senso de proporção
abstrata. Isto porque a música apresentaria formas que não teriam qualquer
conexão com algo fora da música, e o benefício trazido pela música estaria
inteiramente contido nela própria.
24 Gurney acreditava na existência de uma emoção prazerosa de uma espécie
distinta, que aconteceria quando uma forma melódica fosse experimentada como
“bela”. Assim, a questão teria a ver com a beleza melódica. Gurney dizia: “Por
que somente ao ouvir certas formas melódicas, uma pessoa, em qualquer
estágio de sua vida, sente uma emoção prazerosa que tem correlação com a
experiência de achar a forma melódica bonita? O que há nessas formas
melódicas que produz na pessoa esse prazer que as diferencia daquelas que
não produzem nada?" (apud Budd, 1992, p.53).
Para o autor, a faculdade musical consistiria de um senso único de proporção
abstrata que julgasse cada forma melódica segundo seus próprios méritos e que
não procederia a esse julgamento com base em nenhuma lei. Tal tipo de emoção
produzida pela música seria desconhecida fora do próprio fenômeno da música.
Gurney relacionou sua tese à teoria de Darwin, que conectava música e excitação
sexual.
Gurney utilizou o Darwinismo para explicar a excitação emocional, característica
da música. Para ele, “o caráter singular da emoção musical - o fato de a música
ser perpetuamente sentida como fortemente emocional enquanto desafia todas
as tentativas de analisar a experiência ou de definí-la , mesmo que de maneira
mais geral, em termos de emoções definidas - pode ser explicada, remontando à
sua origem, na fusão gradual e transfiguração dos sentimentos sexuais
primitivos” (p.58)12
.
12 Darwin concluiu, em seus estudos, que os órgãos vocais dos animais foram originalmente
usados e desenvolvidos para a propagação da espécie: para chamar, atrair, seduzir e excitar o sexo oposto. E mais, muitos sons que as espécies produzem durante a época do acasalamento são musicais, têm uma tonalidade definida e compõem frases melódicas curtas ou canções. Além disso, essas espécies que fazem sons musicais em uma certa ordem e ritmo, derivariam prazer desses sons, pois eles atrairiam e excitariam. Darwin mostrou que nossos ancestrais, durante o acasalamento eram excitados não somente pelo amor, mas também por paixões, ciúmes, rivalidade e triunfo e que dessa forma os tons musicais poderiam trazer vaga e indefinidamente à tona, fortes emoções do passado longínquo. Para uma ampla discussão do Darwinismo na música, veja-se: Kivy (1993).
25 Em suma, para Gurney, a emoção provocada pela música não poderia ser
analisada ou mesmo descrita em termos de outras emoções familiares. O
sentimento despertado no ouvinte não precisaria necessariamente ser do mesmo
tipo daquele atribuído à música.
Schopenhauer (apud Marcondes, 1997), filósofo e músico, desenvolveu a teoria
de que a música representa a satisfação completa da vontade. Sua teoria sobre
música não é considerada de forma isolada do resto da sua filosofia, cuja idéia
principal de concepção metafísica do mundo envolve dois aspectos. Para ele, do
ponto de vista externo, o mundo existiria somente como representação, e, do
ponto de vista interno, exclusivamente como vontade. A existência do mundo
como vontade seria primária, enquanto que sua existência como representação
seria secundária, ou seja, o mundo empírico existiria para a subjetividade apenas
como representação. A representação seria um estado subjetivo, resultante da
contribuição de formas de sensibilidade, espaço e tempo e do entendimento.
Para o filósofo, o real, enquanto coisa-em-si, seria impenetrável ao conhecimento
humano, que atingiria apenas as representações (Budd,1992).
Como mostra Marcondes (1997), é como se existisse um véu encobrindo o real,
encobrindo as representações entre o homem e o real, mas pelo fato de ser
como um véu, de caráter ilusório, poderia ser penetrado por outras formas. O
acesso à subjetividade para Schopenhauer seria dado pela reflexão e auto-
controle, e, dessa forma, o sujeito conheceria a si mesmo não como aparência,
uma vez que ele próprio seria a origem de toda a aparência. O sujeito conheceria
a si próprio como sujeito e não como objeto, de modo direto e não conceitual e
enquanto vontade. A vontade seria a própria essência da subjetividade do Eu.
De acordo com o filósofo, a música seria uma representação ou cópia direta da
vontade, a essência íntima do mundo. Na música se ouviria a vontade se
expressando, não a vontade particular do homem, mas a vontade universal. A
música tornaria a vontade, objeto. A melodia estaria relacionada a aspectos da
26 existência humana: uma melodia seria uma seqüência temporal de diferentes
tons conectados juntos, de forma particular. Sendo um processo com um início e
um fim, seus estágios seriam ouvidos em relação aos segmentos precedentes e
a esperada continuação do processo desenvolveria seu curso dessa maneira,
como uma entidade única. Schopenhauer observou:
“a natureza da melodia consiste de uma alternância entre discórdia e
reconciliação de dois elementos: um rítmico e outro harmônico. A nível
harmônico, por exemplo, há um desvio da nota principal, após um curto ou
longo período de tempo, uma nota harmoniosa é atingida, a dominante por
exemplo e nesse ponto há uma satisfação incompleta, e depois, de alguma
forma a melodia retorna para a nota fundamental. Para isso acontecer a
melodia é favorecida pelo ritmo, em partes acentuadas de um compasso. As
melodias requerem pontos de satisfação ou pontos de repouso, que são
obtidos somente quando uma nota harmoniosa é atingida em uma batida
acentuada, ou seja quando há uma reconciliação entre harmonia e ritmo”.
(apud Budd, 1992, p.88).
E Schopenhauer parece acreditar que assim se estabeleceria a correspondência
entre as diferentes melodias e as diferentes formas de realização da vontade. E
por essa razão a música seria a linguagem das emoções. Para ele, a melodia
captaria todas as formas pelas quais o homem fosse afetado pela vontade, que
incluiriam “tudo que a faculdade da razão resume sob o amplo e negativo
conceito de sentimento, e que não pode ser tomado posteriormente nas
abstrações da razão” (apud Budd, 1992, p.90).
Em suma, para Schopenhauer, o que se ouviria, na música, seria a vontade se
expressando, não a vontade particular do indivíduo, mas a vontade, a essência da
subjetividade do eu.
Outro concepção da relação entre música e emoção foi desenvolvida por Langer
27 (apud Budd, 1992), nos anos cinqüenta. Langer discutiu o significado da música
como símbolo de estados da mente ou caráter, atitudes com a vida e outras
espécies de fenômenos extra-musicais e considerou que muitas peças musicais
fossem símbolos da vida emocional, adquirindo especial importância por sua
função simbólica.
De acordo com Langer, cada peça musical significante seria um símbolo, mas
não um símbolo discursivo, e sim representacional. Esse símbolo teria uma
peculiaridade que a maior parte dos símbolos não representacionais possuiria:
seria um símbolo não consumado e simbolizaria a mera forma de um sentimento.
Para a autora, um símbolo existiria somente se fosse empregado como tal e
deveria ser um símbolo para alguém. Distinguir-se-ia de seu objeto pelo estado
da mente da pessoa para quem o símbolo representasse aquele objeto. Seria o
veículo para a concepção do objeto, o instrumento usado por alguém para pensar
no objeto. Sua função essencial seria levar a pessoa a conceber, a pensar sobre
aquilo que simbolizasse. Por exemplo, uma partitura seria um símbolo de uma
sinfonia por ser usada para conceber a sinfonia e por existir uma regra de
projeção que a projetasse na partitura: na existência de tal regra estaria a
similaridade interna entre a sinfonia e a partitura.
Ainda segundo Langer, a função artística da música seria simbolizar sentimentos:
emoções, estados de espírito, tensões mentais e resoluções e outros estados da
mente e não servir como a expressão do compositor de uma peça musical ou
para evocar as emoções do ouvinte. Para a autora, na música, os sentimentos
poderiam ser encarados e compreendidos. O que a música fornece aos ouvintes
não seriam sentimentos, nem os seus próprios nem os do compositor, mas
insights dos sentimentos. Sendo a função da música simbólica, ela deveria
formar uma série de símbolos discursivos ou não. A música seria, então um
símbolo representacional da vida emocional.
28 Confrome Langer, os sentimentos humanos seriam muito mais congruentes com
as formas musicais do que com os elementos de uma língua ou linguagem, pois a
música poderia revelar a natureza dos sentimentos em detalhe e
verdadeiramente, o que a linguagem não conseguiria fazer.
Abbate (1996), sob outra ótica, analisou a música clássica do século XIX e do
século XX, operística e instrumental e concluiu que a presença da narrativa
musical pode ser observada pela seqüência de “dramas” estabelecida no enredo
de uma peça musical, como descreveram vários estudiosos da música, que
compararam a narrativa musical à narrativa literária, mas que além disso, existe
uma distância entre a aquilo que a música propriamente dita narra e o que
ambiente musical que a envolve narra.
A autora considera que a música tem voz, não necessariamente significando uma
performance vocal, mas um senso de gestos raros e isolados vocais ou não, que
são percebidos como modos de enunciações de diferentes assuntos e provida
de força física pois seria capaz de atacar o ouvinte com seu som puríssimo. Por
outro lado, para a autora, a ênfase na voz facilita uma mudança da autoridade do
monólogo musical do compositor e do executante, na medida em que significa as
múltiplas vozes que potencialmente constituem uma peça musical.
Dentre os exemplos citados, Abbate (1996) mostra que o discurso dos
personagens de uma ópera, incluindo o narrador, quando presente, é
freqüentemente diferente daquele apresentado por todo o “composto” musical e
menciona que “esse efeito faz uma alegoria da experiência do espectador de
uma ópera (daquele que ouve a música), e que ao mesmo tempo divide a voz
autoral-composicional (daquele que cria a música), realocando essa voz em um
caráter de conscientização recente de que ele ou ela é um executante (daquele
que ao cantar está também fazendo música). Como na música fenomenal, esses
momentos são o meio pelo qual a própria ópera se ostenta, representando nela
própria aqueles que a vêem e ouvem, aquele que a escreveu, e aquele que a
29 executa, mesmo que ela torne embaçada a distinção entre essas três funções”.
(p.119).
Seria a narrativa musical, como descrita por Abbate (1996) semelhante à
narrativa da propaganda, como apresentada por Rocha (1995), onde um produto
é consumido com base nos significados narrados pela propaganda e onde a
música, como a propaganda, seria o ritual de passagem do mundo do eu para o
mundo do outro?
Cooke e Collingwood desenvolveram seu pensamento através da teoria
expressionista da música. O expressionismo considera que o criador da obra de
arte sofre uma experiência que deseja transmitir ou comunicar para os outros,
deseja que os outros a experimentem por meio de um objeto criado ou
imaginado por ele, que é ou pode ser percebido, como um quadro, um conjunto
de sons musicais, uma estrutura de palavras, e fazer com que os outros possam
sentir a verdadeira experiência que o artista quer transmitir. O autor precisaria
externalizar sua experiência interna para torná-la disponível. (Kivy, 1993, Cook,
1992 e Budd, 1992)
Cooke tentou demonstrar a existência de correlações entre emoções e
determinados padrões sonoros que foram usados para expressar essas
emoções, mediante pesquisa na música ocidental tonal a partir do século XV.
Mas a idéia de ser a música uma linguagem foi bastante criticada, já que lhe
faltava um de seus elementos, a sintaxe. Portanto, não sendo a música uma
verdadeira linguagem, ela também não teria um verdadeiro vocabulário. A música
seria um instrumento para transmissão de emoções e, assim sendo, o ouvinte
poderia sentir a emoção, mesmo que a música não lhe fosse familiar, e nesse
caso, o valor da música seria determinado pelo valor da experiência do ouvinte.
Nesse contexto, a música competiria com outros instrumentos que transmitissem
emoções (Budd, 1992)
30 Collingwood (apud Cook, 1992) chamou de falsa arte aquela que produz certos
estados de espírito em certas pessoas, determinando seus ouvintes, e dizia que,
dessa forma, a maioria do que seria atualmente chamado de arte não seria arte,
mas entretenimento.
Collingwood declarou que a percepção de uma peça musical como arte ou como
divertimento não dependeria da música mas sim do ouvinte, resultado de uma
construção mental própria de cada um, feita com seus próprios esforços e
inacessível para outra pessoa que não tivesse feito os esforços necessários e na
direção correta.13
Para o autor, uma peça musical não seria algo audível, mas algo que poderia
existir somente na cabeça do músico, incluídos no termo músico, ouvintes e
compositor. A imaginação do músico estaria sempre suplementando, corrigindo,
expurgando aquilo que realmente ouvisse. Assim, a música que ele realmente
apreciasse como obra de arte não seria sensorialmente ou realmente ouvida,
seria algo imaginado.
Algumas manifestações do expressionismo musical no marketing podem ser
apresentadas: a utilização da música como meio de tocar as emoções do
consumidor e fixar uma marca14
; ou anúncios que criam sentimentos positivos
pelo uso da música (Olsen, 1997; Roppola, 1995; Stewart e Punj, 1998).
O expressionismo musical é criticado por separar o valor da natureza intrínseca
da obra musical e considerá-la apenas um veículo de transmissão e, por faltar a
13 Talvez a musicoterapia seja um exemplo para a teoria de Collingwood, na medida em que utiliza
a música como forma de combater a fadiga e a depressão, e de diminuir os níveis do hormônio cortisol no sangue. Nesse caso, pessoas ao ouvindo Debussy, Ravel, Bach ou Brahms são induzidas por um terapeuta a falar sobre as imagens que espontaneamente lhe vêm à mente. West, S. Or you could have a martini. Forbes US, FYI Supplement, Summer 1998, p.86.
14 Como a Mazda, no Reino Unido, que encomendou um concerto a um compositor clássico. CONCERTO to play on Mazda brand values. Marketing Week, 19 (6), p.9.
31 essa teoria a integração entre o que a música expressa e a própria experiência
da música.
2.1.2. O Papel do Ouvinte
Segundo Budd (1992), a música poderia ser considerada sob três ângulos, do
ponto de vista do compositor, do executante ou executantes e do ouvinte. Esses
pontos de vistas não seriam inteiramente diferentes e estariam até
interconectados: o compositor, de modo geral, desejaria que sua composição
fosse executada e tanto o compositor quanto o executante desejariam que a
performance fosse ouvida. O ouvinte de Budd somente ouviria a música e não
teria outras atividades enquanto a ouvisse, como dançar, relaxar ou participar de
encontros sociais onde a música preenchesse os espaços vazios, criasse um
determinado “clima”. Além disso, esse ouvinte escutaria música com expectativa
do que ela fosse intrinsecamente.
Budd (1992) reconheceu, portanto, a importância do ouvinte: “é bem verdade que
a maioria dos compositores nunca pensou na sua música essencialmente como
algo para ser ouvido, e é bem verdade que em muitas, talvez na maioria das
culturas, a atitude do ouvinte nunca tenha sido cultivada” e continua “se a música
não traz benefícios para o ouvinte, então, embora ela possa ter muitos tipos de
valor, há um valor importante que falta” (p. 17).
Becker (1984), sob outro ângulo, menciona que nem sempre as atividades de
composição e execução ocorrem independentemente e cita o exemplo das obras
de Stravinsky, que escreveu três peças para piano, duas das quais com
acompanhamento orquestral, concebidas para serem tocadas por um pianista
não mais virtuoso do que ele próprio ou do que seu filho e que além disso,
reservou para si os direitos de apresentação e de regência de suas próprias
obras por alguns anos, o que lhe permitiu manter seu padrão de vida.
32 Muitos estudiosos definiram música de acordo com a atividade imaginativa do
ouvinte, como Collingwood, citado anteriormente. Alguns consideraram que a
música não seria executada para determinado órgão do aparelho auditivo,
levando dessa forma ao ouvinte uma responsabilidade estética; ou que a maioria
dos amantes da música a ouviriam de maneira inadequada, respondendo
apenas a qualidades sensoriais e a sugestões emocionais da música; ou que
ouvir uma sinfonia teria o mesmo efeito psicológico de fumar um bom charuto ou
de um banho de banheira, embora não haja consciência deste fato, pelo ouvinte
(Cook, 1992).
Ouvir música dessa forma não envolveria, então, a consciência imaginativa da
composição como obra de arte. Ao afirmar isso esses estudiosos não estariam
questionando o efeito emocional da música mas sim que a beleza estética de
uma peça musical não dependeria da emoção que a música estimulasse mas
das propriedades objetivas da peça. A condição mais essencial da apreciação
estética seria ouvir a música de acordo com a vontade e a maneira que o ouvinte
determinar. Para eles a música ambiente, por exemplo, seria usada como meio
de introduzir certas emoções, não sendo, portanto, uma obra de arte em sentido
musical puro.
Hampshire (apud Cook, 1992) assim como Collingwood, também estabeleceu
uma diferença entre arte e entretenimento na música, citando que "a música é
compreendida como arte, se e somente se, o ouvinte é intelectualmente ativo
durante o ato de ouví-la. Se o ouvinte permanece passivo diante da música está
apenas tratando a música como entretenimento... O ouvinte cria a impressão na
sua própria mente ao traçar a estrutura da peça para si próprio, usando sua
própria imaginação e sua memória musical. Se nenhum paralelo estabelecido na
sua mente é considerado interessante o trabalho falhou enquanto obra de arte"
(p. 16).
Alguns autores, como Hanslick, Adorno e Dahlhauss, também citados por Cook
33 (1992), consideraram ser a compreensão técnica da música pré-requisito para
uma apreciação de alto nível, que dificilmente seria alcançada por alguém sem
formação adequada. Dahlhauss, em particular, aborda a incapacidade de ler
música como um impedimento para ouvir música adequadamente e faz
referência ao ouvinte qualificado. Esta posição é contestada por McAdams
(apud Cook, 1992), para quem o mais importante seria a liberdade e a
criatividade da interpretação do ouvinte. Ele afirmou que a vontade e o enfoque
do ouvinte representariam um papel extraordinariamente importante nos
resultados finais da percepção.
Com relação aos autores que concordam ser necessária uma preparação para
ouvir música, segundo Cook (1992), seria praticamente consenso entre críticos,
musicólogos e estetas do século XX, o conceito de que "para ouvir e apreciar
música é necessária uma atividade mental elevada, que combina percepção
sensorial com compreensão racional baseada em alguma espécie de
conhecimento da estrutura musical" (p.21).
Diversas experiências foram realizadas, com o intuito de provar o processo
racional por trás do ato de ouvir e perceber música. Para tal, grupos de ouvintes
foram confinados em uma sala e submetidos a ouvir, através de um fone de
ouvido, duas seqüências de som tocadas simultaneamente, sendo uma em cada
ouvido. Cada seqüência sozinha, não fazia nenhum sentido, mas juntas formavam
uma linha melódica. Quando perguntados sobre qual seqüência soava em que
ouvido, os ouvintes tenderam a agrupar os sons pela proximidade de freqüências
entre eles e não em função da origem do som (que ouvido). Alguns testes
indicaram que os sons mais agudos eram percebidos mais facilmente (Cook,
1992).
Outros experimentos mostraram o conceito de que a forma seria a influência do
todo sobre a percepção das partes: ouvir uma peça, como uma sonata,
significaria ouvir a própria sonata, nos seus quatro movimentos. Alguns
34 argumentos mostraram que o ouvinte, nesse caso, poderia somente ser capaz de
saber que a peça era uma sonata e não capaz de ouví-la como tal. De qualquer
forma, tratou-se de uma investigação científica com o intuito de verificar como a
organização formal de uma peça musical afetaria a resposta estética.
A questão do comportamento foi também abordada por vários estudiosos da
música ocidental. Estudos mostraram que o comportamento do ouvinte poderia
variar em função do contexto, do ambiente e de acordo com a situação em que a
música fosse ouvida. Muitas pessoas ouvem apenas um determinado movimento,
aquele de que mais gostam, sem observar o contexto na peça a que o movimento
pertence. Há muitos discos que contêm apenas alguns movimentos, os favoritos
de diferentes peças, de diferentes compositores.
Para White (apud Cook, 1992), isso mostraria que muitos ouvintes ouviriam frase
após frase, esperando ansiosamente por aquela de que mais gostassem.
Mesmo nas salas de concerto, onde as pessoas fossem para ouvir música e
pagassem muitas vezes caro por isso, seria necessário determinado
comportamento, roupas adequadas, não seria permitido tossir fora dos
intervalos, aplaudir entre um movimento e outro, sob o risco de serem
repreendidas pelo restante da platéia.
Do ponto de vista sociológico, como mostra Becker (1984) a arte seria uma
atividade coletiva englobando diversas atividades e não apenas as obras
propriamente ou aqueles convencionalmente chamados de criadores.
Essa definição contradiz de certa forma a abordagem de alguns sociólogos da
arte, que produz julgamentos estéticos, que considera a arte como algo mais
especial, onde a criatividade vem à tona e como característica essencial de
expressão da sociedade, especialmente por grandes obras de gênios.
Para Becker (1984) toda obra de arte, como qualquer atividade humana, envolve
35 a atividade conjunta de um número, freqüentemente um grande número de
pessoas. Por meio de sua cooperação, a obra de arte que vemos ou ouvimos
acontece ou continua a acontecer. As formas de cooperação podem ser
efêmeras, mas geralmente tornam-se rotineiras, produzindo padrões de atividade
coletiva a qual o autor chama de mundo artístico.
O autor cita o exemplo de um concerto de uma orquestra sinfônica. Para que ele
aconteça, os instrumentos tiveram que ter sido inventados, fabricados e
passados por manutenção, assim como uma notação teve que ser estabelecida
e a música composta usando essa notação, pessoas tiveram que aprender a
tocar em seus instrumentos as notas estabelecidas, tempo e lugares foram
dedicados aos ensaios, propaganda sobre o concerto teve que ser feita,
publicidade teve que ser providenciada e os ingressos vendidos, uma platéia
teve que ser capaz de ouvir o concerto e de certo modo uma compreensão e uma
resposta à apresentação teve que ser restabelecida. Indica ainda outras
atividades necessárias para que o concerto aconteça, às quais chama de
atividades de apoio: o palco deve ser varrido, alguém serve um cafezinho,
alguém copia e distribui as partituras e assim por diante.
Becker (1984) acrescenta que alguém deve responder à obra de arte e no caso
do concerto de uma orquestra sinfônica o ouvinte deve reagir emocional ou
intelectualmente e apreciar ou não o concerto.
Além disso, o autor menciona a atividade de criar e manter razões (a rationale)
de acordo com as quais todas essas outras atividades fazem sentido e se
viabilizam. Essas razões são de um modo geral um argumento estético, uma
justificativa filosófica que identifica o que está sendo realizado como arte, se de
qualidade ou não e, que explica como a arte deve fazer algo pelas pessoas e
pela sociedade. Becker mostra ainda que uma ordem cívica deve ser
estabelecida para garantir que as pessoas envolvidas nas atividades artísticas
possam contar com uma certa estabilidade e possam sentir a existência de
36 “regras do jogo” para serem seguidas. E essa ordem é estabelecida pelo direito
privado à propriedade ou pelo direito do Estado.
Becker mostra ainda que o mito do artista imaculado propicia também que as
pessoas presenteadas com tais talentos não sejam submetidas, como os outros
membros da sociedade são, às restrições impostas por ela, ou seja, lhes é
permitida violar regras do decoro, propriedade e senso comum sem que sejam
punidos por tal e como recompensa a sociedade receberia um trabalho de
caráter único e de invalorável qualidade. Mas essa crença não aparece em todas
as sociedades, sendo característica da sociedade ocidental ou das por ela
influenciadas, desde a Renascença.
A “autonomia musical” questionada por Becker (1984) é também discutida por
outros autores como McClary (1996) e Leppert (1996) que mostram que música e
sociedade estão integralmente conectadas e que a música apresenta uma
função no contexto social, inclusive como um meio de transmissão da ideologia
dominante.
McClary (1996) confronta o estudo da música na cultura ocidental, em uma esfera
especial separada, repleta de rituais e atitudes pseudo-religiosas, com o estudo
da música como essencialmente uma construção humana, embasada
socialmente e socialmente alterada.
McClary (1996), mediante a análise da música instrumental e vocal de Bach,
investigou os modos como a música funciona na “consciência ocidental”,
diferentemente da literatura e das artes plásticas, as batalhas políticas na teoria
musical sobre as definições de barulho e ordem, bem como as estratégias de
silenciar vozes alternativas, como mulheres, minorias étnicas, cultura popular e a
“vanguarda” pela tradição clássica e reificação do significado que
necessariamente serviu, segundo a autora, à canonização do repertório de Bach.
37 A autora mostra que desde Pitágoras e a descoberta de uma correspondência
entre tons harmônicos e proporções numéricas, a música ocidental é tratada em
uma esfera metafísica, dissociada do contexto político-social. Diferentemente das
outras artes, a música entra pelo ouvido, o órgão mais vulnerável dos sentidos,
pois não pode ser fechado ou usado seletivamente e “especialmente na cultura
ocidental, onde o visual e o verbal são privilegiados como fontes de
conhecimento, o som e a música tendem a escapulir-se e nos surpreender. O
impacto do fenômeno é imediato: parece que experimentamos concretamente e
intimamente o que a música ditar” (p.16).
Além disso, segundo a autora, o caráter não-representacional da música faz com
que ela pareça ser gerada por seus próprios princípios, abstratos e contidos nela
própria. McClary cita o exemplo de um ré menor que é capaz de levar uma
pessoa às lágrimas, afirmar suas expectativas ou destruir suas crenças, se
dentro de um contexto dependente de normas, regras e princípios abstratos
conhecidos apenas por iniciados, como em uma obra musical, mas que por si só
não representa nada. Mostra que de um lado há um “sacerdócio” de profissionais
que aprendem os princípios da ordem musical e até a manipulá-los e de outro os
ouvintes que respondem fortemente à música, com pouca consciência crítica
sobre ela e que ambos não têm interesse em quebrar esse encanto e que assim
sendo a ideologia musical assume um aspecto político.
McClary (1996) observa que a música que domina o repertório de concerto nos
anos noventa é a mesma do Iluminismo do século XVIII: a música que foi
primeiramente formatada de acordo com os valores sociais da classe média em
estabilização. Essa música parece se apresentar como harmoniosa, perfeita,
orgânica, unificada, formalmente balanceada, capaz de absorver e resolver todas
as tensões. Já a música do século XVII, mostra, segundo a autora, nas suas
estruturas fragmentadas, suas ilegitimadas dissonâncias, e no seu ornamento
desafiantes arabescos, o disruptivo, lutas violentas da burguesia emergente
contra as normas da igreja e da aristocracia, tanto quanto a música do século
38 XIX, que dramatiza os conflitos entre o próprio subjetivo e as restrições da
sociedade burguesa ou no período clássico, onde a música pretende ser
manifestação do perfeito, do absoluto, da forma e da verdade universais.
Com relação à música de Bach, considerada universal, transcendente ao seu
tempo, lugar, carreira e personalidade, a autora mostra que uma vez entendido
cada um dos estilos do músico, como uma articulação de uma miríade de valores
sociais, podem ser detectados detalhes de suas tensas relações sociais e
profissionais e até mesmo do contexto político em que se manifestavam.
McClary cita, que como alemão, Bach pertencia a uma sociedade colonizada por
longo tempo pela música da igreja e então pelo domínio secular da ópera italiana
e pelas manifestações musicais do Absolutismo francês, mas que sua música
refletia os antagonismos de suas posições sociais e políticas que se
reconciliavam através dela.
McClary (1996) aponta como características musicais da obra de Bach que
refletiriam a ideologia dominante: a música harmônica, que mostra os valores
articulados pela classe média, quais sejam o crença no progresso, na expansão,
na capacidade de atingir objetivos por meio de esforço racional, a ingenuidade
do estrategista individual que opera ao mesmo tempo dentro e fora da regra; o
número de instrumentos envolvidos em cada movimento da peça musical, um ou
mais solistas, que representariam as interações entre indivíduo e sociedade; a
presença do cravo, como instrumento tradicional, correto, articulado com a
norma, que suporta a expressão livre de solistas (geralmente o baixo contínuo); o
ritornello15, que pressupõe uma reconciliação com a ordem coletiva e, na música
vocal, o solo divino como uma voz masculina e o solo de um fiel como uma voz
feminina16
15 ritornello na linguagem musical significa uma volta, uma repetição de um determinado trecho da
peça.
.
16 Para um estudo mais profundo da música de Bach, veja-se McCLARY, S, The blasphemy of talking politics during Bach year, In: Music and Society: the politics of composition, performance and reception . Cambridge : Cambridge University Press, 1996. pp. 13-62.
39
Leppert (1996), por sua vez, investigou o papel desempenhado pela música e
pela pintura na separação racial entre os nativos e os conquistadores,
desenvolvida gradualmente na Índia, em especial pelos ingleses, no século XVIII e
no início do século XIX e observou que essas duas artes assumiam um papel de
significantes e de transmissores dos valores culturais e das estruturas social,
político e econômica e da ideologia que os apoiava. O autor mostra que os
quadros pintados na Índia, nessa época, omitiam por exemplo imagens
relacionadas ao próprio país e que muitos apresentavam imagens de pessoas e
instrumentos musicais ocidentais.
O autor pesquisou também o papel dos músicos e seus instrumentos musicais na
música ocidental nos mesmos século XVIII e início do XIX e apresenta que os
instrumentos com teclado, como o cravo eram geralmente tocados por mulheres
e que significavam e asseguravam o papel doméstico feminino: as propagandas
de cravos o indicavam para ser usado em casa, a prática musical era
aconselhada para mulheres, cujos benefícios seriam o aumento da felicidade, a
inspiração da tranqüilidade, a harmonia da mente e do espírito, principalmente
durante as “perturbadas ou solitárias horas” a que eram “destinadas” as
mulheres.
2.1.3. Síntese Conceitual
Em resumo, a análise das definições de música, pelos teóricos, compositores,
executantes e ouvintes mostra a dificuldade de definir o que é a música.
Essas situações vêm mostrar que cada um tem sua definição de música, a
abrangência e os limites do que pode ou não pode ser considerado como
música. O valor da música, como não poderia deixar de ser, está sempre do lado
do ouvinte, e a qualidade, os benefícios da música são sempre percebidos por
seus consumidores, quer ouvintes, intérpretes ou compositores.
40
2.2. O MARKETING DA MÚSICA E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
As idéias do músico Erik Satie em relação às questões teóricas da música,
apresentadas por Medaglia, no trabalho “Música Impopular”, são interessantes de
reproduzir. Satie questionava:
“Os pintores e os escultores vivem reproduzindo figuras de animais em
suas obras. Os animais, eles mesmos, parecem ignorar por completo as
artes plásticas. Eu desconheço qualquer pintura ou escultura feita por
animais. Eles gostam, mesmo, é de música e arquitetura. Eles constróem
ninhos em casas que são verdadeiras maravilhas artísticas e industriais
para viver com suas famílias. E não resta dúvida de que eles praticam
música até mais do que nós. Eles têm um código musical diferente do
nosso, é bem verdade. Trata-se de uma outra escola. É preciso entender-
se o que significa relinchar, miar, cacarejar, piar, mugir, latir, uivar, rugir,
arrulhar, ronronar, grulhar, ganir para se ter uma idéia de sua arte sonora.
Ela é tão bem ensinada de pai para filho que, em pouco tempo, o aluno se
iguala ao mestre” (p.123).
“Jaques Dalcroze vem fazendo muito sucesso associando o esporte ao
solfejo. Eu recomendo três sonatas de Beethoven, diariamente, que
provocam um emagrecimento progressivo e muito sensível e seis fugas de
Bach, que exercem sobre as células gordurosas uma ação fulminante”
(p.124).
“Nossas composições são garantidas contra quintas e oitavas17
17 quintas – intervalo de som formado por três tons e um semitom; oitavas – intervalo de som
formado por cinco tons e dois semitons
paralelas.
Os compositores da casa só empregam harmonias tradicionais e
41 devidamente aprovadas por longo uso. Ao gosto de hoje. Toda a nossa
música moderna foi cuidadosamente retocada por nossos funcionários
especializados. Nosso princípio comercial: fazer o novo com o velho” (p.
127).
Satie, por essas afirmações, parecia discutir, mesmo que não abertamente,
importantes questões do marketing e mostrar como podem ser diferentes as
necessidades e desejos dos consumidores da música clássica.
O marketing, como citam Hill et al. (1998) “tem sido uma das grandes idéias nas
artes. Mas sob um aspecto não há nada de novo sobre ele. É simplesmente o
reconhecimento de que, sem clientes, as artes somente têm custos.” (p. ix).
Assim, ainda segundo Hill et al. (1998), o marketing das artes parece apresentar
suas próprias questões, dependendo da forma de arte em análise.
No caso da música clássica, a “identificação dos problemas” de marketing
relacionados a algumas variáveis poderia ser exemplificada como a seguir:
- que clientes
público tradicional, fãs, especialistas, pessoas que precisam ser
“convertidas”, público ocasional que deveria consumir mais freqüentemente;
:
- que produto
que evento: a apresentação de um concerto, de uma ópera, etc.;
:
que organização: que orquestra, coro, regente, solistas, patrocinador, etc.;
-
concertos ao vivo, concertos ao vivo filmados pela televisão; concertos
gravados; concerto como meio de estudo.
onde:
42
2.2.1. Conceito de Marketing
Diversas definições de marketing vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos,
desde que foi reconhecido como disciplina da Administração, no período pós-
guerra, nos Estados Unidos. Nessa época, a oferta de bens e serviços passou a
crescer mais do que a demanda e muitas empresas tiveram que repensar suas
estratégias de negócios frente a concorrência.
Como mostram Kotler e Bloom (1990), o marketing ainda tem sido considerado
como algo nocivo, mal-entendido e mal-interpretado, e muitas pessoas o vêem
como atividade manipuladora, intrusa e não profissional, ou então o relacionam à
propaganda ou a vendas. Nas artes, o conceito e a prática do marketing vêm
sendo adotados apenas mais recentemente.
Conforme Rocha e Christensen (1999), o marketing “procura obter o melhor
acoplamento possível entre segmentos da oferta e da demanda” (p. 22).
De acordo com Davidow (1991) o objetivo do marketing é “vencer, contrariar as
probabilidades, converter derrota em vitória” e o marketing “deve criar produtos
completos e levá-los a posições de liderança em segmentos defensáveis de
mercado” (p.1,13).
Para Webster Jr (1991), marketing “é a função pela qual uma empresa ou outra
organização econômica, projeta, promove e entrega bens e serviços para
consumidores e clientes” e significa, ainda para o autor “conhecidos
consumidores e seus problemas, inovar soluções para esses problemas e
comunicá-las para um mercado-alvo cuidadosamente definido” (p. 1,2).
Segundo McKenna (1993), “marketing é tudo e tudo é marketing” e com isso
mostra que o marketing “não é uma função, mas uma forma de fazer negócios” e
43 “tem de ser uma atividade difundida, parte do trabalho de todos, das
recepcionistas à diretoria” e é “integrar o cliente à elaboração do produto e
desenvolver um processo sistemático de interação que dará firmeza à relação”
(p. 5,6).
Para Kotler (1972), marketing é “a série de atividades humanas direcionadas
para facilitar e consumar trocas” e a administração de marketing é a “análise, o
planejamento, a implementação e o controle de programas destinados a realizar
as trocas desejadas com mercados-alvo para obter ganhos pessoais ou mútuos
e conta fortemente com a coordenação do produto, preço, promoção e
distribuição para alcançar a resposta efetiva” (p. 12,13).
A administração de marketing nas organizações parece ter passado por três
orientações, nos últimos anos: a administração orientada para produto, onde a
questão central do marketing consistia em desenvolver melhores produtos de
acordo com o conceito da organização, que acreditava que esses produtos iriam
atrair os consumidores; a orientação para vendas, onde a principal função do
marketing era aumentar o mercado por meio do esforço de vendas e a
orientação para marketing que determina que consumidores cada vez mais
exigentes são quem decidem se e quando as transações serão feitas. A criação
de uma orientação para marketing parece ser a principal missão de uma
organização que procura ser efetiva e eficiente.
O Quadro 2.2.1.1, apresentado a seguir, adaptado de Ferreira (1995), coteja as
três orientações citadas.
44 QUADRO 2.2.1.1
ADMINISTRAÇÃO ORIENTADA PARA: PRODUTO vs. VENDAS vs. MARKETING
item orientação
produto vendas marketing atitude em relação aos clientes
o cliente tem muita sorte de existirmos: sem nós a sua vida seria muito mais difícil
temos muita sorte em achar clientes: sem eles não poderíamos vender nossos produtos e continuar existindo
temos compromisso em atender as necessidades dos nossos clientes e sua satisfação é a razão de nossa existência
oferta fazemos o que achamos ser mais adequado para o cliente
fazemos o que julgamos poder vender
fazemos o que o cliente deseja e necessita
pesquisa de mercado
“para quê?” para determinar o que mais pode ser vendido
para determinar o grau de satisfação do cliente e novas oportunidades de negócios
inovação foco na tecnologia a ser desenvolvida
foco nas vendas a serem geradas
foco em novas oportunidades de atender aos clientes (atuais e potenciais)
lucro a diferença entre o custo e a receita gerada
aquilo que for gerado pelas vendas
objetivo principal da organização
crédito ao cliente
problema de quem compra
um mal necessário um serviço adicional ao cliente
estoque depende da capacidade de produção
depende da capacidade de efetuar vendas
depende das necessidades de compra dos clientes
transporte um encargo da organização
um custo adicional para a organização
um serviço ao cliente
propaganda foco nos atributos do produto
foco na oferta que está sendo feita
foco em criar imagem de compromisso entre o que é oferecido e as necessidades que tenta suprir
força de vendas mal necessário: o produto se vende sozinho
é tudo o que importa ajuda o cliente a comprar o que realmente precisa e traz informações sobre o que o cliente gostaria de ter a mais
embalagem invólucro para o que é produzido
deve tornar o produto mais conveniente
é função da conveniência do cliente e também um instrumento de vendas
Fonte: FERREIRA, A. L. Marketing para pequenas empresas inovadoras, Rio de Janeiro, Expert
Books, 1995, p.58
45 Como abordam Kotler e Scheff (1997), é comum observar as situações
exemplificadas a seguir em organizações artísticas:
(i) A organização considera sua oferta como inerentemente desejada:
Muitos administradores não acreditam que uma pessoa altamente
qualificada não deseje assistir a suas produções; outros se colocam
acima do mercado e atribuem a falta de sucesso da organização à
ignorância do consumidor ou à falta de motivação para consumir; outros
consideram que ainda não encontraram a melhor maneira de comunicar os
benefícios de suas ofertas ou de criar os incentivos adequados para
superar a inércia dos consumidores; outros desprezam os consumidores,
escrevem muitas vezes comentários nos programas em uma linguagem
acessível apenas a uma elite ou àqueles que aspiram a essa elite;
(ii) A pesquisa de mercado assume um papel menor na organização:
As organizações não têm como adivinhar as atitudes ou motivações de
seus públicos e os administradores que o fazem devem ser desafiados em
suas suposições sobre os consumidores; os resultados de uma pesquisa
de mercado permitem não somente analisar o público atual da
organização, mas também assumir uma posição pró-ativa para prever e
antecipar mudanças nas atitudes dos consumidores;
(iii) Marketing é fundamentalmente definido como promoção:
A promoção é apenas um dos elementos do marketing mix e concentrar
esforços apenas em promoção significa não aproveitar todos os
benefícios que o marketing pode proporcionar à organização. Um
consumidor pode se sentir atraído a assistir a um concerto em que haja
uma promoção no preço do ingresso, como dois ao preço de um, desde
46 que o próprio produto, a localização e a experiência total sejam
satisfatórios para ele e se assim não for é pouco provável que esse
consumidor retorne em uma próxima apresentação;
(iv) Os especialistas de marketing são selecionados com base no seu
conhecimento do produto ou por suas habilidades em comunicação, ao
invés de pelo seu conhecimento dos princípios e métodos de marketing e
especialmente da análise do comportamento do consumidor:
Os melhores administradores de marketing do setor privado são aqueles
que conhecem o mercado, incluídos, consumidores e concorrentes,
aqueles que se utilizam da pesquisa de mercado e sabem como conceber
e implementar sistematicamente planos de marketing. Muitos
administradores de marketing de organizações artísticas, ao contrário,
acreditam que o marketing de suas organizações é tão diferente que não é
possível a transferência dessas habilidades. Além disso, esses
administradores são "artistas" profissionais e sua orientação para produto
os leva a preferirem trabalhar com pessoas que tenham perspectivas
similares às suas.
Por outro lado, algumas organizações artísticas preferem selecionar para
as posições de marketing profissionais com experiência em relações
públicas ou propaganda, para aproveitar as habilidades de comunicação
desses especialistas. Essa ênfase na comunicação/persuasão reflete uma
orientação para vendas.
47 (v) Uma "ótima" estratégia de marketing é utilizada como acesso ao mercado
e é vista como tudo que é necessário:
Um administrador de marketing de artes vê geralmente o mercado como
monolítico ou no máximo como compreendendo poucos segmentos,
geralmente delimitados por idade e classe social, perdendo oportunidades
de atingir outros segmentos;
(vi) a concorrência genérica é ignorada ou pouco compreendida:
Muitos administradores não vêem que suas organizações artísticas
competem a vários níveis. Somente a orientação para marketing permite
entender que, quando uma pessoa decide por assistir a um concerto de
música clássica, a escolha não é feita somente em termos de outros
concertos ou de concertos acontecendo em locais próximos a sua
residência, mas em termos de outros programas culturais alternativos ou
lugares de socialização como museus, teatros, cinemas ou restaurantes.
O chamado “marketing cultural”
Conforme Almeida (1992), o “marketing cultural” é o conjunto de conhecimentos
necessários para examinar três vias de captação de recursos para a produção
cultural, quais sejam, o Estado, a empresa privada e a receita direta. O autor
define marketing como a “capacidade de mostrar, vender, dar visibilidade a uma
determinada idéia, produto ou serviço” (p.9), o que não se coaduna com uma
orientação para marketing, como discutido anteriormente, na medida em que o
ponto de partida não parece ser o consumidor.
Almeida (1992) mostra o “marketing cultural” no Brasil como resultado da
escassez de verbas governamentais direcionadas para a cultura e da riqueza da
48 cultura brasileira. Dessa forma, parece se referir à captação de recursos para
projetos culturais junto a empresas privadas
Com efeito, o estudioso define o “marketing cultural” como “mais um instrumento
de informação junto a um determinado consumidor, assim como a televisão, o
jornal ou a revista” (p.15-16), E prossegue: “a publicidade é a arte da
comunicação e o marketing cultural a comunicação através da arte” (p.19) e “o
marketing cultural tem sido uma forma inteligente que algumas empresas têm
encontrado para realizar promoções de suas marcas ou produtos através de
manifestações culturais” (p.25).
Muylaert (1993) define “marketing cultural” como “o conjunto de recursos de
marketing que permite projetar a imagem de uma empresa ou entidade através
de ações culturais” (p.27).
Em resumo, parece haver uma certa confusão quanto ao conceito de “marketing
cultural”, que algumas vezes é considerado como um dos instrumentos de
promoção de uma empresa, fornecendo recursos para um projeto artístico, e
outras assume a posição de um projeto de um agente ou produtor cultural, ou seja
de quem está a captar recursos para a realização de evento artístico.
No entanto, o marketing das artes deve considerar todos os elementos do
composto de marketing ou marketing mix.
A administração orientada para marketing parece ser a mais moderna e
eficiente. Como mostram Kotler e Scheff (1997) tal orientação requer que a
organização estude sistematicamente as necessidades e desejos dos
consumidores, suas percepções e atitudes, preferências e satisfações e então
possa atuar no aprimoramento de sua oferta de modo a satisfazer melhor as
necessidades desses consumidores.
49 Ainda de acordo com os autores, “isso não significa que diretores artísticos
devam comprometer sua integridade artística” (p. 34), mas apenas que o
planejamento de marketing deve começar com as percepções, necessidades e
desejos dos consumidores e, mesmo que a organização não queira, não possa
ou não vá mudar o portfólio de peças artísticas que realiza ou apresenta, um
maior volume de troca será sempre gerado se a organização descrever,
precificar, embalar, engrandecer e entregar sua oferta como uma resposta
completa a necessidades, preferências e interesses de seus consumidores.
Uma organização artística orientada para marketing, como apontam os
estudiosos, deve focar-se no consumidor e constantemente se perguntar:
. "Quem é nossa platéia atualmente?
. Como definí-la e categorizá-la?
. Qual é nosso mercado potencial mais provável para desenvolvimento futuro?
. Quais são suas percepções, necessidades e desejos atuais?
. Quão satisfeitos estão nossos consumidores com nossas ofertas?
. Como podemos satisfazê-los ainda mais?
. Como também podemos criar a satisfação de públicos potenciais?" (p.40)
Os autores consideram que essa organização artística orientada para marketing
apresenta as seguintes características:
. Confia fortemente em pesquisa;
. Segmenta de forma criativa seus consumidores em grupos-alvo;
50
. Define a concorrência em escopo amplo;
. Implementa estratégias usando todos os elementos do marketing mix e não
apenas a comunicação.
2.2.2. Marketing Mix
Como anteriormente mencionado, segundo Rocha e Christensen (1999) “o
marketing mix ou composto de marketing ou mix de marketing ou composto
mercadológico, é o conjunto de instrumentos controláveis pelo gerente de
marketing, através dos quais ele pode obter o melhor ajustamento entre a oferta
que sua empresa faz ao mercado e a demanda existente” (p.37).
Para Kotler (1972), marketing mix é “o estabelecimento das variáveis de decisão
de marketing de uma empresa, em um determinado ponto no tempo” (p.44).
Essas variáveis são conhecidas como os quatros Ps: Produto, Preço, Praça e
Promoção, que abrangem os seguintes aspectos:
Produto: características do produto, qualidade, marca, serviços,
embalagem, design etc.;
Preço: preço básico, descontos, prazos de pagamento, condições de
transporte, condições de crédito etc.;
Praça: canais de distribuição, distribuição física, transporte,
armazenagem etc.;
Promoção
: venda pessoal, propaganda, promoção de vendas,
publicidade, relações públicas etc.
Kotler e Scheff (1997) afirmam que, recentemente foi acrescentado mais um P ao
marketing mix e citam algumas questões relacionadas à determinação de cada
51 um de seus elementos, para a música clássica ao vivo, como exemplificado a
seguir:
Produto: peças a serem apresentadas e o design da oferta incluindo
decisões de apresentações únicas ou não, plano de
assinaturas ou não, palestras antes da apresentação ou não,
etc.;
Preço: gratuito, preço do ingresso em função ou não da localização da
poltrona, da época de compra do ingresso - se antecipada ou
na hora do concerto, da idade do consumidor – se desconto
para estudantes e maiores de 65 anos, da ocasião do concerto
– se preço maior para estréia, que margem18, etc.;
Praça: onde o concerto será apresentado – se ao ar livre ou em uma
sala, onde serão vendidos os ingressos - se no local, a
domicílio, em lojas;
Promoção: que tipo de comunicação com o público – se propaganda,
relações públicas, mala direta, telemarketing, venda pessoal,
etc.;
Pessoas
: que pessoas entrarão em contato com o público, com
patrocinadores, etc.
No que diz respeito à música clássica tangibilizada pelo CD, de acordo com
pessoas responsáveis pela área de música clássica de algumas gravadoras que
atuam no mercado brasileiro e com Fink (1989), algumas variáveis relacionadas
à definição do marketing mix seriam:
Produto: que compositor, que intérprete, qual peça musical, inteira ou
coletâneas, CD clássico “verdadeiro” ou cross-over, etc.;
Preço: compatível com CDs importados, que margem18, etc.;
Praça
18 margem = preço menos custo de produção
: quais lojas, internet, bancas de jornal, a domicílio; etc.;
52 Promoção
: rádio, mídia impressa especializada, televisão, mala direta,
telemarketing, internet, etc.
2.2.3 Segmentação do Mercado
Como os consumidores parecem ter e querer expressar necessidades, atitudes,
interesses e critérios de compra bastante diferentes e como parece ser muito
difícil para uma organização satisfazer todos os consumidores, cada organização
deve identificar os segmentos de mercado mais atrativos que irá servir de forma
efetiva e eficaz para o consumidor e para a organização.
Segundo Rocha e Christensen (1999) "definir o mercado consiste em responder
à seguinte pergunta: Em que negócio estamos? A definição do mercado está
nitidamente associada à necessidade do consumidor que o produto serve ou
pretende servir" (p.51).
Mas como definir o mercado de uma organização?
O conceito de sistema de marketing, como mostram Rocha e Christensen (1999),
inclui a ação de fornecedores, produtores, intermediários e consumidores, que
atuam em um ambiente externo à organização e que conforme Kotler (1972)
pode ser dividido em dois grupos: e o macroambiente formado por variáveis
como demografia, economia, política, cultura, tecnologia, etc. e os públicos da
organização, constituído de pessoas, grupos e organizações que têm interesse
na organização.
Kotler e Scheff (1997) classificam os públicos de uma organização artística em
públicos de input (compositores, coreógrafos, escritores, patrocinadores,
fornecedores), que fornecem recursos que são transformados pelos públicos
internos (executantes, administradores, diretores, voluntários) em bens e serviços
(concertos, assinaturas, benefícios, programas educacionais), que são levados
53 por públicos intermediários
(agências de propaganda, repórteres, críticos) aos
públicos consumidores (membros da platéia, moradores do local, ativistas,
mídia), conforme ilustrado na Figura 2.2.3.1 seguinte e esses públicos não têm o
mesmo grau de importância para a organização (p.62).
Um mercado, segundo Rocha e Christensen (1999), existe desde que "o
consumidor perceba a existência de uma necessidade, que exista pelo menos
um produto para satisfazê-la e que exista capacidade de compra" (p.43). No
entanto, a definição de um mercado não é uma questão simples e depende da
decisão a ser tomada pela organização, se estratégica ou tática.
FIGURA 2.2.3.1
PÚBLICOS DE UMA ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICA
Fonte: Kotler, P., Scheff, J. Standing Room Only
: strategies for marketing the
performing arts, Boston : Harvard Business School Press, 1997 (p. 62)
organização artística
mídia
sindicatos
assinantes
concorrentes
agências governamentais e outros grupos de interesse
platéia em geral
fundações públicas, privadas e corporativas
patrocinadores individuais
administração diretores
voluntários
patrocinadores corporativos
executantes
diretores artísticos, compositores
54 A definição do Kotler (1972) menciona que “segmentação de um mercado é
dividí-lo em subsegmentos de consumidores, onde cada subsegmento deve ser
concebido e selecionado como mercado-alvo para ser atingido por marketing
mix distintos" (p.166).
Para Davidow (1991), segmentar um mercado é “identificar as características
dominantes de uma população de clientes e, em seguida, criar um produto que
atenda às necessidades que emergem daquelas características” (p. 21). De
acordo com o autor, os segmentos de mercado não são tão nítidos e nem
arrumados e um mesmo consumidor pode facilmente pertencer a vários
segmentos e para segmentar seria necessário fazer a seguinte pergunta: por que
os clientes iriam escolher esse produto e não os da concorrência?
Para Levitt (1991), diferenciar uma oferta “implica saber como os clientes diferem
uns dos outros e como essas diferenças podem ser reunidas em segmentos
comercialmente significativos. Se você não estiver pensando em segmentos não
estará pensando”. (p.136)
Kotler e Andreasen (1991) e Hill et al. (1998) mostram que uma base de
segmentação é adequada se os segmentos forem:
. mutuamente excludentes: cada segmento possa ser separado dos outros
segmentos, ou seja, se o critério for por exemplo os consumidores atuais e os
antigos, esse não parece ser um bom critério na medida em que um mesmo
consumidor pode pertencer aos dois segmentos;
. exaustivos: todo consumidor potencial membro do segmento deve ser incluído
em algum segmento, e se por exemplo o critério for a segmentação por status
familiar, os consumidores devem ser agrupados de modo a cobrir casais não
oficialmente casados e comunidades religiosas ou “hippies”, onde
classificações como “cabeça do casal” não se aplicariam;
55
. mensuráveis: variáveis como tamanho, poder de compra e perfil devem poder
ser medidas;
. acessíveis: os segmentos identificados devem poder ser efetivamente
atingidos e seus integrantes satisfeitos;
. substanciais: os segmentos identificados devem ser grandes o suficiente para
serem tratados separadamente, de modo a compensar o esforço de
marketing a ser despendido e
. ter respondentes diferenciáveis: os segmentos identificados devem responder
de forma bastante semelhante às diferentes quantidades, tipos e durações da
estratégia de marketing, ou seja, a resposta dos grupos a um determinado
tipo, ou duração, ou gasto, de propaganda por exemplo deve ser a mesma.
Assim, de acordo com Kotler e Andreasen (1991), a organização pode decidir
atuar por meio das seguintes estratégias de marketing:
. marketing não-diferenciado: tratar o mercado como um todo, esquecendo os
segmentos, atuar por meio de um único marketing mix, tentando atrair o maior
número de consumidores possível, focando no que é comum entre os
consumidores ao invés do que é diferente (marketing de massa);
. marketing diferenciado: desenvolver um marketing mix para cada segmento;
. marketing concentrado: desenvolver sua oferta ideal para um segmento do
mercado (marketing de nicho)
Para Porter (1985) as principais armadilhas no desenvolvimento da estratégia de
uma organização enfocando segmentos-alvo são: enfocar segmentos cujas
56 necessidades não são distintas; enfocar segmentos não-atrativos, i.e, onde a
organização não obtenha retorno maior do que a média do mercado; ser
superado pelo concorrente no foco e distorcer o foco ao buscar crescimento.
2.2.3.1. Critérios de Segmentação de Mercado
Como mostram Kotler (1972), Rocha e Christensen (1999) e Kotler e Scheff
(1997), os critérios utilizados para segmentar podem ser geográficos, como
fronteira geográfica; demográficos, como idade, renda, escolaridade, sexo;
psicográficos, como medidas de estilo de vida - atividades, interesses e
opiniões, classe social; e por variáveis relacionadas ao comportamento de
compra do consumidor.
Dentre essas últimas são utilizadas a segmentação por benefícios; por uso ou
volume, por ocasião, por grau de fidelidade do consumidor, por estética e por
grau de disposição para comprar, ainda conforme Kotler (1972) e Kotler e Scheff
(1997).
O quadro 2.2.3.1.1 seguinte apresenta exemplos de critérios de segmentação,
aplicados à música clássica, adaptado de Kotler e Scheff (1997).
57 QUADRO 2.2.3.1.1
EXEMPLOS DE CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO NA MÚSICA CLÁSSICA
segmentação exemplo
geográfica distância entre a sala de concerto e os
bairros de residência do público potencial
demográfica nível de escolaridade
psicográfica atividades de lazer
por benefício sensibilidade à reputação do solista,
sensibilidade ao preço
por uso freqüência em assistir a concertos
por ocasião grau de dificuldade de lidar com o "horário do
rush"
pela fidelidade do consumidor preferência por determinado estilo musical
por estética grau de empatia pela música clássica
pela disposição para comprar nível de informação sobre a orquestra
Fonte: Kotler, P., Scheff, J., Standing Room Only: strategies for marketing the
performing arts
, Boston : Harvard Business School Press, 1997
2.2.3.2. Segmentação por Uso
A freqüência de uso, como apontam Rocha e Christensen (1999) é um critério
bastante utilizado para segmentar um mercado, um vez que, de acordo com
Kotler e Scheff (1997) "muitas vezes o comportamento passado é o melhor
indicador do comportamento futuro" (p.103).
Segundo Kotler (1972), na segmentação por uso a organização identifica os
consumidores pesados, leves e os que não consomem o produto (heavy, light
and non users) e então determina se esses grupos diferem em termos
geográficos ou psicográficos etc.. Geralmente, é interesse da organização o
58 grupo de consumidores pesados, mas todos os grupos devem ser enfocados
pela organização, pois podem oferecer diferentes oportunidades. No grupo dos
que não consomem o produto estão aqueles que efetivamente não consomem o
produto e aqueles que circunstancialmente não o fazem. Estes últimos seriam
consumidores potenciais, que também poderiam ser alvo da organização.
Para Kotler e Scheff (1997), ao tomar a chamada "regra dos 80-20"19
, onde 80%
das compras de um produto são feitas por 20% dos consumidores - os
consumidores pesados, muitas organizações consideram ser mais fácil
direcionar seus esforços de marketing para esse grupo do que para o grupo dos
consumidores leves e de não usuários.
No que concerne à música clássica ao vivo, ainda de acordo com os autores, era
comum, nos Estados Unidos, o foco no aumento da freqüência e da variedade de
pessoas entre aquelas culturalmente ativas. Verificou-se, porém, que este
segmento encontra-se saturado, sua participação nos concertos estagnada ou
caindo ligeiramente, o que viria determinar ações para aumentar o tamanho da
platéia nos concertos.
Um estudo realizado na Filadélfia (Kotler e Scheff, 1997) verificou que
consumidores pesados, leves e não usuários apresentam características comuns
a outros membros das suas categorias.
O estudo mostrou as características dos grupos, conforme descrito a seguir:
. consumidores pesados: valorizavam no tempo de lazer atividades que
ativassem a imaginação ou que fossem novas ou diferentes; dedicavam às
artes um importante papel em suas vidas; queriam participar ativamente de
19 Essa regra é originária da Sociologia/Economia, por meio de estudos do italiano Vilfredo Pareto,
no fim do Séc. XIX, início do Séc. XX, que observou que 20% das pessoas retinha 80% da riqueza e é também conhecida como regra de Pareto.
59 eventos culturais e assistiam uma variedade deles; o grau de satisfação era
função direta da diversidade de eventos que assistiam; davam pouca
importância a atividades associadas a eventos artísticos que lhes permitiam
ser vistos e encontrar outras pessoas e os únicos problemas indicados por
esse grupo era o custo e a conveniência; tendiam a concordar que assistir a
um concerto, um balé ou uma peça de teatro era confortável, relaxante e
agradável para dividir com os amigos;
. consumidores leves: assistiam somente um tipo de atividade artística, ou
apenas esporadicamente diferentes organizações artísticas; custo, conforto,
conveniência eram cruciais em seu processo de decisão; encontrar e ver
outras pessoas era muito importante e um sinal de auto-aprimoramento; os
não usuários relataram que era essencial que seu tempo de lazer fosse
divertido e de entretenimento, que se sentissem relaxados e fosse informal,
que envolvesse a família e os amigos, mas poucos concordavam que uma
visita poderia ser relaxante, informal, divertida, de entretenimento e em conta;
. não usuários: mostraram que a “falta de tempo” não limitava sua participação
em atividades culturais, mas os usuários indicaram mais que os não usuários,
que atividades artísticas competiam com atividades esportivas, com a
televisão e vídeo cassete; eram, comparativamente aos demais
consumidores, mais velhos, apresentavam menor renda e maior
probabilidade de serem casados ou de terem responsabilidades familiares,
de morarem em áreas mais afastadas da cidade, apesar de a distância não
ser o motivo do não comparecimento a concertos.
Para Kotler e Scheff (1997) converter os não usuários de artes em consumidores
é muito difícil e, quando muito, alcançado de forma lenta e gradual, uma vez que
isso envolve mudança de atitudes básicas e essas pessoas parecem ter
eliminado, consciente ou inconscientemente as artes de suas vidas.
60 Hill et al. (1998) observam que os consumidores pesados, especialmente nas
artes, são quem determina as inovações de produto e que a eles devem ser
direcionadas essas inovações.
O marketing recomendaria incentivos, amostras gratuitas, demonstração fácil,
tais como, cantores de ópera nacionais, tradução da ópera, nos concertos ao
vivo e na televisão. Como mostrado por Reiss (1995), muitas orquestras e óperas
adotaram alguns desses tipos de incentivo (ver Anexo 2).
Kotler e Scheff (1997) indicam que o comprometimento desse grupo de
consumidores (os “talvez”) é desenvolvido por etapas e passa, por exemplo, por
ações contínuas com mala direta, programas de aprendizado, promoções e
propaganda, bem como que esse comprometimento é um processo de longo
prazo.
2.2.4. O Comportamento do Consumidor de Música
Os consumidores das artes são influenciados por (Hill et al., 1998; Kotler e
Scheff, 1997):
. fatores macroeconômicos: forças políticas, sociais, econômicas e
tecnológicas;
. fatores sociais: grupos de referência (família, amigos, colegas), opiniões de
líderes (inclusive ídolos), capacidade para experimentar produtos novos
(rapidez em adotar novas idéias);
. fatores culturais/antropológicos: nacionalidade, subcultura (grupos religiosos e
étnicos, regionalismos), classe social;
. fatores pessoais: idade, sexo, renda, escolaridade, ocupação, estágio no
ciclo familiar e
61
. fatores psicológicos: percepções, crenças e atitudes, personalidade e
motivação.
No que concerne às motivações para consumir artes, conforme Hill et al. (1998)
(p.35) poderiam ser citadas, como exemplo, as mostradas no diagrama
constante da Figura 2.2.4.1.
FIGURA 2.2.4.1
MOTIVAÇÕES PARA CONSUMO DE ARTES
Fonte: Hill, E., O’Sullivan C., O’Sullivan T. Creative Arts Marketing
Hill et al.. (1998) citam que pessoas com motivações similares podem ser
identificadas e agrupadas e mostram o resultado de um outro estudo, realizado
. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1998 (p.35)
estimulação
necessidade social
desenvolvimento pessoal
necessidades psicológicas
auto-realização
estética/beleza transformação/consciência elevada alta transcendência
relaxamento escape/fantasia catarse/soltar-se
novos horizontes “se nutrir” educação, expansão
entretenimento apreço social rituais, se “vestir para sair” interação, partilha, contato
busca de novas experiências alívio do tédio enjôo da TV
62 no Reino Unido, em 1991, onde as motivações identificadas em cada grupo
tinham pouco a ver com as artes propriamente:
. grupo dos que procuram entretenimento: motivado pela necessidade de
diversão e por manifestações de curiosidade;
. grupo dos que procuram auto-crescimento: motivado pela necessidade de
desenvolvimento pessoal;
. grupo dos que definem tendências: deseja ser identificado como uma
intelectual de elite;
. grupo dos que procuram status: deseja ser identificado como uma
socialmente superior;
. grupo dos “escapistas solitários”: motivado pela oportunidade de desfrutarem
da companhia de outros;
. grupo dos que procuram inspiração/sensações: procura estimulação sensorial
e emocional;
. grupo dos extrovertidos/performáticos: motivados por um fórum para auto-
expressão e
. grupo dos “sociáveis”: vislumbram o que um compromisso social lhe
acrescentará ao desfrutar das artes.
Maslow desenvolveu uma hierarquia das necessidades humanas, que seriam:
necessidades fisiológicas, de seguração, de participação, de estima e de auto-
realização.
63 A pirâmide de Maslow foi adaptada para as artes por Hill et al. (1998), conforme
ilustrado na Figura 2.2.4.2 seguinte, no caso de um concerto de música clássica,
da base para o topo:
FIGURA 2.2.4.2
HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW
Fonte: Hill, E., O’Sullivan C., O’Sullivan T. Creative Arts Marketing
. Oxford :
Butterworth-Heinemann, 1998, p.119.
conforto, ar condicionado eficiente, iluminação e ventilação adequadas, instalações de “comidinhas e bebidinhas”
fisiológicas
estacionamento,acesso seguro,funcionários treinados
segurança
participação, reconhecimento, afiliação, material para conversação
sociais
prestígio, melhoria da auto-imagem
estima
deleite, conhecimento, intelectualidade
realização
auto-
64 A decisão de compra nas artes, de acordo com Kotler e Scheff (1997) e Hill et al.
(1998) parece ser mais complexa do que a de outros produtos, , na medida em
que o consumidor-alvo é geralmente um grupo e não um indivíduo. Apontam cinco
papéis desempenhados pelos envolvidos no processo decisório:
. iniciador: aquele que primeiramente sugere ou manifesta a idéia de se
envolver em uma determinada troca, como um amigo que sugere a ida a um
concerto no sábado;
. influenciador: aquele que oferece ou é procurado para aconselhar a decisão
de participar da troca, como um amigo que não ficou muito bem
impressionado após ter assistido o concerto em noite anterior e que sugere
um concerto alternativo;
. decisor: aquele que determina de fato uma ou todas as partes da decisão de
participar de uma troca - se agir, que ação, como, quando ou onde agir, como
quando quem decide ir ao concerto apesar do amigo ter sugerido um
alternativo;
. comprador : aquele que efetivamente realiza a compra, ou um amigo que
concorda com a decisão de ir ao concerto e compra os ingressos e
. usuário: aquele que usa ou consome o produto e pode ou não participar dos
papéis da decisão de compra, ou aqueles que vão ao concerto.
Hill et al. (1997), ao considerarem um concerto de música clássica um serviço,
apresentam um modelo de análise da oferta de uma organização, adaptado do
modelo de Bateson, conhecido como sistema Servuction, que define um serviço
como uma mistura de fontes visíveis, animadas ou inanimadas e de fontes
invisíveis, onde visibilidade significa aquilo que o consumidor pode ver.
65 A Figura 2.2.4.3, a seguir, mostra uma aplicação do modelo do sistema
Servuction, adaptado por Hill et al. (1998), para uma sala de concertos.
FIGURA 2.2.4.3
MODELO DO SISTEMA SERVUCTION
Fonte: Hill, E., O’Sullivan C., O’Sullivan T. Creative Arts Marketing. Oxford :
Butterworth-Heinemann, 1998, p.109.
consumidor de música
outros membros da platéia
experiência da música clássica
organização visível
organização invisível
- bilheteria - ensaios - processo de
produção - política artística
e de acesso - pessoal e
recrutamento - marketing
ambiente inanimado - conforto - ambiente - linhas de visão - espaço entre
as poltronas ambiente animado pessoas: - de apoio - músicos
66 O modelo Servuction mostra que a música clássica ao vivo é um serviço
produzido pela mistura das fontes invisíveis, que são os próprios sistemas e
processos internos da sala de concertos, como a preparação do palco, o período
de ensaios, o funcionamento da bilheteria e que esses sistemas estão
geralmente ocultos para o consumidor e para pessoas da organização que não
se encontram diretamente envolvidas nessas atividades e das fontes visíveis.
Aquelas últimas, segundo o autor, são constituídas pelo ambiente inanimado que
compõe a própria estrutura física da sala e dos concertos e pelo ambiente
animado, talvez a mais importante para o marketing, que são as pessoas em
contato com o consumidor do concerto: desde o funcionário da bilheteria que
confirma a reserva de assento, até o músico ou mesmo a pessoa que vende
cafezinho durante o intervalo. Além disso, a figura mostra que o modelo
Servuction inclui outros consumidores, refletindo como outros membros da platéia
contribuem para a experiência da música clássica ao vivo.
A título ilustrativo, o Anexo 2 resume o desenvolvimento de estratégias de
marketing utilizando os componentes do marketing mix, em diferentes situações
de marketing de música clássica, como apresentadas por Reiss (1995).
68 Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no estudo. Inicialmente, são
apresentados os métodos utilizados, as perguntas de pesquisa que guiaram o estudo
e as hipóteses testadas. Em seguida, descreve-se a população e a amostra e os
processos utilizados na coleta e na análise de dados. Finalmente, indicam-se as
limitações do estudo.
3.1. MÉTODO DE PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, que estuda o comportamento dos
consumidores de música clássica no Rio de Janeiro. O método de pesquisa utilizado
neste estudo foi a survey.
Segundo Boyd e Westfall (1971), os estudos descritivos, como o próprio nome diz,
"destinam-se a descrever as características de determinada situação"(p.68), "tentam
obter uma descrição completa e precisa da situação" (p. 69).
A survey é o método por excelência de estudos descritivos em Ciências Sociais.
Alreck e Settle (1995) indicam como principais características deste método:
flexibilidade e versatilidade, especialização e eficiência. No que se refere a
flexibilidade e versatilidade, o método permite o uso de diferentes formas de coleta de
dados, desde entrevistas pessoais até entrevistas por correio, por telefone ou pela
internet, sendo adequadas a diferentes volumes de dados e graus de complexidade
do estudo. Já no que se refere a especialização e eficiência, é considerada eficiente
em termos de custo, já que o uso de amostras permite recolher informações sobre um
universo bastante amplo sem a necessidade de entrevistar todos os membros deste
universo.
Alreck e Settle (1995) observam a existência de algumas limitações diretamente
69 associadas ao uso deste método. De um lado, os respondentes podem reagir de
forma negativa a questões mais sensíveis ou que os faça sentirem-se ameaçados. De
outro, o método exige um planejamento detalhado e execução cuidadosa, para que
não sejam introduzidos diferentes tipos de viés no decorrer do estudo.
Por se tratar de um estudo de natureza descritiva, em que se deseja conhecer as
características dos consumidores de música clássica no Rio de Janeiro, considerou-
se que o método de survey seria o mais adequado para o presente estudo.
3.2. PERGUNTAS DE PESQUISA E HIPÓTESES
As seguintes perguntas de pesquisa orientaram o estudo:
1. Qual o perfil do consumidor de música clássica do Rio de Janeiro?
2. Há diferenças entre os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica no
que se refere a suas características demográficas, de compra e de uso?
3. O consumidor percebe existir uma relação entre música clássica e emoção?
4. Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica percebem de forma
diferente esta relação?
A segmentação dos consumidores em dois grupos, leves e pesados, considerou os
seguintes critérios:
. preferência por música clássica:
.
70 consumidores pesados: aqueles que responderam que: preferem música clássica
a qualquer outro estilo e que gostam de música clássica mas também de outros
estilos musicais, sendo que o número de respondentes totalizou 93 pessoas;
consumidores leves
: os respondentes que ouvem música clássica mas não a
consideram seu estilo preferido e os que não têm interesse em ouvir música
clássica, que corresponderam a um total de 20 pessoas;
. posse relativa de CDs de música clássica:
.
consumidores pesados: os respondentes cuja parcela de CDs de música clássica
representam mais de ¼ do total de CDs que possuem, que somaram 46 pessoas;
consumidores leves
: os respondentes cuja parcela de CDs de música clássica
responde por menos de ¼ do número total de CDs que possuem, que
representaram 57 pessoas;
. posse absoluta de CDs de música clássica:
.
consumidores pesados: os respondentes que possuem mais de 20 CDs de
música clássica, cujo número de pessoas totalizou 28;
consumidores leves
: os respondentes que possuem de 1 a 20 CDs de música
clássica, que englobaram 67 pessoas.
As seguintes hipóteses foram formuladas, a partir de perguntas de pesquisa, para
serem testadas no estudo:
1. Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica podem ser
diferenciados a partir de suas características demográficas.
2. Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica podem ser
diferenciados a partir de seu comportamento de uso.
71 3. Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica podem ser
diferenciados a partir de seu comportamento de compra.
4. Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica podem ser
diferenciados a partir de suas percepções do papel da música clássica.
3.3. DETERMINAÇÃO DA POPULAÇÃO E DA AMOSTRA
A população do estudo é constituída por ouvintes de música clássica, residentes no
Rio de Janeiro, de ambos os sexos.
Utilizou-se, neste estudo, uma amostra de conveniência, em um total de 116 ouvintes.
A amostra de conveniência, segundo ensinam Boyd, Westfall e Stasch (1977), é
aquela que, como o próprio nome diz, é escolhida estritamente por critérios de
conveniência. Os elementos da amostra são selecionados simplesmente porque
podem ser localizados ou identificados.
A amostragem por conveniência tem, naturalmente, um custo mais baixo do que a
amostragem probabilística. É utilizada quando não se dispõe de listagem da
população pesquisada, quando há restrições de tempo e recursos, e quando não é
possível utilizar outros métodos. Quanto mais homogêneo o universo a que se refere,
maior a probabilidade de que os resultados se aproximem efetivamente dos que
seriam obtidos caso se houvesse utilizado uma amostra probabilística (Boyd, Westfall
e Stasch, 1977).
Os respondentes qualificados para responder ao questionário foram selecionados em
audiências de concertos de música clássica em praça pública e igreja, em espetáculo
de teatro-musical em praça pública, entre freqüentadores do Teatro Municipal do Rio
de Janeiro e na seção de CDs clássicos de lojas de discos, no mês de março de
1999.
72
3.4. COLETA DE DADOS
3.4.1. Instrumento de Coleta de Dados
O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário auto-administrado, que foi
entregue a pessoas que se encontravam nos locais indicados no item anterior. Foram
utilizadas perguntas fechadas, com o propósito de evitar problemas no preenchimento
do questionário e facilitar a codificação.
Em uma das perguntas foi usada uma escala de cinco pontos tipo Likert, variando de
"discordo totalmente" a "concordo totalmente".
Este tipo de questionário não só é de codificação mais rápida e simples, como
também permite, uma vez definidas as hipóteses a serem testadas, recolher respostas
precisas. As perguntas foram formuladas buscando-se observar os critérios de
relevância, clareza, brevidade, imparcialidade e precisão.
O Quadro 3.4.1.1 seguinte lista os itens pesquisados e indica as perguntas, no
questionário, através das quais os mesmos foram identificados.
Foi feita uma pergunta de filtragem com o objetivo de excluir aqueles respondentes
que não gostavam de música clássica.
Com o objetivo de verificar a clareza das perguntas e a adequação da seqüência de
questões foi realizado um pré-teste do questionário. O pré-teste permitiu modificar
pontos deficientes, eliminar ambigüidades, bem como verificar o tempo de
preenchimento. As respostas obtidas não foram consideradas para análise.
O Anexo 1 apresenta o questionário utilizado no estudo.
73
QUADRO 3.4.1.1
ITENS PESQUISADOS NO QUSTIONÁRIO
item
perguntas
preferência por música clássica
1, 2, 3 e 4
motivos de ouvir música clássica
14
critério de escolha - produto
5, 6 e 13
critério de escolha - local - praça
7, 8 e 9
critério de escolha - preço
12
critério de escolha - promoção
10 e 11
critério de escolha - influenciadores
11
dados demográficos
15
3.4.2. Trabalho de Campo
A pesquisa de campo propriamente dita foi realizada em março de 1999. Os
questionários foram preenchidos na ocasião da entrega aos respondentes. O
preenchimento do questionário tomou, em média, cerca de 10 minutos do
respondente.
Foram recolhidos um total de 130 questionários, dos quais 116 foram aproveitados na
análise. Alguns questionários foram excluídos por erros de preenchimento ou por
estarem parcialmente completos.
74
3.5. ANÁLISE DE DADOS
Os dados obtidos foram inicialmente codificadas em planilha Excel e o
processamento foi feito utilizando-se o software estatístico SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences).
Em uma primeira etapa, realizou-se a análise descritiva. Esta análise foi feita a partir
de estatísticas de freqüências e médias. O objetivo foi responder à primeira pergunta
de pesquisa, que buscava identificar o perfil dos consumidores de música clássica,
assim como realizar uma primeira exploração dos dados, de forma a orientar as
análises seguintes.
Em uma segunda etapa, procurou-se segmentar os consumidores em dois grupos e
testar as hipóteses relativas às diferenças entre eles no que se refere a:
características demográficas, comportamento de uso, comportamento de compra e
percepções relativas à música clássica. Para tal utilizou-se a análise linear de
discriminantes, uma técnica estatística que permite avaliar as diferenças entre dois ou
mais grupos, com base em determinadas variáveis, atuando simultaneamente.
Isto é feito gerando-se uma equação discriminante do tipo:
D = d1x1 + d2x2 + ................ + dNxN,
onde x representa os valores das variáveis independentes e d representa os
coeficientes estimados dos dados.
Com base nos valores dos coeficientes, pode-se avaliar que variáveis possibilitam
melhor discriminação.
Uma vez elaborada, a equação discriminante pode ser aplicada aos casos em
75 questão, para avaliar seu poder de previsão. Neste estudo, foram geradas funções
discriminantes para cada hipótese. A seguir testou-se sua capacidade preditiva
através da matriz de classificação.
Adotou-se o nível de significância de 0,05 para rejeição da hipótese nula.
3.6. LIMITAÇÕES
O presente estudo, como todo trabalho de pesquisa, está sujeito a um conjunto de
limitações. Essas limitações são listadas a seguir.
Um dos principais fatores limitantes da pesquisa foi o período de aplicação dos
questionários, pelo fato de o mês escolhido ter sido um mês de baixa temporada
de eventos de música clássica no Rio de Janeiro.
A pesquisa, na área de Ciências Sociais, é realizada com base em percepções
individuais e na sinceridade do respondente em expor suas opiniões. No entanto,
não há garantias de que isto tenha ocorrido na realização do presente estudo.
A utilização de uma amostra de conveniência, ao invés de uma amostra
probabilística, pode haver introduzido viés no estudo, de tal modo a impossibilitar a
projeção dos dados para a população estudada. Mesmo se isto houver ocorrido,
no entanto, dada a escassez de estudos sobre o tema, os resultados aqui obtidos
poderiam servir de base a novos estudos, o que torna válida a utilização desse tipo
de amostragem.
77
Este capítulo está dividido em duas partes: na primeira é feita a análise descritiva
dos resultados obtidos, utilizando-se freqüências. Na segunda parte, é realizado
o teste de hipóteses, utilizando-se a análise linear de discriminantes.
4.1 ANÁLISE DESCRITIVA
Os resultados obtidos no estudo são apresentados nesta seção de forma
descritiva, utilizando-se a análise de freqüências.
Conforme mencionado no Capítulo III, item 3.3, a amostra utilizada foi de
conveniência, considerando-se como requisito para a condição de entrevistado o
fato de a pessoa ouvir música clássica, fosse este, ou não, seu estilo musical
preferido.
A análise do gosto dos entrevistados pela música clássica mostrou que a grande
maioria das pessoas entrevistadas gosta de outros estilos musicais além da
música clássica (73,5%), que 15% dos entrevistados ouve música clássica
apesar de não ser seu gênero musical preferido, que 8,8% dos respondentes
prefere música clássica a qualquer outro estilo e que 2,7% não se interessa por
ouvir música clássica, em um total de 113 respondentes.
Com relação à formação profissional e acadêmica em música clássica, 88,5%
das pessoas não "exercem" a música clássica profissionalmente, 5,3% são
músicos amadores e apenas 6,2% são músicos profissionais, enquanto que
83,3% das pessoas entrevistadas nunca estudou música clássica e 16,8% já
estudou ou estuda este estilo musical, no total dos 113 respondentes.
A análise do gosto e da preferência por música clássica, expressos pelo número
de CDs desse gênero musical em relação ao número total de discos de posse
dos 113 entrevistados, mostrou que os CDs de música clássica representam
78 mais da metade do número total de CDs que possuem, em somente 12,4% dos
respondentes, e em quantidade representam menos de 20 CDs.
Além disso, a parcela de CDs de música clássica corresponde a menos do que
a quarta parte de todos os CDs que possuem para 50,4% dos entrevistados;
encontra-se entre a quarta parte e a metade do número total de CDs para 28,3%
das pessoas; e 8,8% dos respondentes não possuem CDs de música clássica.
No que concerne ao número de CDs de música clássica, 9,5% dos 105
respondentes não possuíam CDs desse estilo, 40% tinham menos de 10 CDs,
23,8% dispunham de 11 a 20 CDs, 18,1% tinham entre 21 e 50 CDs, 3,8%
possuíam entre 51 e 100 CDs de música clássica, outros 3,8% estavam de
posse de 101 a 500 CDs desse tipo de música, 1% tinha mais de 500 CDs de
música clássica.
A Tabela IV.1 apresenta o perfil da amostra.
4.1.1 Características Demográficas
A amostra se mostrou equilibrada entre os respondentes, com 52,3% das
pessoas do sexo feminino e 44,7% do sexo masculino. Duas pessoas não
responderam à pergunta.
A maior parte dos respondentes tinha entre 36 e 45 anos (34,2%), seguida pelas
pessoas entre 26 e 35 anos (27,9%) e pelas entre 46 e 55 anos (19,8%). Menos
de 1% dos respondentes tinha menos de 18 anos e 2,7% apresentaram idade
superior a 66 anos.
TABELA 4.1.1.1
PERFIL DA AMOSTRA
79 variável freqüência
absoluta % sobre total de casos
% exclusive missing values
1 gosto por música clássica prefiro música clássica a qualquer outro estilo
10 8,8 8,8
gosto de música clássica mas também de outros estilos musicais
83 73,5 73,5
ouço música clássica mas não é meu estilo preferido
17 15 15
não tenho muito interesse em ouvir música clássica
3 2,7 2,7
2 formação profissional na música clássica
sou músico profissional 7 6,2 6,2 sou músico amador 6 5,3 5,3 não sou músico 100 88,5 88,5
3 formação acadêmica na música clássica já estudei/estudo música clássica 19 16,8 16,8 nunca estudei música clássica 94 83,2 83,2
4 parcela de CDs de música clássica menos da quarta parte de todos os CDs
que tenho são de música clássica 57 50,4 50,4
entre a quarta parte e a metade de todos os CDs que tenho são de música clássica
32 28,3 28,3
mais da metade de todos os CDs que tenho são de música clássica
14 12,4 12,4
eu não tenho CDs de música clássica 10 8,8 8,8 5 no. total de CDs de música clássica 0 10 8,8 9,5 1 a 10 42 37,2 40,0 11 a 20 25 22,1 23,8 21 a 50 19 16,8 18,1 51 a 100 4 3,5 3,8 101 a 500 4 3,5 3,8 mais de 500 1 0,9 1,0 não respondeu 8 7,1 missing
Obs.: N = 113
Além disso, a maioria dos respondentes morava na Zona Sul (67,9%), seguida
pelos moradores da Zona Norte (10,1%) e dos moradores de Niterói (8,3%).
Quatro pessoas não responderam.
80
Com relação à escolaridade, 71,3% tinham curso superior completo, 18,5%
incompleto, 9,3% completaram o segundo grau e 0,9% o primeiro grau.
No que concerne à renda familiar, predominavam na amostra as pessoas com
renda familiar mensal entre R$ 2.500,00 e R$ 5.000,00 (45,3%), seguidas das
que ganhavam entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 (30,2%) e das que recebiam
acima de R$ 5.000,00 por mês (19,8%); 3,8% ganhavam entre R$ 500,00 e R$
1.000,00 por mês e 0,9% recebiam menos de R$ 500,00 mensalmente.
A Tabela 4.1.1.2, apresentada a seguir, resume as características demográficas
da amostra.
81 TABELA 4.1.1.2
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
variável freqüência absoluta
% sobre total de casos
% exclusive missing values
1 sexo feminino 58 51,3 52,3 masculino 53 46,9 47,7 não respondeu 2 1,8 missing
2 faixa etária menos de 18 anos 1 0,9 0,9 entre 19 e 25 anos 9 8 8,1 entre 26 e 35 anos 31 27,4 27,9 entre 36 e 45 anos 38 33,6 34,2 entre 46 e 55 anos 22 19,5 19,8
entre 56 e 65 anos 7 6,2 6,3 66 ou mais 3 2,7 2,7 não respondeu 2 1,8 missing
3 bairro onde mora zona sul 74 65,5 67,9 centro 1 0,9 0,9 zona norte 11 9,7 10,1 subúrbios 6 5,3 5,5 Niterói 9 8 8,3 outras cidades RJ 1 0,9 0,9 zona oeste 7 6,2 6,4 não respondeu 4 3,5 missing
4 escolaridade primeiro grau completo 1 0,9 0,9 segundo grau completo 10 8,8 9,3 universitário incompleto 20 17,7 18,5 universitário completo 77 68,1 71,3 não respondeu 5 4,4 missing
5 renda familiar mensal até R$ 500,00 1 0,9 0,9 de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 4 3,5 3,8 de R$ 1000,00 a R$ 2.500,00
32 28,3 30,2
de R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00
48 42,5 45,3
acima de R$ 5.000,00 21 18,6 19,8 não respondeu 7 6,2 missing
82 4.1.2 Características do Comportamento de Uso
A grande maioria das pessoas ouvia (freqüência absoluta = 99) e preferia ouvir
(27,4%) música clássica em casa.
No entanto, é interessante observar que, quanto ao produto consumido, a
preferência por local de consumo indicava pouca diferença na escolha entre a
música intangível, como apresentações ao vivo, ou tangibilizada, como produto
da indústria fonográfica, já que 53% preferiam ouvir em casa, no carro, no
trabalho, como fundo musical em locais públicos e 47% em salas de concerto e
concertos ao ar livre.
O meio em que o consumidor preferia ouvir a música clássica era o CD (88,5%),
seguido do rádio (74,3%), da televisão (41,86%), das fitas cassete (35,4%), do
walkman (25,7%), do LP (17,7%), da internet (1,8%) e do DVD (0,9%).
As características do comportamento de uso estão consolidadas na Tabela
4.1.2.1, seguinte.
83 TABELA 4.1.2.1
COMPORTAMENTO DE USO
variável freqüência absoluta
% sobre total de casos
% exclusive missing values
1 onde costuma ouvir música clássica – em casa
sim 99 87,6 87,6 não 14 12,4 12,4 onde costuma ouvir música clássica –
concertos ao ar livre
sim 36 31,9 31,9 não 77 68,1 68,1 onde costuma ouvir música clássica –
fundo musical em locais públicos
sim 20 17,7 17,7 não 93 82,3 82,3 onde costuma ouvir música clássica –
no carro
sim 36 31,9 31,9 não 77 68,1 68,1 onde costuma ouvir música clássica –
no trabalho
sim 14 12,4 12,4 não 99 87,6 87,6 onde costuma ouvir música clássica –
em salas de concerto
sim 50 44,2 44,2 não 63 55,8 55,8
2 onde prefere ouvir música clássica em casa 31 27,4 27,4 em concertos ao ar livre 16 14,2 14,2 como fundo musical em locais públicos 6 5,3 5,3 no carro 1 0,9 0,9 no trabalho 7 6,2 6,2 em salas de concerto 24 21,2 21,2 não tem preferência 28 24,8 24,8
3 meio de ouvir música clássica – rádio sim 84 74,3 74,3 não 29 25,7 25,7
84
TABELA 4.1.2.1 (cont.) COMPORTAMENTO DE USO
variável freqüência
absoluta % sobre total de casos
% exclusive missing values
meio de ouvir música clássica – televisão
sim 47 41,6 41,6 não 66 58,4 58,4 meio de ouvir música clássica –
fitas cassete
sim 40 35,4 35,4 não 73 64,6 64,6 meio de ouvir música clássica - fitas
de vídeo
sim 17 15,0 15,0 não 96 85,0 85,0 meio de ouvir música clássica - CDs sim 100 88,5 88,5 não 13 11,5 11,5 meio de ouvir música clássica - DVD sim 1 0,9 0,9 não 112 99,1 99,1 meio de ouvir música clássica - LP sim 20 17,7 17,7 não 93 82,3 82,3 meio de ouvir música clássica -
walkman
sim 29 25,7 25,7 não 84 74,3 74,3 meio de ouvir música clássica -
internet
sim 2 1,8 1,8 não 111 98,2 98,2 meio de ouvir música clássica -
outros
sim 8 7,1 7,1 não 105 92,9 92,9
4.1.3 Características do Comportamento de Compra
85 No que concerne ao comportamento de compra do CD de música clássica, a
maior parte dos respondentes (69,9%) escolhia o CD pela música; 54,9% pelo
compositor; 28,3% pelo intérprete/regente e 2,7% pela gravadora.
Com relação ao local de compra, 86,7% adquiria CDs em lojas de discos; 29,2%
em bancas de jornais; 6,2% pela internet; 6,1% comprava por telefone os
produtos anunciados por catálogos enviados pelo correio; 3,5% adquiria por
telefone os CDs anunciados na TV e 1,5% comprava em vendedores ambulantes.
Os principais influenciadores na decisão de compra dos entrevistados eram: os
concertos que assistiam (53,1%), a indicação de amigos (46%), os filmes que
assistiam (36,3%) e as seções especializadas de jornais e revistas (30,1%).
A promoção de CDs sensibilizava 59,3% dos entrevistados, que compravam
principalmente em oferta nas lojas (56,7%) e em jornais e revistas (19,4%).
A maioria dos respondentes (52,5%) não era sensível a preço, ao comprar um
CD de música clássica; 25,7% procura comprar CDs que estivessem em oferta
de preços; e 21,8% faziam pesquisa de preços antes de adquirir o produto.
A Tabela 4.1.3.1 seguinte mostra os resultados da análise do comportamento de
compra do consumidor de CDs de música clássica.
86 TABELA 4.1.3.1
COMPORTAMENTO DE COMPRA
variável freqüência absoluta
% sobre total de casos
% exclusive missing values
1 critério de compra de CDs de música clássica – compositor
sim 62 54,9 54,9 não 51 45,1 45,1 critério de compra de CDs de música clássica –
música
sim 79 69,9 69,9 não 34 30,1 30,1 critério de compra de CDs de música clássica -
intérprete/regente
sim 32 28,3 28,3 não 81 71,7 71,7 critério de compra de CDs de música clássica -
gravadora
sim 3 2,7 2,7 não 110 97,3 97,3
2 onde compra CDs de música clássica – lojas de discos
sim 98 86,7 86,7 não 15 13,3 13,3 onde compra CDs de música clássica –
bancas de jornal
sim 33 29,2 29,2 não 80 70,8 70,8 onde compra CDs de música clássica –
vendedores ambulantes
sim 2 1,8 1,8 não 111 98,2 98,2 onde compra CDs de música clássica –
internet
sim 7 6,2 6,2 não 106 93,8 93,8
87 TABELA 4.1.3.1 (cont.)
COMPORTAMENTO DE COMPRA variável freqüência
absoluta % sobre total de casos
% exclusive missing values
onde compra CDs de música clássica – por telefone produtos anunciados na TV
sim 4 3,5 3,5 não 109 96,5 96,5 onde compra CDs de música clássica –
por telefone produtos de catálogos enviados pelo correio
sim 7 6,1 6,1 não 106 93,8 93,8
3 influenciadores na compra de CDs de música clássica - revistas especializadas
sim 18 15,9 15,9 não 95 84,1 84,1 influenciadores na compra de CDs de
música clássica - seções especializadas de jornais e revistas
sim 34 30 30,1 não 79 69,9 69,9 influenciadores na compra de CDs
de música clássica – após ter assistido a um concerto
sim 60 53,1 53,1 não 53 46,9 46,9 influenciadores na compra de CDs
de música clássica - indicação de amigos sim 52 46 46 não 61 54 54 influenciadores na compra de CDs de
música clássica - trilha sonora de filmes sim 41 36,3 36,3 não 72 63,7 63,7 influenciadores na compra de CDs de
música clássica - outros
sim 23 20,4 20,4 não 90 79,6 79,6
88 TABELA 4.1.3.1 (cont.)
COMPORTAMENTO DE COMPRA
variável freqüência
absoluta % sobre total de casos
% exclusive missing values
4 compra CDs de música clássica em oferta
não 46 40,7 40,7 sim 67 59,3 59,3
5 situação de compra de CDs de música clássica em oferta
ofertas nas lojas 38 56,7 56,7 ofertas de revistas/jornais 13 19,4 19,4 outros 1 1,5 1,5 ofertas nas lojas e de revistas/jornais 11 16,4 16,4 ofertas nas lojas e outros 2 3,0 3,0 ofertas nas lojas, em revistas/jornais e
outros 2 3,0 3,0
6 comportamento em relação ao preço de CDs de música clássica
procuro comprar CDs de música clássica que estejam em promoção
26 23,0 23,0
faço pesquisa de preços, comparando os preços de CDs de música clássica em vários pontos de venda (lojas, internet, etc.)
22 19,5 19,5
quando gosto, compro CDs de música clássica sem me preocupar com o preço
53 46,9 46,9
não respondeu 12 10,6 10,6
89 4.1.4 Percepções em Relação à Música Clássica
A motivação para ouvir música clássica foi investigada com base em cinco
variáveis: emoção; erudição/sofisticação/status intelectual; aceitação social;
relaxamento e imaginação. A maioria dos entrevistados tendia a concordar que
todos esses eram motivos para ouvir música clássica.
Quanto à necessidade de uma preparação, iniciação para ouvir música clássica,
a maior parte dos entrevistados (45,7%) discordava totalmente dessa condição.
No que tange à emoção, 35,4% concordavam totalmente que sentiam uma
emoção única e inexplicável quando ouviam música clássica e que cada música
provocava uma emoção diferente. Por outro lado, a maioria dos respondentes
concordava que ouvir música clássica provocava um estado de relaxamento;
34,5% concordavam totalmente que gostavam de ouvir música clássica quando
estavam estressados e 38,9% concordam totalmente que a música clássica era
entretenimento. Com relação à música ser um processo mental, imaginativo,
29,2% concordavam que ficavam “viajando” com seus pensamentos ao ouvir
música clássica.
Cerca de 73% dos entrevistados achava que a música clássica devia estar
disponível para todos e que os concertos ao ar livre podiam ser uma forma de
disponibilizá-la, enquanto que 42,5% concordavam parcialmente que as pessoas
que ouvem música clássica eram geralmente mais cultas.
A afirmação que ouvir música clássica significava voltar ao passado parece não
atrair a concordância da maioria dos entrevistados – 27,4% não concordou nem
discordou.
A Tabela 4.1.4.1, a seguir, mostra os resultados apurados.
90 TABELA 4.1.4.1
PERCEPÇÕES EM RELAÇÃO À MÚSICA CLÁSSICA
1 concordo totalmente 2 concordo parcialmente 3 não concordo, nem discordo 4 discordo parcialmente 5 discordo totalmente 9 não respondeu
afirmativa percentual - %
1 2 3 4 5 9 1 ouvir música clássica é uma coisa que fazem as
pessoas com quem convivo 10,6 40,7 13,3 15,0 9,7 10,6
2 as pessoas que gostam de ouvir música clássica são geralmente mais cultas
16,8 42,5 8,8 15 7,1 9,7
3 acho que somente quem entende de música clássica gosta de ouví-la
4,4 15 8,8 16,8 45,1 9,7
4 gosto de ouvir música clássica quando estou estressado
34,5 24,8 13,3 7,1 10,6 9,7
5 ao ouvir música clássica fico “viajando” com meus pensamentos
29,2 29,2 15 9,7 6,2 10,6
6 coloco música clássica quando estou recebendo amigos em casa
5,3 30,1 17,7 17,7 19,5 9,7
7 gosto de ouvir música clássica para namorar 4,4 26,5 26,5 13,3 20,4 8,8
8 acho que os concertos, grátis, ao ar livre, tornam a música clássica popular
55,8 20,4 5,3 2,7 6,2 9,7
9 acho que a música clássica não deve se tornar popular
2,7 3,5 3,5 8,8 72,6 8,8
10 gosto de ouvir música clássica sozinho 26,5 24,8 21,2 6,2 11,5 9,7
11 quando ouço música clássica volto ao passado 9,7 19,5 27,4 10,6 22,1 10,6
12 a música clássica para mim é entretenimento 38,9 32,7 5,3 6,2 4,4 12,4
13 ao ouvir música clássica acho que sinto a emoção que o compositor sentiu quando escreveu a música
16,8 24,8 23,9 4,4 15,9 14,2
14 ao ouvir música clássica acho que sinto a emoção que o músico sente ao interpretá-la
19,5 28,3 18,6 7,1 14,2 12,4
15 ao ouvir música clássica sinto uma emoção particular, diferente, que não sei explicar
35,4 24,8 19,5 3,5 7,1 9,7
16 não importa qual seja a música tocando, sempre sinto a mesma emoção quando ouço música clássica
9,7 17,7
8 20,4
33,6
10,6
91 4.2. TESTES DE HIPÓTESES
4.2.1. Teste da Hipótese 1
Hipótese: Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica
podem ser diferenciados a partir de suas características
demográficas.
Foi realizado o teste da hipótese utilizando-se a análise linear de discriminantes,
método stepwise.
Os consumidores foram divididos em "leves" e "pesados", segundo três critérios:
preferência por música clássica (Grupo 1=não tem preferência; Grupo 2=tem
preferência)
posse relativa de CDs de música clássica = parcela de CDs de música
clássica no total de CDs (Grupo 1=menos de 1/4 dos CDs; Grupo 2= mais de
1/4 dos CDs)
posse absoluta de CDs de música clássica = número de CDs de música
clássica possuídos (Grupo 1= 1 a 20 CDs de música clássica; Grupo 2= mais
de 20 CDs de música clássica)
Cada uma das variáveis operacionais utilizadas para medir consumidores "leves"
e "pesados" foi testada através de uma sub-hipótese específica.
92 Sub-hipótese 1: Preferência por Música Clássica versus Características
Demográficas
Não foi possível rejeitar a hipótese nula, não se obtendo resultados
estatisticamente significativos. Assim sendo, não se pode afirmar que exista
relação entre as características demográficas dos consumidores de música
clássica e a sua preferência por música clássica. Ou seja, não foi possível
identificar diferenças significativas entre consumidores "leves" e "pesados" de
música clássica a partir de suas características demográficas, usando-se como
variável operacional a preferência por música clássica.
Sub-hipótese 2: Posse Relativa de CDs de Música clássica versus
Características Demográficas
Não foi possível rejeitar a hipótese nula, não se obtendo resultados
estatisticamente significativos. Assim sendo, não se pode afirmar que exista
relação entre as características demográficas dos consumidores de música
clássica e a posse relativa de CDs de música clássica. Ou seja, não foi possível
identificar diferenças significativas entre consumidores "leves" e "pesados" de
música clássica a partir de suas características demográficas, usando-se como
variável operacional a posse relativa de CDs de música clássica.
Sub-hipótese 3: Posse Absoluta de CDs de Música clássica versus
Características Demográficas
Não foi possível rejeitar a hipótese nula, não se obtendo resultados
estatisticamente significativos. Assim sendo, não se pode afirmar que exista
relação entre as características demográficas dos consumidores de música
clássica e a posse absoluta de CDs de música clássica. Ou seja, não foi possível
identificar diferenças significativas entre consumidores "leves" e "pesados" de
música clássica a partir de suas características demográficas, usando-se como
93 variável operacional a posse absoluta de CDs de música clássica.
4.2.2. Teste da Hipótese 2
Hipótese: Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica
podem ser diferenciados a partir de seu comportamento de
uso.
Foi realizado o teste da hipótese utilizando-se a análise linear de discriminantes,
método stepwise.
Os consumidores foram divididos em "leves" e "pesados", segundo três critérios:
preferência por música clássica (Grupo 1=não tem preferência; Grupo 2=tem
preferência)
posse relativa de CDs de música clássica = parcela de CDs de música
clássica no total de CDs (Grupo 1=menos de 1/4 dos CDs; Grupo 2= mais de
1/4 dos Cds)
posse absoluta de CDs de música clássica = número de CDs de música
clássica possuídos (Grupo 1= 1 a 20 CDs de música clássica; Grupo 2= mais
de 20 CDs de música clássica)
Cada uma das variáveis operacionais utilizadas para medir consumidores "leves"
e "pesados" foi testada através de uma sub-hipótese específica.
94 Sub-hipótese 1: Preferência por Música clássica versus Comportamento de
Uso
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a preferência
por música clássica e o comportamento de uso dos consumidores de música
clássica. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,819147, qui-quadrado de 21,944,
com 2 graus de liberdade e probabilidade menor que 0,0001de se haver
rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas duas variáveis entraram na equação discriminante: o uso de rádio para
ouvir música clássica e o uso de fita cassete para o mesmo fim. O uso de rádio
foi a variável que apresentou maior poder discriminante, com um coeficiente
discriminante de 0,76073, enquanto que a segunda variável, o uso de fita cassete
apresentou um coeficiente discriminante de 0, 55770.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 2, ou seja, dos que têm preferência por música clássica utiliza duas vezes
mais o rádio e oito vezes mais a fita cassete para ouvir música clássica do que
os que não têm preferência. Esses resultados são apresentados a seguir.
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
Ouve no rádio
0,40
0,82
0,76073
Ouve em fita
0,05
0,42
0,55770
95 Sub-hipótese 2: Posse Relativa de CDs de Música clássica versus
Comportamento de Uso
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a posse
relativa de CDs de música clássica e o comportamento de uso dos consumidores
de música clássica. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,879490, qui-quadrado
de 12,841, com 2 graus de liberdade e probabilidade de 0,0016 de se haver
rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas duas variáveis entraram na equação discriminante: a preferência por
ouvir música clássica em fundo musical e no carro. A preferência por fundo
musical foi a variável que apresentou maior poder discriminante, com um
coeficiente discriminante de 0,74526, enquanto que a segunda variável, ouvir no
carro apresentou um coeficiente discriminante de 0,56751.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 1, ou seja, dos que têm menor proporção de CDs de música clássica, tem
preferência muito maior por ouvir música clássica como fundo musical em locais
públicos do que aqueles que têm maior proporção de CDs de música clássica.
Por outro lado, é quase o dobro a percentagem de consumidores pesados, em
relação aos leves, que prefere ouvir em rádio.
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
Prefere ouvir como
fundo musical
0,30
0,07
0,74526
Prefere ouvir no
0,25
0,48
0,56751
97 Sub-hipótese 3: Posse Absoluta de CDs de Música clássica versus
Comportamento de Uso
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a posse
absoluta de CDs de música clássica e o comportamento de uso dos
consumidores de música clássica. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,942498,
qui-quadrado de 5,478, com 1 grau de liberdade e probabilidade de 0,0193 de
se haver rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas uma variável entrou na equação discriminante: a preferência por ouvir
música clássica em fita cassete, com um coeficiente discriminante de 1,000.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 2, ou seja, dos que têm maior número de CDs de música clássica, tem
preferência muito maior por ouvir música clássica em fita cassete (54%) do que o
Grupo 1 (28%).
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
Prefere ouvir música
clássica em fita cassete
0,28
0,54
1,000
Em síntese:
Todas as variáveis operacionais e respectivas sub-hipóteses foram testadas,
sendo possível, em todos os casos, rejeitar a hipótese nula.
98 4.2.3. Teste da Hipótese 3
Hipótese: Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica
podem ser diferenciados a partir de seu comportamento de
compra.
Foi realizado o teste da hipótese utilizando-se a análise linear de discriminantes,
método stepwise.
Os consumidores foram divididos em "leves" e "pesados", segundo três critérios:
preferência por música clássica (Grupo 1=não tem preferência; Grupo 2=tem
preferência)
posse relativa de CDs de música clássica = parcela de CDs de música
clássica no total de CDs (Grupo 1=menos de 1/4 dos CDs; Grupo 2= mais de
1/4 dos Cds)
posse absoluta de CDs de música clássica = número de CDs de música
clássica possuídos (Grupo 1= 1 a 20 CDs de música clássica; Grupo 2= mais
de 20 CDs de música clássica)
Cada uma das variáveis operacionais utilizadas para medir consumidores "leves"
e "pesados" foi testada através de uma sub-hipótese específica.
99 Sub-hipótese 1: Preferência por Música clássica versus Comportamento de
Compra
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a preferência
por música clássica e o comportamento de compra dos consumidores de música
clássica. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,870056, qui-quadrado de15,312,
com 2 graus de liberdade e probabilidade de 0,0005 de se haver rejeitado
erroneamente a hipótese nula.
Apenas duas variáveis entraram na equação discriminante: lojas de discos, como
local onde costuma comprar e influência de trilhas sonoras de filmes. A compra
em lojas de discos foi a variável que apresentou maior poder discriminante, com
um coeficiente discriminante de 0,88883, enquanto que a segunda variável, a
influência de trilhas sonoras de filmes, apresentou um coeficiente discriminante
de 0,59969.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 2, ou seja, dos que têm preferência por música clássica, compra mais em
lojas de discos (91%) do que o Grupo 1(65%). Por outro lado, o Grupo 1 é mais
influenciado por trilhas sonoras de filmes (55%) do que o Grupo 2 (32%). Esses
resultados são apresentados a seguir.
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
Compra em lojas
de discos
0,65
0,91
0,88883
Influência de trilhas
sonoras de filmes
0,55
0,32
0,59969
100 Sub-hipótese 2: Posse Relativa de CDs de Música clássica versus
Comportamento de Compra
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a posse
relativa de CDs de música clássica e o comportamento de compra dos
consumidores de música clássica. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,684439,
qui-quadrado de 37,916, com 2 graus de liberdade e probabilidade menor que
0,0001 de se haver rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas duas variáveis entraram na equação discriminante: a compra do CD em
função do regente e a compra de CD por Internet. A compra do CD em função do
regente foi a variável que apresentou maior poder discriminante, com um
coeficiente discriminante de 0,88988, enquanto que a segunda variável, compra
por Internet, apresentou um coeficiente discriminante de 0,54972.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 2, ou seja, dos que têm maior proporção de CDs de música clássica,
compra muito mais em função do regente (57%) do que aqueles que têm menor
proporção de CDs de música clássica (11%). Por outro lado, nenhum membro do
Grupo 1 compra pela Internet, enquanto 15% dos membros do Grupo 2 compram
por este meio. Os resultados são apresentados no quadro seguinte.
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
Compra em função do
regente
0,11
0,57
0,88988
Compra por Internet
0,00
0,15
0,54972
101 Sub-hipótese 3: Posse Absoluta de CDs de Música clássica versus
Comportamento de Compra
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a posse
absoluta de CDs de música clássica e o comportamento de compra dos
consumidores de música clássica. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,694050,
qui-quadrado de 33,417, com 3 graus de liberdade e probabilidade menor que
0,0001 de se haver rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas três variáveis entraram na equação discriminante: compra por Internet,
compra por telefone de CDs anunciados na TV e compra por indicação de
revistas especialistas. A compra por Internet foi a variável que apresentou maior
poder discriminante, com um coeficiente discriminante de 0,78255, seguida pela
variável de compra por indicação de revistas especializadas e, por último,
compra por telefone de CDs anunciados na TV.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 2, ou seja, dos que têm maior número de CDs de música clássica, compra
mais por Internet (25% versus 0%), por indicação de revistas especializadas
(39% versus 9%) e por telefone (11% versus 1%). O quadro seguinte apresenta
um sumário desses resultados.
Variáveis
Grupos
Coeficientes Discriminantes
Grupo 1=leve Grupo 2=pesado
Compra por Internet
0,00
0,25
0,78255
Compra por indicação de revistas especializadas
0,09
0,39
0,51422
Compra por telefone de
0,01
0,11
0,39986
102 anúncios na TV
Em síntese:
Todas as variáveis operacionais e respectivas sub-hipóteses foram testadas,
sendo possível, em todos os casos, rejeitar a hipótese nula.
4.2.4. Teste da Hipótese 4
Hipótese: Os consumidores "pesados" e "leves" de música clássica
podem ser diferenciados a partir de suas percepções quanto ao
papel da música clássica.
Foi realizado o teste da hipótese utilizando-se a análise linear de discriminantes,
método stepwise.
Os consumidores foram divididos em "leves" e "pesados", segundo três critérios:
preferência por música clássica (Grupo 1=não tem preferência; Grupo 2=tem
preferência)
posse relativa de CDs de música clássica = parcela de CDs de música
clássica no total de CDs (Grupo 1=menos de 1/4 dos CDs; Grupo 2= mais de
1/4 dos Cds)
posse absoluta de CDs de música clássica = número de CDs de música
clássica possuídos (Grupo 1= 1 a 20 CDs de música clássica; Grupo 2= mais
de 20 CDs de música clássica)
Cada uma das variáveis operacionais utilizadas para medir consumidores "leves"
e "pesados" foi testada através de uma sub-hipótese específica.
103 Sub-hipótese 1: Preferência por Música clássica versus Percepções
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a preferência
por música clássica e as percepções dos consumidores de música clássica
quanto a seu papel. Obteve-se um lambda de Wilks de 0,825952, qui-quadrado
de 15,967, com 1 graus de liberdade e probabilidade de 0,0001de se haver
rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas uma variável entrou na equação discriminante: a percepção de que as
pessoas que ouvem música clássica são geralmente mais cultas, com um
coeficiente discriminante de 1,000.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 2 tem uma percepção de que os que gostam de ouvir música clássica são
mais cultos, comparativamente à percepção do Grupo 1.
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
Percepção de que
as pessoas que
gostam de ouvir
música clássica são
mais cultas
3,56
2,26
1,000
104 Sub-hipótese 2: Posse Relativa de CDs de Música clássica versus
Percepções
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a posse
relativa de CDs de música clássica e as percepções dos consumidores de
música clássica quanto a seu papel. Obteve-se um lambda de Wilks de
0,890188, qui-quadrado de 9,655, com 2 graus de liberdade e probabilidade de
0,008 de se haver rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas duas variáveis entraram na equação discriminante: "ouvinte
individualista" e "ouvinte sociável"20
. A variável "ouvinte individualista" foi a
variável que apresentou maior poder discriminante, com um coeficiente
discriminante de 0,95925, enquanto que a segunda variável, "ouvinte sociável",
apresentou um coeficiente discriminante de 0,73197.
Interpretando esses resultados, a partir das médias dos grupos, verifica-se que o
Grupo 1 apresenta uma preferência maior por desfrutar a música clássica
"viajando" com seus pensamentos ("ouvinte individualista"), enquanto o Grupo 2
concordou mais com a afirmativa de ouvir música clássica com visitas ("ouvinte
sociável").
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
"ouvinte individualista"
1,96
2,57
0,95925
"ouvinte sociável"
3,31
2,94
0,73197
20 O "ouvinte individualista" seria o que concordou com a afirmativa de "ao ouvir música clássica,
fico 'viajando' com meus pensamentos"; o "ouvinte sociável" seria o que concordou com a afirmativa "coloco música clássica quando estou recebendo amigos em casa".
105 Sub-hipótese 3: Posse Absoluta de CDs de Música clássica versus
Percepções
Foi possível rejeitar a hipótese nula, de que não existe relação entre a posse
absoluta de CDs de música clássica e as percepções dos consumidores de
música clássica quanto a seu papel. Obteve-se um lambda de Wilks de
0,935065, qui-quadrado de 5,203, com 1 grau de liberdade e probabilidade de
0,0225 de se haver rejeitado erroneamente a hipótese nula.
Apenas uma variável entrou na equação discriminante: a variável "ouvinte
individualista", com um coeficiente discriminante de 1,000. Da mesma forma que
na análise anterior, o Grupo 1 concorda mais com essa afirmativa do que o
Grupo 2.
Variáveis
Grupos
Coeficientes
Discriminantes
Grupo 1=leve
Grupo 2=pesado
"ouvinte individualista"
2,00
2,68
1,000
Em síntese:
Todas as variáveis operacionais e respectivas sub-hipóteses foram testadas,
sendo possível, em todos os casos, rejeitar a hipótese nula.
107 5.1 SUMÁRIO DO ESTUDO
Este estudo teve por objetivo analisar o comportamento do consumidor de
música clássica no Rio de Janeiro, visando auxiliar o entendimento de como é
feita a compra de música clássica, de modo a orientar o posicionamento da
indústria fonográfica a produtos de música clássica.
Em particular foram investigadas as seguintes questões:
As características demográficas, tais como, idade, sexo, bairro de moradia,
escolaridade, renda familiar, diferenciam os segmentos de consumidores
leves e pesados de música clássica, descritos pelo grau de preferência por
música clássica, posse absoluta e relativa de CDs de música clássica?
As características do comportamento de uso, como local de preferência e de
costume de ouvir música clássica, meio de ouvir música clássica, discriminam
os consumidores leves e pesados de música clássica?
As características do comportamento de compra, tais como, critério de
escolha, local de compra, influenciadores na decisão de compra,
sensibilidade a preço e à promoção, diferenciam os consumidores leves e
pesados de música clássica?
As percepções quanto ao papel da música clássica (motivações) podem
discriminar os consumidores leves e pesados da música clássica?
A revisão de literatura, apresentada no capítulo II, aprofundou a discussão sobre o
papel da música na vida do ser humano, o papel da música clássica no decorrer
da história e sua disseminação nas sociedades ocidentais, bem como sobre o
marketing da música e o comportamento do consumidor.
108 O comportamento do consumidor de música clássica do Rio de Janeiro foi
avaliado por meio de pesquisa de campo, realizada no mês de março de 1999,
utilizando uma amostra de conveniência em um total de 116 ouvintes,
selecionados em audiências de concertos de música clássica em praça pública e
igreja, em de teatro-musical em praça pública, entre freqüentadores do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro e na seção de CDs clássicos de lojas de discos.
Os resultados da pesquisa de campo foram analisados utilizando-se estatística
análise descritiva e análise de discriminantes, com auxílio do pacote estatístico
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Não foi possível rejeitar a hipótese nula, não se obtendo resultados
estatisticamente significativos quanto à relação entre o consumo de música
clássica e as características demográficas do consumidor.
No que concerne à relação entre os comportamentos de compra e de uso e o
consumo de música clássica foi possível rejeitar a hipótese nula de que não
existe relação entre:
a preferência por música clássica e: o meio para ouví-la, o local de compra de
CDs, os influenciadores na decisão de compra e as percepções da música
clássica pelo consumidor;
a posse relativa de CDs de música clássica e: o local de ouví-la; o critério de
escolha do CD, o local onde o produto está disponível e as percepções da
música clássica pelo consumidor;
a posse absoluta de música clássica e: o meio e o local de ouví-la, a
sensibilidade à promoção e ao local onde o CD está disponível para
aquisição e as percepções da música clássica pelo consumidor.
109 5.2 CONCLUSÕES
Considerando-se as limitações decorrentes do uso de uma amostra de
conveniência, é necessária cautela ao extrapolar as conclusões do presente
estudo para o universo de consumidores.
A análise dos resultados da pesquisa de campo obteve indicações de que o
consumidor de música clássica, no Rio de Janeiro, de forma geral, consome
outros estilos de música, além da música clássica, não possuindo formação em
música clássica, quer acadêmica ou profissional. Com relação ao número de
CDs que possui, os de música clássica representam menos da metade de suas
coleções e, em valores absolutos, correspondem a menos de vinte unidades.
Além disso, as motivações para consumir música clássica parecem poder ser
avaliadas pela emoção, erudição/sofisticação/status intelectual, aceitação social,
relaxamento e imaginação.
Por outro lado, os ouvintes da música clássica parecem não apresentar
preferência entre consumí-la via concertos ou produtos da indústria fonográfica.
Com relação ao comportamento de uso, o CD parece ser o meio mais utilizado
para ouvir música clássica e o critério de escolha parece ser a música. Quanto
ao local, onde costuma e prefere ouvir a maioria dos consumidores indicou “em
casa”.
Com referência ao comportamento de compra, os consumidores de CDs de
música clássica, preferencialmente adquiridos em lojas de discos, parecem ser
influenciados pelos concertos que assistem e por indicações de amigos.
110 Parecem ser também sensíveis a promoções e quando gostam compram
independentemente do preço.
No que concerne à percepção da música clássica, a análise dos resultados
parece indicar que, essas percepções tendem a discordar mais dos teóricos que
consideram o valor da música dissociado das emoções e a concordar mais com
os outros estudiosos. Os resultados parecem mostrar que a relação música e
emoção é verdadeira tanto quanto a relação entre música e imaginação.
Dos segmentos de consumidores identificados, como "leves" (lightusers) e
"pesados" (heavyusers), apenas algumas variáveis permitem diferenciá-los.
O comportamento de uso e de compra e a percepção do papel da música
clássica entre os segmentos não parecem ser diferenciáveis por variáveis
demográficas, como sexo, idade, região de moradia, escolaridade ou renda
familiar.
No entanto, pôde ser observado que, com referência ao comportamento de uso o
grupo "pesado" utiliza mais o rádio e as fitas cassete para ouvir música clássica
e prefere menos ouví-la como fundo musical do que o grupo "leve".
No que concerne ao comportamento de compra, o segmento "pesado" parece
adquirir CDs de música clássica mais em função do regente, nas lojas de discos,
pela internet, por telefone os CDs anunciados na televisão, por influência de
indicações de revistas especializadas em música clássica e menos por influência
de trilhas sonoras de filmes que o segmento "leve".
Quanto à percepção do papel da música clássica o grupo "pesado" parece
concordar mais com a idéia de que gostar de ouvir música clássica sinaliza
maior erudição e que é um ouvinte mais sociável em relação à música clássica
111 do que o grupo "leve". Por outro lado, concorda menos com a afirmação de que
ouvir música é um processo mental e imaginativo do que o segmento "leve".
5.3 INDICAÇÕES PARA OUTROS ESTUDOS
Como o fato de a presente pesquisa ter sido realizada com uma amostra de
conveniência pode não permitir que seus resultados sejam generalizados para a
população, deve-se observar que esses resultados podem servir de base para
estudos futuros, uma vez que podem sinalizar o comportamento do consumidor
de música clássica no Rio de Janeiro, mostrando como a adquirem e orientando
o posicionamento dado pela indústria fonográfica.
Nesse sentido, recomenda-se a realização de novas surveys, utilizando amostras
probabilísticas, que possam proporcionar visão mais detalhada e precisa dos
segmentos estudados.
Os estudo etnográficos e o uso de focus groups poderão, também, trazer maior
contribuição ao entendimento dessas questões.
113
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. A CLASSIC Problem Economist UK, v.341, n.7988, p.87-88,19 Oct. 1996.
2. AAKER, D.A., SHANSBEY, J. G. Positionning your product. Business Horizons,
v.25, n.3, p.56-62, May/Jun. 1982.
3. ABBATE, C. Unsung voices: opera and musical narrative in the Nineteenth
Century. Princeton : Princeton University Press, 1996. 288p.
4. ALMEIDA, C. J. M. de, DA-RIN, S., orgs. Marketing cultural ao vivo:
depoimentos. Rio de Janeiro : Livraria Francisco Alves Editora, 1992. 184p.
5. ALRECH, P. L., SETTLE, R. B. The survey research handbook: the Irwin series
in Marketing USA : Irwin Professional Pub. , 1995. 470p.
6. ARAÚJO, S. M., Brega: Music and conflict in urban Brazil orientador: David
Stigberg. University of Illinois, 1987. Dissertação (Mestrado)
7. ARRUDA, A. M. L. Idosos no Municipal, O Globo, Rio de Janeiro, 13 jun. 1999.
Cartas, p.6.
8. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING DIRETO Código de ética s/d. 5p.
9. BAINBRIDGE, J. Scenting opportunities Marketing, UK, p.36-37, 19 Feb 1998.
10. BECKER, H. S. Art worlds USA : University of California Press, 1984. 392p.
114 11. BETHLEM, A. Avaliação ambiental e competitiva Rio de Janeiro :
UFRJ/COPPEAD, 1996, 200p.
12. BLASKEY, R. Marketers are still deaf to the power of music Marketing Week UK,
v.21, n.34, p. 16, 22 Oct. 1998
13. BOND, C. Can’t stop the music. Marketing, p.24, 2 Jun.1994.
14. BOYD, H. W., WESTFALL, R., STASCH, S. F. Marketing research: text and
cases 1977
15. BUDD, M. Music and the emotions: the philosophical theories. London :
Routledge, 1992. 190p
16. CAMARGO, M. S. Telemarketing: um novo instrumento de marketing à disposição
das empresas. São Paulo : ESPM, s/d. 27 p. (Estudos ESPM)
17. CANDÉ, R. de O convite à música. São Paulo: Martins Fontes, s/d., 301p.
18. CARIDE, D. O mercado fonográfico perto de US$ 1 bilhão. Gazeta Mercantil, São
Paulo, 10, 11 e 12 out. 1997, Empresas & Negócios, p.C-8.
19. CARTER, M., Will Cable Radio Be Music to their Ears?. Marketing Week, v.18,
n.16, p.22, 21 Apr. 1995.
20. CLANCY, K. J, SHULMAN, R. S. Marketing Myths That Are Killing Business:
the cure for death wish marketing, EUA: McGraw-Hill, 1995, 308p.
21. CLASSIC FM looks to extend reach with artistic posters Campaign, London, p.8,
17 May 1996.
115
22. CLEANSING BACH and Beethoven Economist, UK, v.340, n.7.978, p.75-76, 10
Aug. 1996.
23. COELHO, T. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo : Iluminuras, 1997.
383p.
24. CONCERTO to play on Mazda brand values Marketing Week, UK, v.19, n.6, p.9, 3
May 1996.
25. COOK, N. Music, Imagination and Culture. New York : Oxford University Press,
1992. 265p.
26. COWEN, T. In Praise of Commercial Culture, Cambridge : Harvard University
Press, 1998. 278p.
27. DAVIDOW, W. H. Marketing de alta tecnologia : uma visão de dentro, Rio de
Janeiro: Campus, 1991. 215p.
28. DENNY, N. Business Queue Up to Sponsor the Arts, Marketing, p.13, 7 Sep. 1995
29. DUBE, L., CHEBAT, J.C., MORIN, S. The effects of background music on
consumers’s desire to affiliate in buyer-sellers interactions. Psychology &
Marketing, US, v.12, n.4, p.305-319, Jul. 1995.
30. DWYER, P. The new music biz. Business week, n.3458, p.48-51,1 5 Jan. 1996.
31. ECO, U. Como se faz uma tese em Ciências Humanas, 3a Ed., Lisboa :
Editorial Presença, 1984, 232p.
116 32. FARIA, A. G. Popular e erudito para expandir a música. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 6 mar. 1999, Idéias/Livros. p.5
33. FERREIRA, A. L. Marketing para pequenas empresas inovadoras. Rio de
Janeiro : Expert Books, 1995, 282p.
34. FINK, M. Inside the music business: music in contemporary life, New York :
Schimer Books, 1989, 401p.
35. FOREMAN, S. Consumer behaviour and emotions Manager Upadate UK, v.10,
n.1, p.9-19, Autumn 1998.
36. FURLEY,G. Measuring what they really, really want Management-Auckland
Auckland, v.45, n9, p.42-43, Oct. 1998.
37. GRANT, M. N. Maestros of the pen: a history of classical music criticism in
America. Boston : Northwestern University Press, 1998. 374p.
38. GUIA Viva Música 98-99: O anuário brasileiro da música clássica, Rio de Janeiro
: Viva Música, 1998, 158p.
39. GUIMARÃES, R. O desafio do quebra-cabeças: individuação no sucesso das
empresas. Mercado Global, São Paulo, n.90, , p.26-30, 2o trim. 1993.
40. HALEY, R. I. Benfit Segments: backwards and forwards. Journal of Advertising
Research v.24, n1, p.19-25, Feb./Mar., 1984.
41. HARRIS, Thomas L. Why Your Company Needs Marketing Public Relations. Public
Relations Journal, p. 26-27, Sep. 1991.
117 42. HILL, E., O’SULLIVAN C., O’SULLIVAN T. Creative Arts Marketing. Oxford :
Butterworth-Heinemann, 1998, 363 p.
43. HILL, S., RIFKIN, G. Radical marketing: from Harvard to Harley, lessons from ten
that broke the rules and make it big. New York : HarperBusiness, 1999. 277p.
44. HUFFSTUTTER, P.J. MP3, a sigla que faz tremer as gravadoras. Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro : 18/fev/1999, B, p.11
45. HUNTER, V. L. Business to business marketing: creating a comunity of
customers Illinois : NTC Business Books, 1997, 326 p.
46. IN HARMONY at last Economist UK, v.340, n.7983, p.117-118, 14 Sep. 1996.
47. JOURDAIN, R. Música, Cérebro e Êxtase, Rio de Janeiro : Objetiva, 1998, 441p.
48. KAO, J. The heart of creativity Across the Board US, v.33, n. 8, p.23-27, sep.
1996.
49. KIVY, P. The fine art of repetition: essays in the philosophy of music. Cambridge
: Cambridge University Press, 1993, 373 p.
50. KOTLER, P. Marketing management, 1994. cap. 24: Promoção de Vendas:
Decisões e Ferramentas, trad. UFRJ/COPPEAD
51. KOTLER, P. Marketing management: analysis, planning and control, 2nd Ed. New
Jersey : Prentice-Hall, 1972, 885 p
52. KOTLER, P. ANDREASEN, A. Strategic marketing for nonprofit
118 organizations, 4th ed. New Jersey : Prentice Hall, 1991, 644p.
53. KOTLER, P., BLOOM, P. N. Marketing de serviços profissionais São Paulo :
Atlas, 1990, 357p.
54. KOTLER, P., FERREL, O. C., LAMB, C. Strategic Marketing for Nonprofit
Organizations – cases and readings, 3rd Ed., New Jersey : Prentice Hall, 1987.
386p.
55. KOTLER, P., SCHEFF, J. Standing Room Only: strategies for marketing the
performing arts, Boston : Harvard Business School Press, 1997. 560p.
56. LA FRANCO, R. Wallpaper sonatas Forbes US, v.157, n.6, p. 114, 25 Mar 1996.
57. LEBRECHT, N. Who killed classical music: maestros, managers, and
corporate politics, New Jersey : Birch Lane Press, 1997, 455p.
58. LEE, J. Haagen-Dazs: music from the food of love. Marketing. p.8, 13 Jul. 1995.
59. LEFTON, T. Sony’s top US gadget guru pushes a new musicformat. Brandweek,
p.24-27, v.35, n.23.
60. LEPPERT, R. The sight of sound: music, representaion, and the history of the
body USA : University of California Press, 1995. 316p.
61. LEPPERT, R., McCLARY, S. orgs. .Music and Society: the politics of composition,
performance and reception. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 202p.
62. LEVITT, T. A moralidade (?) da publicidade, Biblioteca Havard, s/d, 9p.
119
63. LEVITT, T. A imaginação de marketing, São Paulo : Atlas, 1991, 261p.
64. LEVITT, T. Como comercializar produtos intangíveis e aspectos intangíveis de
produtos. Exame São Paulo : n.234, p.49-51, set. 1981.
65. MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a
Wittgenstein, Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1997. 298p.
66. MARKETING Mozart. Economist UK, v.337, n.7943, p.74, 2 Dec. 1995
67. MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing São Paulo : Atlas, 1993 (2 volumes)
68. McCLARY, S, The blasphemy of talking politics during Bach year, In: Music and
Society: the politics of composition, performance and reception . Cambridge :
Cambridge University Press, 1996. pp. 13-62.
69. McKENNA, R. Marketing de relacionamento, Rio de Janeiro : Campus, 1993.
254p.
70. MEDAGLIA, J. Música Impopular, São Paulo : Global, 1988. 328p.
71. MILLER, C. Music marketers hoping to see a Net gain Marketing News, v.30, n.2,
p. 2, 11 Jan. 1996.
72. MILLER, C. Real records get another spin Marketing News, v.29, n.19, p. 1,14, 11
Sep. 1995.
73. MISNER, I. R. The world’s best known marketing secret: building your business
with word-of-mouth marketing. Texas : Bard & Stephen, 1994. 223 p.
120
74. MORELLI, R. C. L. Indústria Fonográfica: um estudo antropológico. Campinas :
Editora da Unicamp, 1991. 231p.
75. MOREOVER: The modern airs of classical music Economist US, v.347, n.8071,
p.81-82, 6 Jun. 1998.
76. MUSIC Retailer finds commerce in communities Infoworld, US, p.46, 2 Feb. 1998.
77. MUYLAERT, R. Marketing Cultural & Comunicação Dirigida. 4a Ed., São Paulo
: Globo, 1995. 291p.
78. NATTIEZ, J.J, ECO, U., RUWET, N. et al. Semiologia da Música. Lisboa : Veja,
s/d. 166p.
79. NESTROWSKI, A . R. Debussy e Poe. Porto Alegre : L&PM, 1986. 126p.
80. OHMAE, K. Poder da Tríade. São Paulo : Pioneira, 1989. 205p
81. OLSEN, G. D. The impact of interstimulus interval and background silence on recall
Journal of Consumer Research US, v.23, n.4, p.295-303, Mar. 1997.
82. PERRIN, S. Thank you for the music. Accountancy, US, International edition, p.25-
26, Apr. 1997.
83. PORTER, M. E. Competitive advantage. New York : Free Press, 1985. 557p.
84. PORTER, M. E. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro : Campus, 1986. 362p
85. PREMIUM Lines for music lovers. Marketing Week, US, v.18, n.16, p.48, 30 Jun
121 1995.
86. REILEY, P. M. Música na internet desafina a relação entre gravadoras e varejo.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21/jul/1997, The Wall Street Journal Americas, p.
11
87. REISS, A. H. Don’t Just Applaud – Send Money!, 2nd Printing. New York :
Theatre Communications Group, 1997. 146p.
88. RIES, A., TROUT, J. Marketing de Guerra II: A ação. São Paulo : McGraw-Hill,
1989, 210 p.
89. RIES, A., TROUT, J. Posicionamento: como a mídia faz sua cabeça. São Paulo,
1989.
90. ROBINSON, J. P. Radio Songs American Demographics US, v.18, n.9, p.60-61,
Sep. 1996.
91. ROBLES, F., HASSAN, S. H., LIEBRENZ-HIMES, M. Iternational direct
marketing: trends and strategy framework. Washington : George Washington
University, 1990. 55p.
92. ROCHA, A., CHRISTENSEN C. Marketing: teoria e prática no Brasil, São Paulo :
Atlas, 1994, 350p.
93. ROCHA, E., P. G. A Sociedade do Sonho: comunicação, cultura e consumo, Rio
de Janeiro, Maud, 1995, p.
94. ROCHA, E., P. G. O Que É Etnocentrismo, 10a Ed., São Paulo : Brasiliense,
122 1994, 96p.
95. ROPOLLA, J. Music finds an audience if you know how to look Marketing News,
v.29, n19, p.17, 28 Aug. 1995.
96. ROWE, C. W. A review of direct marketing and how it can be applied to the
wine industry. Australia : Elton Mayo School of Management/South Australian
Institute of Technology, s/d. p. 5-14
97. ROZEMBERG, D. The world of classics Business Mexico, v.6, n.7, p.30, Jul.
1996.
98. SCOFIELD JR., G. Os CDs conquistam o país. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,
19 jun. 1996, Negócios & Finanças. p.15
99. SHANI, D., CHALASANI, S. Atacando nichos com marketing de relacionamento.
Journal of Consumer Marketing, v.9, n.3, p. 33-41, 1992. trad. UFRJ/COPPEAD
100. SHEPHERD, J. Music and male hegemony, In: Music and Society: the politics
of composition, performance and reception . Cambridge : Cambridge University
Press, 1996. p. 151-172.
101. SHERMAN, B. D. Inside early music: conversations with performers. New York
: Oxford University Press, 1997. 414p.
102. SIMÕES, M. L. O Marketing de CD’s, Rio de Janeiro, jan.1996, 32p.
103. SMITH, P. W. Eximining the effects of liked and disliked television
commercials on consumer brand attitudes: an application of classical
conditioning principles. orientador: Richard A. Feinberg. Purdue University, 1990.
123 Dissertação (Doutorado)
104. STEWART, A. L. Europe’s music business: a sound success, Marketing News,
v.28, n14, p.9, Jul.1994.
105. STEWART, D. W., PUNJ, G.N. Effects of using a nonverbal (musical) cue on
recall and playback of television advertising: implications for advertisung tracking
Journal of Business Research US, v.42, n.1, p.39-51, May 1998.
106. STONE, B. Marketing direto. São Paulo : Nobel, 1992. cap.13: Telemarketing.
p. 268-98.
107. TRIPLETT, T. Corporate sponsors get artsy to find upscale consumers.
Marketing News, US, v.28, n.10, p.10, 9 May 1994.
108. VAN PRAAG, B. M. S., SLOOTMAN, K., STAM, P. et al. The demand for
concerts of classical music: decision support for the scenario-planning of orchestras
by means of ROA-analysis Marketing & Research Today, v.24, n.1, p.27-35, Feb.
1996.
109. WEBSTER JR., F. E. Industrial Marketing Strategy, 3rd Ed. New York : John
Wiley & Sons, 1991. 365p.
110. WEST, S. Or you could have a martini Forbes US, FYI Supplement, p.86,
Summer 1998.
ENTREVISTAS 1. Francisca Passos – Associação Brasileira dos Produtores de Discos – ABPD
2. Heloísa Fischer - Editora da Revista Viva Música e Gerente de Marketing da Sony
124 Music
3. Liana Lúcia Neuss– Responsável pela Área de Clássicos da Universal/Polygram
4. Luciana Pegorer – Responsável pela Área de Clássicos da Warner
5. Maurício Dias – Responsável pela Área de Clássicos da EMI
6. Natália Carneiro – Gerente Administrativa do Sindicato dos Músicos Profissionais
do Rio de Janeiro – SindMusi
7. Sergio Nepomuceno – Diretor da Orquestra Sinfônica Brasileira – OSB
8. Vendedores do setor de clássicos da Livraria Saraiva Megastore
9. Natália Carneiro– Gerente Administrativa do Sindicato dos Músicos Profissionais
do Rio de Janeiro - SindMusi
126 Este questionário se destina a conhecer o gosto das pessoas por música clássica
Não é necessário identificar-se.
, como parte de uma tese de mestrado, do Instituto de Pós-Graduação em Administração (COPPEAD), da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1. Como você avalia seu gosto por música clássica? ( ) prefiro a música clássica a qualquer outro estilo ( ) gosto de música clássica, mas também gosto de outros estilos musicais ( ) ouço música clássica, mas não é meu estilo preferido ( ) não tenho muito interesse em ouvir música clássica ( ) não gosto de música clássica (CASO TENHA ESCOLHIDO ESSA
OPÇÃO, PASSE PARA A PERGUNTA 15, AO FINAL DO QUESTIONÁRIO
2. Indique entre a alternativas abaixo, aquelas que se aplicam ao seu caso: ( ) sou músico profissional ( ) sou músico amador ( ) já estudei/estudo música clássica ( ) nunca estudei música clássica 3. Considerando o número total de CDs de música clássica que lhe pertencem,
você diria que: (ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MELHOR APLICA AO SEU CASO):
( ) menos da quarta parte de todos os CDs que tenho são de música clássica ( ) entre a quarta parte e a metade de todos os CDs que tenho são de música
clássica ( ) mais da metade de todos os CDs que tenho são de música clássica ( ) eu não tenho CDs de música clássica 4. Quantos CDs de música clássica você possui, aproximadamente? _______ (SE NÃO TIVER CDs DE MÚSICA CLÁSSICA, PASSE PARA A PERGUNTA 15 AO FINAL DO QUESTIONÁRIO) 5. Quando você compra um CD de música clássica, o que influencia sua decisão:
(ASSINALE TANTAS ALTERNATIVAS QUANTAS DESEJAR) ( ) o compositor ( ) a música ( ) o intérprete/regente ( ) a gravadora
127 6. Quando você compra um CD de música clássica, qual a sua preferência, entre
as indicadas a seguir: ( ) coletâneas de partes de músicas de diferentes compositores ( ) coletâneas de partes de músicas de um mesmo compositor ( ) a música inteira ( ) não tenho preferência 7. Com relação ao local onde costuma ouvir
música clássica, indique três locais entre as listados a seguir:
( ) em casa ( ) em concertos ao ar livre ( ) como fundo musical em locais públicos ( ) no carro ( ) no trabalho ( ) em salas de concerto 8. Se você pudesse escolher onde ouvir música clássica, onde preferiria
ouvir ( ESCOLHA APENAS UMA DAS ALTERNATIVAS ABAIXO)
( ) em casa ( ) em concertos ao ar livre ( ) como fundo musical em locais públicos ( ) no carro ( ) no trabalho ( ) em salas de concerto 9. Indique entre as alternativas abaixo, até três locais
onde costuma comprar CDs de música clássica:
( ) lojas de discos ( ) bancas de jornal ( ) vendedores ambulantes/camelôs ( ) na internet ( ) por telefone, comprando produtos anunciados pela televisão ( ) por telefone, comprando produtos de catálogos enviados pelo correio ( ) outros (POR FAVOR, ESPECIFIQUE) __________________________
128 10. Você costuma comprar CDs de música clássica em promoções/ofertas
especiais? ( ) Não (PASSE PARA A PERGUNTA 11) ( ) Sim – Em que situações? ( ) ofertas nas lojas ( ) ofertas de revistas/jornais ( ) outros (ESPECIFIQUE) _____________________________ 11. Quais das seguintes alternativas podem influenciar sua compra de CDs de
música clássica? (INDIQUE TANTAS ALTERNATIVAS QUANTAS DESEJAR) ( ) indicações obtidas em revistas especializadas em música clássica ( ) indicações obtidas em colunas/seções especializadas de revistas e jornais ( ) por ter assistido um concerto ( ) por indicações de amigos ( ) por ser trilha sonora de filmes ( ) outros (ESPECIFIQUE)
_______________________________________ 12. Qual das seguintes alternativas melhor expressa seu comportamento na
compra de CDs de música clássica (ASSINALE UMA ÚNICA ALTERNATIVA, QUE MELHOR RETRATE SEU COMPORTAMENTO HABITUAL)
( ) procuro comprar CDs de música clássica que estejam em promoção ( ) faço pesquisa de preços, comparando os preços de CDs de música
clássica em vários pontos de venda (lojas, internet, etc.) ( ) quando gosto, compro CDs de música clássica sem me preocupar com
o preço 13. Assinale com um X, todos os meios que utiliza
para ouvir música clássica
( ) rádio ( ) televisão ( ) fitas cassete ( ) fitas de vídeo ( ) CD ( ) DVD ( ) LP ( ) walkman ( ) internet ( ) outros (ESPECIFIQUE)
_______________________________________
129 14. Qual das frases abaixo, melhor expressa sua opinião a respeito da música clássica:
(ASSINALE O NÚMERO QUE MAIS CORRESPONDE A SUA OPINIÃO)
(1) concordo totalmente (2) concordo parcialmente (3) não concordo, nem discordo (4) discordo parcialmente (5) discordo totalmente
ouvir música clássica é uma coisa que fazem as pessoas com quem convivo
1 2 3 4 5
as pessoas que gostam de ouvir música clássica são geralmente mais cultas
1 2 3 4 5
acho que somente quem entende de música clássica gosta de ouví-la
1 2 3 4 5
gosto de ouvir música clássica quando estou estressado 1 2 3 4 5 ao ouvir música clássica fico “viajando” com meus pensamentos
1 2 3 4 5
coloco música clássica quando estou recebendo amigos em casa
1 2 3 4 5
gosto de ouvir música clássica para namorar 1 2 3 4 5 acho que os concertos, grátis, ao ar livre, tornam a música clássica popular
1 2 3 4 5
acho que a música clássica não 1 deve se tornar popular 2 3 4 5 gosto de ouvir música clássica sozinho 1 2 3 4 5
130
(1) concordo totalmente (2) concordo parcialmente (3) não concordo, nem discordo (4) discordo parcialmente (5) discordo totalmente
quando ouço música clássica volto ao passado 1 2 3 4 5 a música clássica para mim é entretenimento 1 2 3 4 5 ao ouvir música clássica acho que sinto a emoção que o compositor sentiu quando escreveu a música
1 2 3 4 5
ao ouvir música clássica acho que sinto a emoção que o músico sente ao interpretá-la
1 2 3 4 5
ao ouvir música clássica sinto uma emoção particular, diferente, que não sei explicar
1 2 3 4 5
não importa qual seja a música tocando, sempre sinto a mesma emoção quando ouço música clássica
1 2 3 4 5
15. Indique alguns dados sobre você: Sexo ( ) feminino ( ) masculino Faixa etária ( ) menos de 18 anos ( ) entre 19 e 25 anos ( ) entre 26 e 35 anos ( ) entre 36 e 45 anos ( ) entre 46 e 55 anos ( ) entre 56 e 65 anos ( ) 66 ou mais
131 Bairro onde mora: ________________________________________________ Escolaridade: ( ) primeiro grau incompleto ( ) primeiro grau completo ( ) segundo grau incompleto ( ) segundo grau completo ( ) universitário incompleto ( ) universitário completo Renda familiar ( ) até R$ 500,00 ( ) de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 ( ) de R$ 1000,00 a R$ 2.500,00 ( ) de R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00 ( ) acima de R$ 5.000,00 MUITO OBRIGADA.
133 ANEXO 2
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 1
permitir a revenda de ingressos dos assinantes da Orquestra Filarmônica de
Oklahoma que não compareciam aos concertos (no-show).
"problema" de marketing
envio de ímãs de geladeira com a programação de todos os concertos a todos os
assinantes e com o aviso: "se você não puder ir ao concerto, ligue para a bilheteria
(tel. x) 24 horas antes do concerto para liberar seu lugar para uma doação dedutível
de impostos.
plano desenvolvido
aumento de mais de 50% no número de ingressos retornados para revenda no
primeiro ano de implementação da estratégia.
resultados alcançados
caso 2
atrair a comunidade sino-canadense para assistir a apresentações da Ópera de
Vancouver, de forma intensiva, a longo prazo e com base em parcerias cooperativas
"problema" de marketing
contratação de consultoria de marketing com experiência com a comunidade chinesa,
que desenvolveu e implementou plano conjunto com importante membro dessa
comunidade, direcionado para o grupo de imigrantes que chegaram nos últimos 5
anos, com idade superior a 15 anos, com habilidade média em inglês e receptivo à
cultura ocidental, envolvendo as ações:
plano desenvolvido
134 ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 2 (cont.)
plano desenvolvido
relacionamento estreito com a mídia chinesa, desenvolvido por visitas aos bastidores;
almoços informativos; promoção conjunta de eventos; coluna operística regular em
jornal de língua chinesa, incluindo artigos sobre história da ópera ocidental,
personalidades chinesas na ópera, dicas para assistir a óperas; anúncios sobre
serviços públicos em chinês;
(cont.)
estabelecimento de um Conselho formado por membros da Ópera e da comunidade
sino-canadense para promoção de workshops sobre diversidade cultural e de outros
eventos.
resultados alcançados
ao fim do primeiro ano, realização de projetos conjuntos com a comunidade sino-
canadense, participação da Ópera em eventos da comunidade, recepção positiva dos
artigos da Ópera no jornal, edição de artigos em publicações de língua chinesa, no
início pagando pelo espaço, mas posteriormente gratuitos; ligeiro crescimento da
presença da comunidade chinesa nas apresentações da Ópera.
caso 3
familiarizar a platéia com as quatro óperas do Ciclo do Anel, de Wagner, tema de um
festival da Ópera do Arizona, com objetivo de criar excitação para o festival.
"problema" de marketing
135 ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 3 (cont.)
desenvolver segmento específico para obras de Wagner dentre os freqüentadores
regulares da Ópera, bem como atrair os não-Wagnerianos, enfatizando o lado cômico
e a esquisitice de sua obra: enquanto produzia "As Valquírias", colocou à venda
exemplares da história em quadrinhos "O Anel de Nibelung", que apresentava a
tetralogia de fácil entendimento.
plano desenvolvido
além de receber parte das vendas dos quadrinhos doada pelo editor, que esgotou em
um mês, a Ópera conseguiu "wagnerizar" sua platéia e uma pesquisa realizada
mostrou que 65% dos respondentes manifestavam intenção de assistir às óperas.
resultados alcançados
caso 4
atrair consumidores que não assistiam concertos do American Repertory Theatre, em
Cambridge, Estados Unidos, porque não tinham com quem deixar os filhos
"problema" de marketing
criação de programação de concertos diurnos, com atividades educativas
supervisionadas por especialistas, em uma escola vizinha ao Teatro, para crianças de
2 a 10 anos, ao custo de US$ 10 por criança, incluído transporte de ida e volta entre a
escola e o Teatro.
plano desenvolvido
136
ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 4 (cont.)
concertos desse tipo passaram a fazer parte da programação normal do Teatro e uma
média de 20 crianças era supervisionada por concerto.
resultados alcançados
caso 5
atrair consumidores da Ópera de Indianápolis, Estados Unidos, para a próxima
temporada, que se sentiam intimidados em assistir a seus concertos ou que os
consideravam muito formais, após uma humorada campanha na mídia impressa e na
televisão, em torno de uma heroína "wagneriana" obesa com o tema "Tudo acabou
para a moça gorda", que produziu um aumento de 40% nas assinaturas para a
temporada em curso.
"problema" de marketing
parodiar um tablóide bastante conhecido por meio de uma brochura em formato de
jornal, “O Investigador da Ópera de Indianápolis”, contendo em letras garrafais e
berrantes, como em manchetes "Segredos chocantes revelados: "ótimo vendedor de
dia, fã de ópera à noite" ou "médicos dizem que comprar ingressos para ópera acaba
com a depressão" ou "maridos dizem: a ópera salvou nosso casamento" e
apresentando a programação da temporada.
plano desenvolvido
resultados alcançados
137 a reação da população foi mais uma vez instantânea e positiva e as vendas de
ingressos para a temporada aumentou 33%.
ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 6
noticiar a temporada da Ópera de New Orleans visando atingir o interesse da
comunidade local e tornar a ópera mais acessível e menos intimidante.
"problema" de marketing
utilizar a tática de chocar os consumidores empregada por outras óperas pelo
lançamento de 70.000 cópias do jornal “The New Orleans Opera News”, com formato
semelhante a de um tablóide de supermercado, contendo a programação e
formulários para as assinaturas e manchetes na capa com temas comuns das peças
operísticas, tais como: “Vingança!, Assassinato!, Fraude!, Paixão! e um punhal
mostrando como as óperas vão direto ao coração e no interior a descrição das óperas
da temporada com títulos do tipo “Assassinato em Moor”, sobre a ópera Lucia di
Lammermoor ou “Pacto Suicida Condena Casal de Adolescentes”, descrevendo
Romeo et Juliette.
plano desenvolvido
a Ópera recebeu cartas e telefonemas parabenizando pelo apelo utilizado, grande
cobertura na mídia, prêmios da imprensa e, enquanto a freqüência a óperas de outros
grupos se reduzia, a platéia da New Orleans Opera permaneceu estável e próxima da
capacidade do teatro.
resultados alcançados
caso 7
"problema" de marketing
138 promover a Cincinnati Opera como divertida, relevante, acessível e romântica, uma
vez que, apesar das críticas favoráveis, vinha vendendo 54% dos lugares e que
reconhecia que muitos consideravam a ópera elitista
ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 7 (cont.)
produzir um apelo popular na ópera relacionando-a com o cinema e descrevendo cada
ópera com um filme, por exemplo, “Carmen”, como “Atração Fatal”; “As Bodas do
Figaro”, como “Negócio Arriscado”, “La Boheme”, como “O Último Tango em Paris”,
nas brochuras de assinatura e em outdoors, e nas temporadas seguintes adotando um
nome de filme para cada temporada e cada ópera se encaixando nos nomes
escolhidos. Além disso, realizou uma parceria com o fabricante de perfumes, Estee
Lauder’s, para lançamento de um perfume com nome de “Spellbound”.
plano desenvolvido
a Cincinnati Opera com esse apelo promocional obteve enorme atenção nas mídias
local e nacional, passou a vender em média mais de 95% dos lugares e a taxa de
renovação de assinaturas subiu para mais de 85%.
resultados alcançados
caso 8
aumentar a ocupação dos assentos da Oklahoma City Philharmonic disponibilizando
ingressos da “Série Família” para o maior número de pessoas e ao menor preço
possível, já que dispunham de patrocínio para a série.
"problema" de marketing
plano desenvolvido
139 utilizar força de vendas infanto-juvenil proveniente de 61 escolas de primeiro e
segundo graus, mediante incentivos em função das vendas obtidas, tanto para as
escolas quanto para os estudantes, tais como, US$ 5 para o programa de música da
escola a cada assinatura vendida; festa em uma pizzaria para o
ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 8 (cont.)
plano desenvolvido (cont.)
melhor vendedor de cada escola de primeiro grau, em parceria com restaurantes; dois
ingressos gratuitos para o melhor vendedor de cada escola de segundo grau, uma
viagem para o Sea World, para o melhor vendedor da cidade e cada estudante que
vendesse pelo menos um ingresso receberia um complementar.
envolvimento de mais de 4.500 jovens, com incremento na venda de assinaturas da
“Série Família” de mais de 1.500, das quais mais de 1.100 vendidas pelos estudantes,
resultando em um aumento de vendas de US$ 7.661 para US$ 18.840 e um lucro
líquido de US$ 10.000.
resultados alcançados
caso 9
atrair público mais jovem para assistir aos concertos da American Symphony
Orchestra, de New York, que havia constatado um "envelhecimento" de sua platéia,
cuja idade média era de 55 anos, mediante o relacionamento da música clássica com
outras áreas, desenvolvendo programas como "Surrealismo e Música?", "O Mundo
Musical ao redor de René Magritte?" ou " A Quebra da União Soviética: Um Espelho
"problema" de marketing
140 Musical (1980-1990)?, este último dirigido para estudantes de Negócios
Internacionais, da Columbia University.
ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 9 (cont.) - plano desenvolvido
(cont.)
após constatado por pesquisa que os consumidores queriam um programa de compra
de ingressos mais flexível que as tradicionais assinaturas, que a idade média dos
assinantes era de 45 anos e que 25% do total de assinantes estava com menos de 40,
a orquestra decidiu permanecer na programação temática de concertos, como “As
Origens do Impressionismo”, apresentado conjuntamente com o Metropolitan Museum
of Art, mas com um programa compra de dois ingressos ao preço de um, para cada
concerto, mediante uma taxa de adesão de US$ 25 (Programa “First Call”), anunciado
por uma filipeta contendo os dizeres “Não Seja Assinante da American Symphony
Orchestra”.
400 consumidores ingressaram no Programa “First Call” a um custo 20% menor do
que o que a orquestra gastava para trazer novos assinantes.
resultados alcançados
caso 10
gerar publicidade para a Connecticut’s Opera, em uma apresentação não tradicional
da ópera Madama Butterfly.
"problema" de marketing
141
a orquestra convidou para fazer parte do corpo da ópera, como figurante, o
governador de Connecticut, que era fã da orquestra e bastante propenso a aparecer
na mídia e concordou com as ações promocionais: anúncio; chamada com foto
dizendo “Madama Butterfly Visitando o Governador em seu Gabinete”; menção
plano desenvolvido
ANEXO 2 (cont.)
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA MÚSICA CLÁSSICA CITADOS
POR REISS (1995)
caso 10 (cont.) -
plano desenvolvido (cont.)
ao seu “début” na ópera quando de suas entrevistas na imprensa; cobertura
antecipada do evento e cobertura durante o evento.
maior repercussão na imprensa local, nacional e internacional, nos 50 anos da Opera,
devida à aparição do governador, venda de ingressos 313% superior à da última
apresentação da Madama Butterfly e apoio e participação do governador no elenco na
ópera seguinte, uma adaptação irreverente do Barbeiro de Sevilha, inclusive
permitindo que dois de seus supostos eleitores, atirassem uma torta no seu rosto,
como reação da população a um aumento real de impostos decretado pelo
governador, que fez com que a venda de ingressos fosse 25% superior às projeções
realizadas pela Opera, bem como ajudou a dissipar a imagem esteriotipada de uma
ópera como evento desagradável.
resultados alcançados