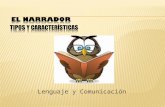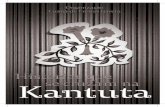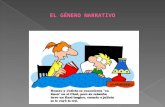Narradores urbanos_Iluminuras
description
Transcript of Narradores urbanos_Iluminuras
-
Iluminuras, Porto Alegre, v. 16, n. 37, p.372-377, jan/jun. 2015
COLEO NARRADORES URBANOS: CIDADES, CITADINOS E
ANTROPLOGOS EM UMA ETNOGRAFIA VISUAL
Juliane Bazzo1
No artigo intitulado O antroplogo na figura do narrador, Cornelia Eckert e Ana
Luiza Carvalho da Rocha (2005) advogam que a oposio costumeira entre escrita e
oralidade a primeira enquanto caracterstica das sociedades complexas e a segunda
como distintiva das tradicionais no se sustenta na contemporaneidade. Os estudos
antropolgicos em contextos urbanos tm evidenciado que as narrativas orais perduram,
justamente porque permanecem fundamentais para a durao sociotemporal das
coletividades, ao lado dos registros escritos. Nesse cenrio, pela via etnogrfica, o
antroplogo compromete-se com a durao das histrias que os sujeitos de pesquisa lhe
narram. A antropologia enquanto disciplina alcana assim vitalidade por meio dos
encontros entre essas duas modalidades de narradores, citadinos e antroplogos.
A Coleo Narradores Urbanos: Antropologia Urbana e Etnografia nas Cidades
Brasileiras, que teve Eckert e Rocha frente de sua realizao, trata da complexidade
que permeia esses encontros, no formato de uma etnografia visual. O projeto integra o
Banco de Imagens e Efeitos Visuais (Biev) da UFRGS, iniciativa esta coordenada pela
dupla de antroplogas, com o engajamento de uma srie de pesquisadores, bolsistas e
voluntrios. Lanada em 2014, a Coleo rene nove audiovisuais, entre 13 e 25 minutos,
protagonizados por destacados antroplogos brasileiros, que encontram nas cidades
espaos privilegiados de pesquisa. A apresentao das trajetrias intelectuais desses
profissionais por eles mesmos assinala tanto as potencialidades da antropologia urbana
nacional, quanto as contribuies dela a um pensamento global acerca dos fenmenos e
dos modos de vida das metrpoles.
De sua prpria casa, Porto Alegre, as realizadoras convidaram Ruben Oliven
(1945), cujas preocupaes antropolgicas articulam a cidade, a cultura e a identidade.
Nesse quadro, o estudo por ele realizado na Vila Farrapos, nos anos 70, constitui um
marco inicial. O autor concentrou-se em refletir sobre a integrao dos moradores desse
bairro carente, com muitos migrantes, capital gacha. A partir dessa jornada, trabalhou
pelo desmonte da tese de supresso das alteridades culturais diante do desenrolar da
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
-
Juliane Bazzo
373
Iluminuras, Porto Alegre, v. 16, n. 37, p.372-377, jan/jun. 2015
urbanizao. H, sim, cdigos compartilhados em algumas instncias, mas em outras
predominam grandes diferenas, as quais configuram identidades grupais. Esse vis
analtico lhe permitiu enxergar as cidades no como espaos de homogeneizao, mas
sim de interao.
De So Paulo, a Coleo apresenta cinco antroplogos. Entre eles, est Ruth
Cardoso (1930-2008), de uma gerao intelectual que, por ter vivido na pele a
urbanizao brasileira, inevitavelmente a tornou objeto de intenso debate acadmico. A
pesquisa inaugural da antroploga, efetuada nos anos 60, deu-se entre migrantes
japoneses, que da rea rural passaram a viver na cidade de So Paulo, em uma assimilao
gil, a despeito de profundas diferenas culturais. Esse foi o pontap inicial para, na
dcada de 70, j como professora na USP, voltar-se periferia paulistana.
Acompanhada de alunos pesquisadores, Ruth verifica nesse espao a emergncia
de novos atores polticos, mobilizados em torno de bandeiras tnico-raciais e de gnero,
sem recortes classistas. A atuao organizada dessas minorias configuraria o que hoje
se entende por movimentos sociais. A empreitada de visualizar o Brasil em meio a
processos de mudanas e de excluses trouxe consistncia antropologia nacional que,
segundo Ruth, demonstrou-se corajosa em olhar criticamente o prprio pas, uma inflexo
poca incomum em outros centros de produo da disciplina ao redor do mundo.
Parceira de Ruth na USP, a antroploga Eunice Durham (1932) dedicou-se
inicialmente ao estudo dos percursos de migrantes italianos em So Paulo, em trnsito
entre o campo e a cidade, num contexto de desenvolvimento industrial. Trata-se de um
contingente populacional determinante na formao da classe mdia paulistana.
Posteriormente, ela tambm abraa a temtica das periferias urbanas, de forma a pensar,
como exposto na trajetria de Ruth, no s a cidade em transformao, mas sobretudo os
grupos sociais que alavancavam as modificaes.
Num momento em que a famlia se situava como uma instituio reacionria,
Eunice revelou a no dissoluo dos laos parentais rurais diante das migraes urbanas.
Ao contrrio, tais vnculos surgiam como sustentculos insero citadina dos
camponeses. Ela diz ter realizado uma antropologia na contramo, pois, em meio
fora de ideias marxistas, focou na cultura e no na ideologia, para desvelar a
precariedade da noo de classes perante a complexidade das vivncias dos migrantes.
Orientando de Eunice, Antonio Augusto Arantes terminou seu curso de mestrado
em fins dos anos 60, no mbito do qual pesquisou o ritual do compadrio no Brasil rural.
Logo aps, auxiliou na criao do Departamento de Antropologia da Unicamp, no qual
-
COLEO NARRADORES URBANOS: CIDADES, CITADINOS...
374
Iluminuras, Porto Alegre, v. 16, n. 37, p.372-377, jan/jun. 2015
se encontra at hoje. No doutorado, por sua vez, assistido por Edmund Leach na
Universidade de Cambridge, ele estudou os aspectos sociolgicos da literatura popular
nordestina. Tal vinculao com o patrimnio cultural veio a constituir uma marca da
carreira de Arantes enquanto antroplogo urbano.
A partir da atuao na esfera estatal como consultor, chegou a presidir o Conselho
de Defesa do Patrimnio Histrico, Artstico, Arqueolgico e Turstico do Estado de So
Paulo (Condephaat) e o Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional (IPHAN).
Nesse panorama, Arantes se diz um pesquisador da memria do espao pblico,
preocupado em refletir sobre as relaes entre patrimnio, Estado e dinmicas culturais,
como tambm acerca do papel e da responsabilidade dos intelectuais em tais articulaes.
Ainda na esteira da linhagem aberta por Eunice Durham e Ruth Cardoso, situa-se
Jos Guilherme Magnani, orientado por esta ltima em seu doutorado na USP. A tese,
defendida nos anos 80, surgiu de uma interrogao: o lazer um elemento significativo
na vida dos trabalhadores da periferia paulistana? A temtica se mostrava incomum num
momento de foco intelectual nas condies de labor do operariado. Ao se deixar guiar
pelas concepes dos sujeitos pesquisados, ele descobriu que o tipo de diverso era o
menos importante. O mais relevante estava no encontro de pessoas afins, que delimitava
o pedao, termo nativo elevado categoria analtica, para designar uma sociabilidade
especfica em meio a uma rede de conhecidos.
Mais adiante como docente, frente do Ncleo de Antropologia Urbana (NAU) da
USP, Magnani colocou-se o desafio de verificar, juntamente com seus alunos, se a noo
de pedao poderia se aplicar a outros contextos citadinos. Assim nasceu mais um
instrumento de anlise importante, a ideia de mancha de lazer, como ambiente que
rene pares no necessariamente conhecidos, abertos ao imprevisto dos encontros
urbanos. Com esse arcabouo, Magnani supera o lugar-comum da cidade como espao
de individualizao, para ver nela trocas de diversas escalas, em diferentes domnios.
Teresa Caldeira recorda-se que ingressou na periferia paulistana graas a um
curso, ministrado por Ruth Cardoso e Eunice Durham, sobre a emergncia dos
movimentos sociais nos anos 70. Envolvida com tais mobilizaes, etnografou na
pesquisa de mestrado, sob orientao de Ruth, a ao poltica das classes populares nos
primrdios da redemocratizao. Mapeou como o imaginrio poltico se construa a partir
de dinmicas cotidianas, desafiando assim concepes estatais e acadmicas cristalizadas.
A antroploga concentrou o trabalho de campo no Jardim das Camlias, situado no
distrito de So Miguel Paulista, onde posteriormente permaneceu atuante, como
-
Juliane Bazzo
375
Iluminuras, Porto Alegre, v. 16, n. 37, p.372-377, jan/jun. 2015
pesquisadora do Centro Brasileiro de Anlise e Planejamento (CEBRAP). Nesse nterim,
j na dcada de 80, ela percebeu a preocupao crescente dos moradores com o
recrudescimento da violncia, algo no evidenciado na dcada anterior, focada na busca
de melhorias da infraestrutura urbana. Esse fato a conduziu a delinear sua tese de
doutorado, sob orientao de Paul Rabinow, na Universidade da Califrnia, instituio a
qual se encontra hoje associada como professora.
Teresa abraou o pressuposto de que a violncia no se coloca como uma questo
de bairro, mas sim da cidade como um todo. Por isso, no restringiu a pesquisa periferia,
de modo a no estigmatiz-la enquanto espao violento precpuo. Dirigiu seu olhar ao
abandono do centro pelas classes mdias paulistanas e pulverizao de condomnios
fechados pela cidade. Dessa forma, captou deslocamentos e desigualdades socioespaciais
nascentes. Tais movimentos lhe conduziram concluso de que os processos
democrticos, ao mesmo tempo em que promovem incluses, determinam novas
excluses e, portanto, lutas incessantes a serem travadas por segmentos marginalizados.
Da cidade do Rio de Janeiro, por fim, a Coleo traz trs antroplogos. Gilberto
Velho (1945-2012) retoma pesquisas e conceitos que o fizeram percursor de etnografias
sobre estilos de vida e vises de mundo entre as classes mdias brasileiras. Durante o
mestrado realizado no Museu Nacional, onde mais tarde se tornaria professor ele
desenvolveu trabalho de campo em um grande edifcio situado em Copacabana. A partir
da vivncia do cotidiano do prdio como um de seus moradores, Velho refletiu sobre a
trajetria de ascenso e decadncia desse bairro na cidade, processo desenrolado entre os
anos 50 e 60. No doutorado, cursado na USP durante a dcada de 70, sob orientao de
Ruth Cardoso, o antroplogo voltou-se s implicaes do consumo de drogas por
membros da elite da zona sul carioca.
De tais esforos, ele delimitou uma noo analtica fundamental, a de projeto.
Enquanto ferramenta associada biografia dos sujeitos contemporneos, o projeto
possui a funo de conferir sentido a condutas e interaes, em meio s fragmentaes,
s contradies e aos conflitos intensificados na modernidade. Dessa forma, Velho
argumenta haver um cruzamento inevitvel entre a antropologia urbana e aquela das
sociedades complexas, posto que ambas no podem prescindir de pensar, sob diferentes
ngulos, sobre os impactos perpetrados pela consolidao das metrpoles.
O primeiro contato da antroploga Alba Zaluar (1942) com uma favela carioca
aconteceu na Rocinha, a propsito de um comcio em defesa da classe operria,
organizado por universitrios nos anos 60. Expulsos do local, os estudantes se deram
-
COLEO NARRADORES URBANOS: CIDADES, CITADINOS...
376
Iluminuras, Porto Alegre, v. 16, n. 37, p.372-377, jan/jun. 2015
conta de que no havia, como pensavam, uma aliana automtica entre eles, os
trabalhadores e os camponeses nas lutas sociais do momento. De tal experincia, nasceu
em Alba o desejo de entendimento daquele espao perifrico, materializado em seu
doutoramento, sob orientao de Eunice Durham, na USP. A tese abrangeu trabalho de
campo na nascente Cidade de Deus, condomnio habitacional criado na dcada de 70,
num esforo estatal para eliminar favelas no Rio de Janeiro.
Alba ingressou em Cidade de Deus focada em entender o associativismo nesse novo
arranjo residencial. Estava atenta organizao das associaes de moradores, de escolas
de samba, dos blocos carnavalescos e de times de futebol. Porm, em meio imerso,
ocorreram as eleies de 1982. Esse fato lhe fez ponderar acerca das parcerias e dos
acordos entre moradores e polticos. A partir dessa reflexo, pode situar o clientelismo
no como um fenmeno de subalternizao a classes dominantes, mas enquanto
agenciamento para a obteno de benesses prticas por segmentos marginalizados.
Por fim, ao navegar entre o associativismo e a poltica, a antroploga percebeu o
poder do trfico de drogas, descoberta classificada por ela como o impondervel da
pesquisa. Considerados esses trs elementos, Alba costurou uma etnografia das diferenas
no interior desse grupo popular, de modo a desmistificar a concepo de que coletividades
perifricas seriam homogneas em virtude da condio de favelizao. Tal enfoque
analtico inspirou-se na vivncia dela como exilada na Inglaterra, ainda nos anos 60,
quando fez cursos com expoentes da Escola de Manchester, interessados em compreender
segmentaes e redes em meio classe operria inglesa.
Helio Silva se define enquanto um pesquisador da vida dos outsiders e da questo
da tolerncia no espao urbano. Na capital fluminense, como acadmico e consultor, ele
realizou incurses etnogrficas entre meninos de rua e travestis no universo bomio da
Lapa. A sociabilidade distintiva deste ltimo grupo constituiu o tema de sua dissertao
de mestrado, defendida no Museu Nacional, em 1992. Posteriormente, vinculado
Unesco, desenvolveu uma etnografia sobre as relaes da regio da Baixada Fluminense
com outros bairros do Rio de Janeiro, no mbito da qual mapeou uma srie de estigmas
de localizao. Nos estudos urbanos, Silva defende como primordial o olhar para as
interaes, mais que para sujeitos isolados, a fim de compreender com profundidade as
relaes sociais e os conflitos que as permeiam.
As linhas deste texto podem sintetizar as trajetrias intelectuais reunidas na Coleo
Narradores Urbanos, porm, o impacto dos testemunhos mesmo profundamente
captado quando se assiste aos audiovisuais. Em interao com a equipe de realizao do
-
Juliane Bazzo
377
Iluminuras, Porto Alegre, v. 16, n. 37, p.372-377, jan/jun. 2015
projeto, os antroplogos ativam lembranas, revisitam locais de pesquisa, reencontram
informantes, compartilham memrias, dividem com o pblico conhecimentos e mtodos.
A montagem flmica segue esse fluxo, uma vez que alterna imagens dos entrevistados, de
suas cidades e de seus territrios de estudo, ontem e hoje.
Tornar-se espectador dessas produes significa ficar com observaes de primeira
grandeza a reverberar no pensar e no fazer antropolgico. Alguns exemplos do uma
amostra. A cidade me fascina, atinge minha sensibilidade, assinala Velho. Magnani,
por sua vez, postula: A cidade um artefato que est sendo construdo. Ruth, por seu
turno, dispara acerca do estranhamento antropolgico: s vezes, o outro o vizinho da
nossa casa; s vezes, est na Melansia. Afirma Alba sobre a Cidade de Deus: como
se a etnografia nunca acabasse. Diz Silva a propsito da surpresa etnogrfica: A cada
problema novo, o antroplogo um nefito. E assim por diante. Lies imprescindveis
de antropologia, para iniciantes e iniciados na disciplina.
Referncias
BIEV. Narradores urbanos. Disponvel em: . Acesso em: out. 2014.
COLEO NARRADORES URBANOS. Cornelia Eckert e Ana Luiza Carvalho da Rocha. Porto
Alegre, 2006-2013. Nove audiovisuais, 13 a 25 min, cor.
ECKERT, C.; ROCHA, A. L. C. da. O antroplogo na figura do narrador. In: O tempo e a cidade.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. p. 33-56.
Recebido em: 10/09/2014
Aprovado em: 15/11/2014