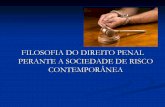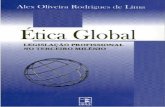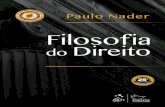Filosofia Do Direito
-
Upload
priscilamatulaitis -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of Filosofia Do Direito
-
Universidade de So Paulo
Faculdade de Direito do Largo de So Francisco
Filosofia do direito IDFD0311
Prof. Jos Reinaldo de Lima Lopes
Juliana Roshi Muto Soares
186-13
8590230
-
Filosofia do direito I 1
Prof. Jos Reinaldo de Lima Lopes
Mdulo I: A natureza prtica do direito
27/02 - Conceitos preliminares
O curso abordar dois temas principais: a metafsica do direito (que uma disciplina do discurso sobre o que ele , ou seja, uma investigao da natureza do direito) e o sentido da prtica jurdica (o que depende de assumirmos como pressuposto que o direito uma prtica que toda prtica realizada com uma finalidade). A ideia que algum tem do que o direito determina a maneira como est pessoa o aplica; da mesma forma, para que exeramos a prtica do direito de forma adequada, precisamos conhecer seu objetivo e este objetivo primordialmente a justia.
Existem dois sentidos possveis dentro dos quais se pode falar de direito. O primeiro o direito como uma disciplina, ou seja, o direito como cincia ou saber; o segundo o direito como prtica social, ou seja, como campo de atividade, perspectiva dentro de acordo com a qual eu realizo e julgo as aes (a disciplina que estuda esta prtica tambm se chama direito). A prtica do direito uma prtica geral, que todos ns vivemos; o que nem todos dominam a gramtica do direito (as "regras do jogo"). O domnio da gramtica do direito que transforma as pessoas em juristas.
Existe, no entanto, uma maneira de compreender a disciplina do direito diferente desta. Existe um "complexo de inferioridade dos juristas" desde que existe o direito. No sculo XVIII, ocorre uma crise que demonstra que o direito no mais capaz de atingir certos objetivos. H duas crticas que podem ser feitas. A crtica intelectual que o direito no se compara s outras cincias (o saber jurdico sofstico e no possui nada de objetivo, quase uma "iluso"). Os juristas respondem a esta crtica tentando tornar o direito uma verdadeira cincia. com esta reforma que o direito entra nas universidades. O direito deixa ento, se ser uma disciplina moral e passa a ser uma disciplina prescritiva (exemplo: Savigny, que passa a aproximar a metodologia do direito da histria). A segunda uma crtica institucional e consiste em dizer que o direito mantm um sistema caro, ineficiente e irracional nos tribunais. O direito era incompreensvel para a maioria das pessoas (exemplo: Pascoal de Melo Freire).
O direito passou ento a tentar se aproximar mais das cincias naturais. Existiam dois "modelos" de cincia natural a serem seguidos: a fsica e a histria natural (biologia). A histria natural tomada como paradigma para o estudo do direito (Savigny, como j dito). Os juristas passam a se basear nos mtodos da histria natural para pensar o direito (separando-o em famlias, por exemplo). No fim do sculo XIX e incio do sculo XX, o direito passa a tomar a metodologia das cincias do esprito (em especial as cincias sociais, ainda tentando se reafirmar como cincia.
Kelsen, na Teoria pura do direito, faz uma dissociao entre prtica teoria jurdica (dissociao est que encontra precedentes na tentativa de cientificizar o direito). Este distanciamento entre prtica teoria observado at hoje. Existem duas ideias distintas de direito e a ideia do direito como cincia fruto do positivismo. A principal caracterstica da perspectiva positivista a separao entre sujeito e objeto e a relao de observao entre os dois. A viso do direito desta perspectiva vem se transformando e tem ocorrido uma tentativa de maior aproximao entre teoria e prtica no direito (e o objetivo do curso investigar este processo de transformao e
O presente caderno composto por anotaes das aulas do Prof. Jos Reinaldo de Lima Lopes em 1conjunto com fichamentos dos textos obrigatrios (para aulas e seminrios) da disciplina.
-
demonstrar que o direito um saber regrado e racional, mesmo que no se encaixe na definio moderna de cincia).
13/03 - Ontologia ou metafsica do direito
Antigamente, como j dito, o direito procurava se aproximar das cincias para ganhar mais "credibilidade" (tendo se aproximado mais da biologia ou da histria natural). O direito concebido como poder, como forma de imposio da vontade de algum a outrem, surge no sculo XIX e esta concepo foi muito importante para a prpria evoluo do direito. No final deste sculo empreiteiras dcadas do sculo XX, surge uma corrente que pensa no direito de maneira empirista e positivista. A esta manifestao houve uma reao, cujo principal representante Hans Kelsen: para ele, o direito uma cincia da norma, mas ainda assim, uma cincia, e precisa ter um objeto. Isso mantm Kelsen na tradio positivista: a separao que ele faz entre objeto sujeito do conhecimento. Na delimitao de Kelsen, o sujeito o jurista e o objeto a norma. A norma no possui uma existncia emprica: a norma existe como sentido da ao humana (semelhana com Searle: existem coisas que existe, naturalmente, independentemente da ao humana, e coisas que dela dependem completamente para existir). A norma o que d sentido ao fato que ela regula. Kelsen est, portanto, tentando sair do empirismo sociolgico de sua poca.
Kelsen rejeita a matriz empirista, mas no rejeita a positivista. Acredita que preciso constituir um mtodo para o estudo do direito: ele , portanto, um positivista do mtodo, no um positivista legalista e conservador. Assim, Kelsen um importantssimo adepto da teoria das normas. A teoria da norma pretende dar resposta duas questes principais: 1) a natureza da norma jurdica e 2) a certeza possvel, na cincia do direito e na prtica do direito.
Trataremos primeiro da natureza da norma jurdica. Como cincia, a teoria das normas precisa, antes de tudo, definir seu objeto. Este o primeiro problema que a teoria das normas precisa enfrentar: o que diferencia o direito de outros sistemas normativos? Vivemos num mundo de regras (de etiqueta, de esttica, da moral, etc.) e o direito precisa ter um elemento que o diferencie de todas as outras. Alguns acreditam (inclusive Kelsen) que a diferena do direito est na sano externa e poltica: as normas jurdicas so sancionatrias, enquanto na moral, por exemplo, no h sano. Isso suscita muitas discusses (a reprovao moral um tipo de sano, por exemplo). O direito, no entanto, no somente sancionatrio, mas institucionalmente sancionatrio: as "punies" para os que no seguem as regras so aplicadas em nvel institucional. A base deste pensamento so as normas penais. Do ponto de vista kelseniano, o sujeito racional aquele que capaz de fugir da sano (o sujeito mais racional, neste sentido, o delinquente que escapa da polcia).
Hart tem um exemplo sobre um pai que quer ensinar o filho a se comportar na igreja (tirando o chapu ao entrar nela): neste caso, o pai no quer ensinar o filho para que ele no sofra alguma punio do padre ou das pessoas ao redor, mas porque quer que o filho entre na comunidade religiosa e se comporte adequadamente (porque quer "fazer a coisa certa"). Desta forma, o que faz com que uma pessoa queira cumprir uma regra no s o medo da sano.
Os normativistas tambm acreditam que o diferencial das normas jurdicas que elas se organizam hierarquicamente (enquanto nas normas morais no j est organizao hierrquica clara que distingue uma norma da outra). Alm disso, as normas jurdicas procedem de uma autoridade (chamada de soberano). As teorias da norma tendem a ver a norma como a expresso da vontade de um soberano. A lei um soberano impessoal.
A teoria das normas (baseada nos conceitos de sano, hierarquia e soberania) est relacionada mudana que ocorre no sculo XIX de uma sociedade tradicional para uma sociedade convencional (as regras tradicionais no so suficiente e preciso estabelecer critrios para diferenci-las das normas postas). O convencionalismo e o contratualismo so formas de crtica sociedade tradicional.
-
Uma teoria do direito concebida como teoria das normas tem alguns problemas. Transforma a cincia do direito como uma espcie de lingustica: a lingustica uma cincia da lngua, mas no capaz de oferecer discursos. A teoria das normas v o sujeito como um homem mau que age por medo, capaz apenas de escapar da pena, no de tomar decises novas. Esta teoria no se interessa pelo sujeito, pelo agente. Isso tem consequncias: ela no toma o direito como um guia para a atuao autnoma dos sujeitos (Kelsen diz que a teoria do direito capaz de criar uma moldura, mas no capaz de explicar quais sero as decises). Nesta teoria, existe a preocupao com a parte lgica e terica do direito, mas no com a deciso (isso seria a mesma coisa que um instrutor de direo que se recusa a dizer ao seu aluno o que fazer, limitando-se a repetir a teoria de um manual). A teoria das normas se concentra apenas nas proposies normativas, e no na prtica do direito.
Trataremos agora da certeza do direito. Ela tem atormentado os tericos em dois nveis principais: 1) certeza quanto ao conhecimento e 2) certeza quanto ao resultado. possvel questionar, portanto, tanto a veracidade e o sentido dos textos normativos quanto sua capacidade de prever consequncias prticas. A certeza sobre a veracidade do texto (ou seja, sobre o que a lei diz, exatamente) no resolve a questo do sentido, do significado daquela norma (que precisa ser interpretado). A busca da certeza do conhecimento levou, de um lado, reduo do direito a um discurso que se pode fazer sobre as normas (o direito para a ser apenas isso), o que representou uma certa volta ao empirismo. A isto se relacionam os hard cases expostos por Hart. A busca pela certeza quanto ao resultado apresenta problemas porque a teoria das normas no prev estes resultados sempre de maneira precisa: de acordo com ela, o descumprimento de qualquer norma acarreta sano, mas, se uma norma de validade quebrada, por exemplo, a nulidade ou anulabilidade do ato praticado no propriamente uma sano (desta forma, o descumprimento da norma no teve a consequncia que a teoria das normas diz que ele teria).
A certeza sobre o conhecimento (ou seja, sobre a veracidade e, mais importante, sobre o sentido do texto normativo) d sim certa previsibilidade, mas no d certeza quanto ao resultado: se eu e meus amigos vamos jogar um jogo de futebol (que, como todo jogo, se caracteriza por um sistema de regras), todos sabemos o que devemos fazer como o jogo vai funcionar, mas no possvel prever, atravs das regras, o resultado do jogo. Da mesma forma, conhecer uma norma, saber interpret-la e conhecer seus sentidos, no nos d certeza sobre como o juiz ir decidir.
A teoria da norma possui, portanto, muitos limites. Ela exclui da apreciao jurdica os princpios. Todos os problemas que ela apresenta so sinal de uma grande transformao na teoria jurdica, caracterizada em parte por uma remoralizao do direito (torna-se necessria uma reviso das bases do direito). Esta teoria no se ocupa, como j visto, das normas de validade e das normas constitutivas. Hart faz uma crtica ao conceito de soberania no qual ela se baseia, e existe tambm uma incapacidade dela de explicar o fundamento de um sistema jurdico, que a justia: a teoria das normas faz uma discusso do direito sem discutir a justia (pois para ela! se a justia pertence moral no pode pertencer ao direito). Existem, assim, muitas falhas na teoria da norma da forma como ela concebida, que revelam sua inadequao para basear o pensamento do direito.
27/03 - Teoria da norma versus teoria da ao
Houve uma transformao na forma como a teoria do direito se configura nas ltimas dcadas, dentro da Academia. Antigamente, a teoria do direito foi constituda com base numa teoria da norma, que encontrou suas bases no mtodo de estudo da histria natural: isto se reflete no uso de formas organicistas pelos juristas e pelo tratamento do direito como objeto externo ao sujeito que o estuda (Kelsen). A grande virada vem em meados do sculo XX, com o surgimento da teoria de Hart (que baseia suas ideias em Max Weber, Peter Winch e Wittgenstein). Sua teoria abre uma porta para tratar a ao como saber.
Os textos de Searle e Nagel eram preparatrios para a ideia de que as cincias que procuram se aproximar das cincias naturais ou empricas (como o direito, concebido como teoria da norma, e a economia, por exemplo) tratam seus objetos de estudo como se eles no fossem, como diz
-
Searle, dependentes do observador (ou seja, tratam seus objetos de estudo como se estes formassem um mundo externo parte, que no depende das pessoas que os estudam). Isto o que gera a crtica de MacIntyre economia: de acordo com ele, a economia no capaz de realizar previses corretas se for estruturada com base no mtodo empirista das cincias naturais (com a elaborao de "leis da economia", por exemplo). preciso, portanto, se libertar do pseudo-empirismo.
necessrio entender o direito, portanto, de dentro, no de fora. Hart diz que quem conhece o direito sabe agir segundo o direito. Isso constitui o saber prtico (o saber que, de acordo com os textos lidos at agora no curso, est a servio de permitir que realizemos escolhas justificadas sobre como agir). A nica coisa que, antes de Hart, havia prevalecido na teoria jurdica do saber prtico era o saber tecnolgico (que est, inclusive, presente na obra de Kelsen).
Hart apresenta como problema a diferenciao do cumprimento da ordem do soberano da ordem do assaltante (tendo em vista que a ordem do soberano cumprida repetidamente). No centro desta distino existe a lei. Uma das explicaes para o cumprimento da lei o hbito da obedincia (explicao sociolgica); no entanto, este costume de obedecer no inclui na conscincia das pessoas a ideia de obrigao. Alm disso, se o soberano muda (ou se a lei muda) a explicao do hbito no funciona mais, pois eu no tenho o hbito de obedecer este novo soberano, ou a nova lei.
A continuidade da maioria dos sistemas jurdicos depende, portanto, daquela forma de prtica social que constitui a aceitao da regra, que difere dos meros hbitos de obedincia. Existe uma diferena entre hbito e prtica social, portanto. A diferena que no existem maneiras certas ou erradas de cumprir hbitos. O hbito no um fenmeno social (exemplo: o fato de andarmos sempre vestidos uma prtica social, mas usar camisas de uma determinada cor no uma prtica social, e sim um hbito). Esta diferena fica clara no texto de Nagel, atravs do exemplo dos camares e das preferncias polticas. Fazer algo dentro da prtica social, portanto, exige justificao. Numa prtica social, as pessoas tm razes que explicam a deciso de agir de determinada forma.
Wittgenstein responsvel por uma grande evoluo no conceito de prtica social. Ele coloca como um dos temas de sua obra o que seguir uma regra; a pergunta, em relao teoria da norma mudou completamente. Ele faz este questionamento a partir de uma crtica sua prpria obra: em seu primeiro livro, "Tratado lgico filosfico", ele ainda se encontra preso na tradio do positivismo lgico, segundo a qual as proposies ou so verdadeiras ou falsas, e tanto a lgica quanto a cincia devem se debruar sobre esta questo da veracidade e da falsidade (e somente as proposies que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas so de fato racionais). Posteriormente, ele diz que a linguagem uma forma de vida e que os fenmenos da vida humana se constituem por ela (o direito um jogo de linguagem, uma atividade e uma forma de vida e vrios outros fenmenos sociais que tambm o so). A razo e a racionalidade no se esgotam, portanto, em algumas destas atividades (o que contraria, de certa forma, a teoria de seu primeiro livro).
Teoria da ao >>> o que seguir uma norma?Teoria da norma >>> o que a norma jurdica em contraposio s outras?
Esta ideia de Wittgenstein, portanto, se compatibiliza com o que Searle diz sobre a linguagem: a linguagem responsvel pela criao de fatos institucionais que formam a nossa realidade. A linguagem importante para constituir a prtica social, portanto. preciso, para adentrar na prtica, adquirir o sentido da prtica e este sentido logicamente anterior aplicao das regras (finalidade da norma). Nisto consiste a finalidade do jogo (o jogo de linguagem, segundo Wittgenstein, que o direito). A perspectiva que o Wittgenstein abre : aprender a aplicar simultneo a aprender a teoria. No se aprende a nadar porque algum explicou ou porque se leu um tratado sobre natao: aprende-se a nadar nadando, apesar de haver ainda a necessidade de o instrutor de natao ir explicando ao iniciante o que fazer (ou seja, as "regras do jogo"). A
-
justificao, neste sentido, est ligada a usar uma base objetiva para tomar a deciso, base est que consiste em uma regra que de domnio de todos que "jogam o jogo"
Assim, prtica pode ser definida como "qualquer forma coerente e complexa de atividade humana cooperativa instituda socialmente por meio da qual bens internos quela forma de atividade se atualizam no processo de atingir os padres de excelncia adequados e definidores daquela forma de atividade, de forma que as capacidades humanas de atingir excelncia e as concepes humanas dos fins e objetivos so sistematicamente ampliados" (MacIntyre), ou como "formas de relao entre as pessoas, que no podem ser relaes genticas, necessidades biolgicas ou psicolgicas comuns, nem so semelhanas de carter humano contingente, nem a composio de sistemas sociais, classes sociais ou fases diferentes de um processo, pois estes no so encontros de natureza consciente e reflexiva, pois numa prtica os agentes no apenas se comunicam, mas falam uns com os outros e so compreendidos uns pelos outros (a prtica uma relao compreendida)" (Oakshott).
Esta virada (caracterizada pela oposio entre teoria da norma e teoria da ao para conceber o direito) pode ser resumida da seguinte forma:
Texto introdutrio: Rgua e compasso (ou Metodologia para um trabalho jurdico sensato). Jos Reinaldo de Lima Lopes.
Havia uma poca em que, tanto na tradio do direito codificado quanto no common law, conhecer o direito significava ter o "domnio de um sistema de proposies". Considerava-se que, para conhecer o direito, era preciso conhecer tanto as leis quanto a doutrina e, desta forma, o direito era tratado como cincia (seu tratamento se assemelhava ao das cincias naturais porque ele tinha um objeto emprico determinado, e se assemelhava tambm ao das cincias formais, pois havia preocupao com o aprendizado e com a criao de definies).
Este modo de ver o direito corresponde ao positivismo (tanto o positivismo da cincia, pois o objeto de estudo do direito era tratado da mesma forma do objeto das cincias naturais ou positivas, quanto o positivismo do direito, pois as concluses do estudo deste objeto deveriam ser confirmadas por alguma autoridade). Isso levou, ao longo do tempo, a um considervel distanciamento da prtica: os tericos dominavam a gramtica do direito, mas no dominavam a fala jurdica, seu discurso. Este distanciamento teve trs consequncias principais: 1) uma crtica ineficcia da teoria jurdica (muito distante da realidade que se observava no direito); 2) a reproduo constante de manuais no mesmo estilo e 3) o reforo da ideia de que, no direito, possvel dizer qualquer coisa fazer valer qualquer afirmao.
Elementos Teoria da ao Teoria da norma
Personagem principal Agente Observador
Ideia de norma Padro ou medida Ordem ou comando
Pergunta de base O que seguir a norma? O que a norma jurdica?
Validade da norma Sentido Origem e procedncia
Concepo de direito Fora prtica Poder
Gramtica Discurso Estilo
Linguagem Condio de pensamento Comunicao de pensamentos
Concepo de ao Criao Reao
-
Estas consequncias geraram grandes controvrsias na teoria geral do direito no sculo XX. Neste sentido, um livro importante que busca resgatar o lado prtico da filosofia moral do direito The lenguage of morals, de Richard Hare. Neste livro, ao abordar a diferena ente linguagem prescritiva e linguagem descritiva, o autor diz que a primeira corresponde a um "jogo prprio de linguagem" e que, por isso, as expresses deste tipo de linguagem no podem ser avaliadas tendo como parmetro o sentido geral da linguagem descritiva. Em outras palavras, a linguagem prescritiva composta por expresses da "alma" de algum e, por isso, no pode ser corrigida ou avaliada com base na linguagem descritiva, que composta de verdades objetivas. Apesar disso, Hare reconhece que alguns elementos destes dois tipos de linguagem podem coincidir.
A teoria de Hare a respeito da linguagem moral d destaque para o carter prtico de um discurso. Disso possvel retirar duas afirmaes: 1) o discurso deve servir como um guia para a ao prtica e 2) a pessoa que conhece a linguagem, ou que possui um saber que prtico, mostra sua competncia atravs da produo de um discurso dentro das regras daquela linguagem. possvel ressaltar a importncia da utilidade prtica do discurso comparando o direito com a medicina: a medicina uma cincia que possui uma finalidade muito clara (manter a sade das pessoas ou recuper-la) e, desta forma, a teoria serve para atingir uma finalidade (uma pessoa pode se dizer mdica quando sabe tratar de um paciente, no s porque consegue reproduzir conceitos mdicos). Neste sentido, o direito e a medicina se parecem: ningum deveria ser capaz de se dizer jurista se no conseguir usar os conceitos jurdicos para resolver da melhor forma possvel casos particulares.
A analogia com a medicina, no entanto, tem alguns problemas. A sade, que o objetivo da medicina, um objetivo completamente externo ao discurso. No caso do direito, no entanto, um pouco difcil definir um objeto s (os mais comumente apontados so a justia, a ordem a legalidade) e estes objetos, por mais que possam at ter um sentido objetivo (ordem e legalidade) no so completamente externos, e sim inerentes ao discurso jurdico.
Uma analogia um pouco mais eficaz poderia ser feita entre direito e lngua, gramtica e lingustica: a lngua uma importante ferramenta de insero social e, assim que ela aprendida, temos a capacidade de fazer discursos e nos comunicarmos com outras pessoas; ao aprendermos gramtica, damos um passo adiante e aprendemos a aperfeioar nossos discursos e a adequ-los s mais diferentes situaes sociais; por fim, quando aprendemos lingustica, somos capazes de notar as particularidades e sutilezas de uma lngua. semelhana com o direito, s possvel dizer que algum domina a lngua, a gramtica ou a lingustica atravs de demonstraes prticas ("uma lngua s se mantm viva por meio de discursos, que por sua vez s podem ser compreendidos a partir de um sistema geral de regras que permitem sua identificao"). De acordo com Sassure, apesar de a lngua e o discurso serem diferentes de certa forma (a lngua abstrata e normativa e o discurso, emprico contingente), existe uma dependncia recproca entre ambos.
Assim, possvel tratar o direito como uma lngua ( possvel falar em direito francs, alemo, brasileiro, mas tambm em direito pena, administrativo, civil, etc.). O conhecimento do direito fica evidente no na reproduo de conceitos, mas em sua prtica, em sua aplicao concreta. A analogia entre direito e lngua, no entanto, precisa atender a uma condio: possvel comparar os dois se admitirmos que usamos o direito com uma finalidade, assim como usamos a lngua com a finalidade de nos comunicarmos. O direito existe, desta forma, para resolver questes prticas. O direito , ao mesmo tempo, um sistema de regras que permite a realizao de discursos e a prpria realizao de discursos. Desta forma, qualquer trabalho jurdico srio deve se abster apenas da repetio de conceitos ou de regras.
Seminrio 1: A estrutura do universo social. John Searle. 2
Os bales ao lado de alguns dos fichamentos so anotaes feitas durante as discusses de seminrio.2
-
O objetivo do autor no livro pegar as partes mais filosoficamente intrigantes da nossa realidade, explicar sua estrutura e, depois, explicar de que maneira todas estas partes se encaixam. sabido, segundo o autor, que atualmente conhecemos mais sobre como o mundo funciona do que nossos antepassados (por causa da evoluo das cincias como fsica, biologia, qumica, etc. e dos conhecimentos que elas nos trouxeram); neste sentido, o autor toma esses conhecimentos consolidados como base para explicar a mente humana. Do seu ponto de vista, a mente um fenmeno essencialmente biolgico e, por causa disso, seus dois aspectos principais, a conscincia e a intencionalidade, tambm so biolgicos. Nesta parte do texto, ele usa essa viso biolgica que tem da mente para explicar o funcionamento da nossa realidade social e institucional.
O autor comea estabelecendo um problema filosfico. Ele d o exemplo do dinheiro: o dinheiro extremamente importante na vida social. Quando tentamos explicar a razo de sua importncia, suas propriedades "cientficas" no so suficientes (qumica e fisicamente falando, ele um amontoado de clulas de celulose e no por isso que o consideramos relevante). A pergunta principal a ser feita : o que naquele pedao de papel faz com que ele seja dinheiro? A resposta mais satisfatria que aquilo dinheiro se for aceito como dinheiro (eu posso imprimir um papel da mesma cor, com os mesmos smbolos, mas no ser de fato dinheiro pois as pessoas no o aceitaro como tal, percebendo que falso).
O mesmo vale para a nossa realidade social e institucional: todos os aspectos dela (religio, casamento, universidade, etc.) se encaixam nestas categorias porque ns acreditamos que se encaixam, porque os reconhecemos como tais. Ns reconhecemos que estes fenmenos se encaixam em uma determinada descrio. O fato de no s eu, mas todas as outras pessoas acreditarem que o pedao de papel na minha carteira dinheiro me d certo poder que, sem este reconhecimento geral, eu no teria (e o mesmo vale para a realidade social).
A pergunta principal qual o texto se dedica : qual a ontologia da nossa realidade social (ou seja, por
que os fenmenos sociais se encaixam nas categorias que se encaixam)? O principal problema , desta forma, explicar como
possvel que uma realidade objetiva seja parcialmente composta por um conjunto subjetivo de atitudes. Para o autor, existem alguns
problemas que derivam desta combinao entre objetivo subjetivo. Ele explicar trs deles.
Primeiro, o autor atenta para uma "circularidade" na qual ele incorre ao longo do texto e que precisa ser esclarecida: se um fenmeno social s o porque ns assim acreditamos, ento qual exatamente o contedo da crena? Em outras palavras, se o pedao de papel dinheiro porque todos acreditam que ele dinheiro, ento o que faz com que todos acreditem que ele dinheiro? Para explicar isso preciso responder a pergunta sem usar o conceito de dinheiro. O problema apresentado aqui , portanto, o da auto-referencialidade.
Segundo, preciso se perguntar de que maneira possvel que a realidade funcione de forma causal. Se o dinheiro s dinheiro porque assim acreditamos, como possvel que ele funcione na sociedade de maneira causal (ou seja, como possvel que uma realidade formada por elementos qumicos e fsicos tenha seu funcionamento dependente de universidades, dinheiro, casamento, etc., que so conceitos que dependem, para existir, da crena das pessoas)? Este o problema da causalidade.
Terceiro, preciso se preguntar tambm qual o papel da linguagem na realidade institucional. Se todos os fenmenos sociais dependem de ns os enxergarmos como pertencentes s suas categorias, como seria possvel que fizssemos este reconhecimento se no tivssemos uma
Empirismo: afastamento da
tradio idealista
O autor no se preocupa em
investigar a origem da sociedade: ele
parte do pressuposto de que ela j existe de certa forma para explicar seu funcionamento
Semelhana com o contratualismo
clssico: o que faz com que a sociedade seja
sociedade?
-
linguagem? Uma maneira de responder esta pergunta seria dizer que a linguagem, na nossa realidade institucional, no s uma forma de descrever os fatos, mas tambm constitutiva dos fatos. Quando o Tesouro dos EUA diz que uma nota de vinte dlares apta a pagar dbitos privados e pblicos, por exemplo, ele est, de certa forma, validando o poder daquela nota. Em outras palavras, a linguagem no serve apenas para descrever fenmenos, mas para cri-los e estabelec-los como verdadeiros. Este terceiro problema est, portanto, ligado investigao das declaraes como criadoras dos fatos institucionais que fazem com que nossa sociedade funcione.
Depois de colocar estes problemas, o autor comea a esboar aparato terico do qual precisaremos para solucion-los. Para fazer isso ele primeiro faz uma distino fundamental e, depois, acrescenta trs conceitos fundamentais dos quais precisaremos para responder s perguntas anteriormente colocadas. Trata-se da distino entre dependente do observador e independente do observador; os trs conceitos so a intencionalidade coletiva, a atribuio da funo e as regras constitutivas.
Alguns elementos da nossa realidade dependem da ao e da percepo humana, e outros no dependem. Existem, no entanto, alguns objetos que misturam estes dois aspectos. Uma cadeira, por exemplo: a madeira da qual ela feita possui uma certa configurao fsica e molecular que no depende da ao humana, mas a transformao daquela maneira em cadeira depende. Elementos como a gua, a atrao gravitacional, etc. so independentes do observador; em contrapartida, elementos como dinheiro, casamento, etc. so dependentes do observador. De um modo geral, as cincias naturais lidam com elementos que so independentes do observador, ao passo que as cincias sociais lidam com elementos que so dependentes do observador.
preciso notar que apesar de nossas atitudes criarem fenmenos que so independentes do observador, a intencionalidade responsvel por isso no independente do observador. A diferena entre dependente e independente do observador pode ser esclarecida melhor atravs da compreenso da diferena entre intencionalidade intrnseca e intencionalidade derivada: a intencionalidade intrnseca pode ser exemplificada pelo estado de fome de algum (apesar de a fome de cada pessoa ser subjetiva, uma pessoa no depende de suas ou das atitudes dos outros para sentir fome), enquanto a intencionalidade derivada pode ser exemplificada pelo dizer estar com fome (se algum diz que est com fome, por exemplo, em francs, aquela frase s tem sentido porque os falantes daquela lngua a reconhecem como tendo o significado de estar com fome).
O autor considera a distino entre dependente do observador e independente do observador extremamente importante e possvel dizer que o livro se ocupa, de certa forma, desta distino e de suas consequncias: no presente texto, a investigao principal se concentra no fato de que muitos fenmenos da nossa realidade scio-institucional so dependentes do observador mas, mesmo assim, possuem uma existncia objetiva (epistemologia objetiva em conjunto com ontologia subjetiva).
O primeiro dos trs novos conceitos que o autor trar o da intencionalidade coletiva. A intencionalidade coletiva pode ser definida como a "intencionalidade do ns", ou seja, a intencionalidade compartilhada por uma srie de indivduos. Esta intencionalidade est, no entanto, relacionada a uma intencionalidade individual: se eu tenho inteno de realizar alguma coisa que um objetivo comum entre mim e outras pessoas, preciso ter, em minha mente, a intencionalidade de fazer minha parte. A tradio filosfica tem apontado a intencionalidade coletiva como redutvel intencionalidade individual: eles acreditam que a intencionalidade coletiva, entre duas pessoas, por exemplo, formada pela intencionalidade de uma delas mais a sua crena que a intencionalidade do outro a mesma. A intencionalidade coletiva ocorre, de acordo com este ponto de vista, porque as pessoas possuem objetivos e acreditam que estes objetivos sejam compartilhados. A intencionalidade coletiva formada por intencionalidade individual mais uma "crena mtua" que os indivduos compartilham.
-
O autor acredita que esta abordagem confusa e ele prope uma soluo mais simples: a intencionalidade coletiva depende de cada pessoa acreditar, em sua cabea, que h uma inteno
comum em realizar alguma coisa e isso muda as intenes e crenas individuais destas pessoas. Assim, a intencionalidade individual deriva da coletiva. Em outras palavras, no porque a intencionalidade coletiva est presente nas mentes individuais das pessoas que formam a coletividade
que ela pode ser reduzida intencionalidade individual: cada indivduo possui na sua cabea uma intencionalidade do tipo "ns". Na nossa vida social, a intencionalidade coletiva uma presena constante,
sempre que h algum tipo de cooperao entre as pessoas (jogos de futebol, orquestras, etc., ou at mesmo conflitos, como julgamentos). Sendo assim, fato social pode ser definido como qualquer acontecimento social que envolva duas ou mais pessoas com intencionalidade coletiva. O
ponto mais marcante dos seres humanos, neste sentido, que eles possuem a capacidade de produzir no s fatos sociais, mas tambm fatos institucionais.
O segundo conceito trazido pelo autor a atribuio de funo. Os seres humanos, desde tempos muito primitivos, tm a capacidade de usar ferramentas e essa utilizao se d atravs da atribuio de funo para estas ferramentas: estas funes no so intrnsecas aos objetos, mas atribudas por ns a medida em que precisamos deles. O autor defende que toda funo atribuda relativa, ou seja, dependente do observador. At mesmo as funes que nos parecem naturais: dizemos que o corao tem a funo de bombear sangue, mas dizemos isso porque valorizamos a vida e pressupomos que esta seja sua funo (existe uma diferena entre dizer que o corao bombeia sangue, e que isso gera uma srie de outras consequncias, e dizer que a funo do corao bombear sangue, que ele existe para isso).
Neste sentido, correto dizer que toda atribuio de funo envolve normatividade, pois ela que situa os fatos em uma teleologia: (e no apenas em uma mera relao causal): a atribuio de funo tem como pressuposto a existncia de um propsito, um objetivo maior, e este propsito ou objetivo estabelecido por ns de acordo com o que acreditamos e, portanto, s tem importncia para ns. Desta forma, a relao causal que existe entre as coisas independente do observador (o corao bombeia sangue e o sangue provoca outras reaes), mas a atribuio de funes sempre dependente.
O terceiro e ltimo conceito o das regras constitutivas. De acordo com o autor, existem dois tipos de regras: as regras regulativas, que regulam comportamentos antecedentes e independentes delas (como por exemplo, a regra que ordena dirigir de certo lado da estrada, pois dirigir um ato que existe independentemente de haver uma regra sobre ele) e as regras constitutivas, que, ao regularem um fenmeno, constituem-no ou tornam-no possvel (um exemplo seriam as regras do xadrez, pois o jogo no existe sem as regras). As regras constitutivas tambm regulam, mas fazem mais do que apenas regular, criando e caracterizando a atividade que regulam.
Esta distino entre estes dois tipos de regras fundamental para explicar a distino entre dois tipos de fatos: os fatos brutos e os fatos institucionais. Um exemplo de fato bruto seria a afirmao de que o Sol se encontra a noventa e trs milhes de milhas da Terra; j um exemplo de fato institucional seria dizer que se cidado de um pas. Para o autor, os fatos institucionais s podem existir em sistemas de regras constitutivas. Estas regras seguem sempre a mesma frmula: "X igual a Y em um contexto C".
A afirmao principal do autor que a nossa realidade institucional pode ser explicada utilizando estes trs conceitos. Para explicar isso, d o exemplo inicial de uma sociedade primitiva que construa uma parede (que no pode ser ultrapassada) que, posteriormente, cai (sendo que os indivduos continuam a no ultrapassar a linha de pedras formada pelos restos da parede): neste
A intencionalidade coletiva consiste em
duas ou mais pessoas cooperando para fazer algo que s
podem fazer juntas
Estes conceitos podem ser aplicados ao direito: a
ideia bsica de Hart, por exemplo, de que o direito composto por dois tipos de regras, possuindo uma funo criativa (o direito
est cheio de regras constitutivas)
-
caso, possvel observar a formao de uma realidade institucional que diferencia os seres humanos. O que acontece que os indivduos passam ano ultrapassar as pedras no mais por causa do obstculo fsico que elas representavam enquanto parede, mas sim porque reconhecem e aceitam que no devem ultrapassar (o resultado desta transio pode ser descrito como "funes status"). Outro exemplo bom seria o do dinheiro (que funciona na sociedade no por causa de suas propriedades fsicas, mas por causa da aceitao geral). Da mesma forma, as instituies da sociedade s conseguem desempenhar seu papel atravs da aceitao coletiva.
O autor se dedica agora a investigar como possvel que a realidade institucional seja to poderosa se est baseada em mecanismos to simples. Primeiro: a frmula das regras constitutivas que formam est realidade ("X igual a Y em um contexto C") pode ser repetida, ou seja, possvel acumular funes status e desta forma que complexas estruturas sociais podem ser criadas. Segundo: os fatos institucionais no existem isoladamente, mas em interaes complexas uns com os outros. Assim, possvel usar um mecanismo simples para criar uma estrutura social extremamente rica. Alm disso, o poder da realidade institucional est intimamente ligado ao fato de que grande parte da criao de fatos institucionais tem por objetivo ganhar controle sobre fatos brutos (fatos institucionais e fatos brutos no so, portanto, categorias fechadas e mutuamente exclusivas).
Por fim, com todo o aparato terico exposto, possvel resolver o problema principal (como possvel que exista uma realidade objetiva se ela depende de atitudes subjetivas) e os trs problemas colocados no incio. A resposta que a criao de funes status e sua manuteno ao longo do tempo, atravs da aceitao geral das pessoas, responsvel pela manuteno de toda a realidade scio-institucional (a aceitao coletiva o ponto fundamental sobre o qual est realidade se estrutura).
A resposta ao primeiro problema (como possvel encontrar a definio de um fenmeno, como o dinheiro, por exemplo, j que ele depende do que as pessoas acreditam que ele seja) pode ser colocada da seguinte forma: a definio dos fenmenos no dependem se usarmos sua
denominao. No preciso, para definir o que dinheiro, usar a palavra "dinheiro", porque esta palavra apenas o termo que designa uma srie complexa de atividades e a essncia do dinheiro est em sua capacidade de desempenhar um papel dentro destas atividades (a palavra "dinheiro" apenas uma forma de resumir todas estas atividades que j esto dentro da subjetividade de cada pessoa).
A resposta ao segundo problema (como possvel que o mecanismo social funcione de forma causal) est na aceitao
coletiva, que um importante mecanismo de criao de poder. A resposta ao terceiro problema (qual o papel da linguagem na criao da realidade institucional) que os fatos institucionais so, muitas vezes, criados por declaraes feitas com o uso da linguagem (como
ocorre com as regras constitutivas). possvel dizer ainda que temos a sensao de que a linguagem desempenha um papel diferente, "especial" na nossa realidade justamente porque dela dependem os fatos institucionais para existirem, ao passo que os fatos brutos so completamente independentes.
Assim, a concluso a que chegamos que existem, de certa forma, "duas realidades": a realidade que completamente independente do observador e que no depende de atitudes ou da
A dominao dos fatos brutos atravs da criao de fatos
institucionais feita atravs da criao de
formas de cooperao para resolver
problemas objetivos (ex.: cooperao para construir um abrigo)
A importncia da linguagem est
relacionada criao dos fatos institucionais, que so o que diferencia a
espcie humana (a linguagem, portanto, o
que nos diferencia, e filsofos como Aristteles
j defendiam isso)
O direito uma realidade institucional,
mas uma realidade: isso no significa que ele seja imaginrio ou
desorganizado
-
linguagem humana para existir e a realidade que dependente do observador, na qual existem funes status e fatos institucionais, que s existe por causa da conscincia e da intencionalidade humanas e que depende da intencionalidade coletiva e da aceitao geral para sua manuteno ao longo do tempo.
Texto 1: Entre a teoria da norma e a teoria da ao. Jos Reinaldo de Lima Lopes.
O objetivo do autor no texto mostrar de quais perspectivas possvel conceber o ncleo de uma teoria do direito e, depois, explicar de que maneira estas perspectivas afetam o ensino jurdico e o exerccio prtico do direito (resoluo de questes jurdicas). As duas perspectivas so a teoria das normas e a teoria da ao.
Na primeira parte do texto, ele comea explicando de que maneira concebemos atualmente a cultura jurdica (ou seja, comea fazendo um "panorama geral do direito"). De acordo com sua viso, nos ltimos tempos tem havido um deslocamento, no direito, da teoria da norma para a teoria da deciso. A teoria da deciso pode tambm ser chamada de teoria da ao porque decidir agir. Toda deciso, no direito, expressa na forma de sentenas e estas sentenas precisam ter uma fundamentao: o ato de decidir, no direito, envolve deliberao, e a deciso s pode ser compreendida atravs da exposio dos motivos que levaram a ela (da a obrigatoriedade da fundamentao das sentenas). Resolver um problema jurdico no o mesmo, portanto, que resolver um problema matemtico.
Quando nos focamos na teoria das normas, temos a impresso de que o direito uma coisa, um texto. Neste sentido, o papel do jurista seria descrever e falar sobre estes textos, ou seja, sobre proposies jurdicas; quando nos focamos na teoria da deciso, por outro lado, o direito passa a ser o fazer, e o papel do jurista passa a ser deliberar a partir das regras jurdicas. Estas duas teorias, portanto, por terem enfoques diferentes geram objetos tericos diferentes. A teoria da deciso mais abrangente (pois envolve uma certa teoria da norma) e, por isso, talvez seja melhor como teoria do direito do que a teoria da norma. A diferena entre teoria da deciso e teoria da norma possui, desta forma, relevncia prtica: se nos concentrarmos em ver o direito como teoria das normas, no estaremos enxergando propriamente o que os juristas fazem (que decidir casos concretos com base no direito posto).
A relevncia prtica desta distino observada tanto no ensino jurdico quanto no exerccio do direito: se eu concebo o direito como teoria da norma, tenderei a ensin-lo ou a aplic-lo de um jeito (a maioria das faculdades de direito que temos hoje adotou est teoria e a isso se deve crtica de que no conseguem oferecer nenhum conhecimento prtico a seus alunos); se, por outro lado, penso no direito como teoria da deciso, meu foco passa a ser tomar decises acertadas sobre casos concretos e justific-las, explic-las com base no direito posto. A isso se relaciona a distino feita por Bobbio entre lgica das normas, que se ocupa da relao entre normas, e lgica dos juristas, que se ocupa dos tipos de argumento que podem ser utilizados.
Na segunda seo do texto, o autor passa a explicar a teoria da norma (este o ncleo do artigo: explicar no que consiste a teoria da norma adotada por muitos juristas durante o sculo XX). O mais importante jurista adepto dela foi Hans Kelsen. A teoria da norma tem como objeto central a ontologia da norma jurdica, centrada em uma questo principal: o que a norma jurdica? Historicamente, esta questo foi fruto de uma tentativa de afastar o direito das influncias religiosas (isolar o direito da religio e depois da moral). Girando em torno desta questo, existem seis consideraes principais a serem feitas sobre a forma como a teoria da norma tem sido tratada pelos juristas:A. norma dotada de sano em si mesma ou no sistema: a sano o que caracteriza a norma
jurdica e isso que marca a diferena entre normas jurdicas e normas morais;B. norma que faz parte de um conjunto organizado de normas (ordenamento jurdico): as normas
pertencem a este sistema por terem sido produzidas dentro dele, de acordo com procedimentos estabelecidos por ele e por uma autoridade;
-
C. norma como imperativo: todas as normas so comandos, ordens de algum e, no caso da norma jurdica, a autoridade que d as ordens o Estado, o poder poltico (sendo diferente das normas normais porque, no caso delas, o descumprimento causar sano pela autoridade pblica);
D. obrigatoriedade da norma: questionamento sobre a relao entre validade e eficcia, tendo em vista que uma norma no deixa de valer s porque foi cumprida (questiona-se o que faz com que a norma seja obrigatria);
E. direito como poder e controle: j que as normas so vistas como comandos, como formas de controlar os transgressores da ordem, o direito visto de uma perspectiva subjetivista (porque suas normas so vistas como uma extenso de vontade) e individualista (porque quando se fala de quem criou as normas, fala-se numa relao binria de algum que manda e algum que obedece);
F. analogia entre a norma e a lingustica: a lingustica, assim como a norma, no prtica, mas fornece o aparato do qual algum precisa para falar uma lngua adequadamente (assim como a norma faz com o direito).
Uma teoria concebida nestes moldes apresenta certos problemas (como bem aponta Hart em seu livro "O conceito de direito"). O principal deles que ela no d conta de todas as aes que do origem s normas: as normas no so todas apenas ordens, imperativos e comandos e nem todas elas possuem sano. Isto foca evidente ao analisar os a anulabilidade ou. Unidade dos atos jurdicos que so praticados em contrariedade a alguma norma: a anulabilidade ou nulidade no exatamente uma punio. As regras constitutivas (por exemplo, "O Brasil, uma repblica") tambm no podem ser explicadas por aquela teoria da norma.
Existe ainda uma segunda dificuldade apontada por Hart: se a norma concebida como algo para o qual a nossa nica razo de obedecer a autoridade (autoridade est representada por um indivduo), o que acontece quando o indivduo morre? Por que as pessoas continuam a seguir as regras? A teoria da norma como comando ou imperativo, portanto, no permite que se conhea o motivo pelo qual as pessoas obedecem s normas, ou a razo que as orienta para interpretar normas de significado obscuro.
Desta forma, a teoria da norma deixa de lado ao e deciso e, com isso, d a impresso de u estas normas no so racionalmente reguladas e que no se prestam a ensinar como decidir segundo o direito (que o objetivo principal de um jurista). Isso porque a teoria da norma concebe a cincia como discurso sobre alguma coisa e, neste sentido, a cincia do direito s pode ser um discurso sobre normas. Uma expresso desta viso o pensamento de Kelsen (para quem o ato de aplicar o direito a um caso concreto no uma atividade cognoscitiva, mas um mero ato de vontade). Para ele, o julgamento jurdico, a deciso, sempre singular, sempre dependente da vontade do juiz, nunca universal.
Assim, como consequncia desta concepo de direito, a deciso (que , para os juristas, o objetivo principal do direito) deixada a margem vista como fruto da irracionalidade individual, da mera vontade, do apetite de quem decide. Para os adeptos da teoria, seguir uma norma como reagir a um castigo: "automtico", no envolve grande raciocnio ou conhecimento ( uma mera aplicao mecnica de uma regra existente a uma situao que ela explicitamente regula). Como j dito antes, isso pode ser verdade para regras matemticas, mas no para regras jurdicas. Mesmo com todos estes problemas, a teoria da norma ainda muito frequentemente usada para explicar e entender o direito. Apesar disso, ela vem sendo aos poucos suplantada por outras formas de concepo do direito, como a teoria da deciso.
Na terceira seo do texto, o autor passa a explicar a teoria da deciso. De acordo com ele, ela comea a se desenvolver quando o foco se desloca da regra (dos questionamentos que giram em torno da ideia de regra) e passa para o processo deliberativo como um todo. Isso se deve em grande parte a uma srie de mudanas na prpria filosofia, sendo a principal delas o desenvolvimento da filosofia da linguagem: neste sentido, a filosofia deixa de se preocupar apenas com a tenso sujeito-objeto (o que uma norma, o que faz com que as pessoas sigam
-
uma norma, etc.) para se preocupar com a linguagem e com a funo que ela exerce no nosso cotidiano social (e a isso se relaciona a investigao do processo deliberativo, composto por argumentos que so construdos atravs do uso da linguagem).
A primeira vertente importante da filosofia da linguagem representada por Karl-Otto Apel. Ela foca sua anlise na linguagem como algo transcendental, que permite que os seres humanos pensem em meio a seus semelhantes utilizando uma razo comum. Apel faz uma distino entre comunidade ideal de comunicao e comunidade real de comunicao: na primeira, os falantes esto inseridos num ambiente onde existem regras estruturais e gramaticais para uso da lngua na formulao de discursos; na segunda, estas regras balizam a realizao dos discursos. Desta forma, as regras da lngua so constitutivas da possibilidade de comunicao. A linguagem social por definio (no faz sentido pensar no uso da linguagem para um s sujeito isolado) e por isso permite que todos os membros de uma sociedade pensem partindo de uma base comum. A regra de linguagem passa a ser, portanto, uma condio para a ao, um guia para ela (contrariando o solipsismo de Kant).
Uma segunda vertente importante a da filosofia hermenutica de Paul Ricoeur. Ela tem por ponto de partida o conceito de sentido: o sentido algo permanente no discurso e no se confunde com o evento pelo qual ele se expressa e se fixa. Toda ao se realiza num ambiente de sentido. As normas jurdicas so expressos do sentido jurdico das aes humanas: a tarefa da hermenutica jurdica, neste sentido, justamente atribuir sentido jurdico s aes humanas. Os discursos so singulares e contingentes, mas so feitos atravs de lnguas abstratas e permanentes, assim como as decises (discurso) e as regras (lngua). A filosofia hermenutica ajuda, portanto, a compreender no que consiste nosso processo de agir segundo as regras. Ricoeur diz que a teoria da ao, ou filosofia da ao, no se confunde com a tica (pois no tem objeto prprio de reflexo ou uma finalidade) nem com as cincias da ao (porque no explica a ao como um fenmeno externo, do ponto de vista do observador). A filosofia da ao se preocupa em entender os motivos, as razes do agir humano, e no em explic-lo casualmente ou em julg-lo moralmente (o que nos ajuda a us-la para compreender o processo deliberativo).
A terceira vertente (e segundo o autor, a mais importante) a da filosofia analtica anglfona inspirada em Wittgenstein. Os principais representantes desta vertente so Richard Hare e John Searle. Estas trs vertentes so algumas correntes filosficas responsveis pela criao de um contexto dentro do qual surgiriam novas concepes de teoria do direito. Estas novas teorias vo ter como objeto central a investigao do que agir segundo o direito, ou seja, do que seguir regras (no s regras jurdicas, mas qualquer tipo de regras). Formam-se, assim, teorias do direito que tm por base a ao.
As normas ou regras so formas de ingresso na prtica social. Uma destas prticas falar uma lngua (apesar de o domnio das regras gramaticais ser essencial aos falantes da lngua, s saber as regras no habilita ningum a saber falar a lngua). A distino entre seguir as regras porque as enxergamos como guias de ao e seguir as regras porque tememos as consequncias do descumprimento a base da discordncia entre Hart e Kelsen. Para Kelsen, as pessoas seguem as regras por medo das sanes; Hart, por outro lado, acredita que as pessoas seguem regras por causa da aceitao destas regras de uma perspectiva interna.
A obra de Hart ainda aborda a teoria do direito de um ponto de vista terico, no prtico, mas de forma hermenutica. inovadora por dar mais importncia prtica do que as outras teorias jurdicas. Isto fica claro com um exemplo que ele d em "O conceito de direito": ao falar sobre a prtica social e compar-la com um jogo de xadrez, Hart diz que nela a figura do soberano pouco relevante e as pessoas seguem as regras porque querem estar inseridas neste contexto social (quem quer saber as regras do jogo quer para jog-lo, no para quebr-las). Neste sentido. O direito uma prtica regrada sobre uma rea ampla da vida humana. Para Hart, a prtica social regulada por regras que garantem que ela possa continuar ao longo do tempo (e est prtica se baseia tanto na aceitao do ponto de vista interno das pessoas quanto na aceitao compartilhada das regras).
-
Existem alguns traos tpicos das teorias da deciso:I. centralidade dos problemas de aplicao do direito: as teorias da ao se preocupam com o
que significa agir segundo a norma jurdica (ensinar e aplicar o direito consistem em desvendar o uso adequado das normas jurdicas e sua anlise do ponto de vista prtico passa a ser o ponto fundamental);
II. tratamento do assunto do ponto de vista prtico: a regra vista como forma de guiar aes e decises e o agente e como forma de avaliar estas aes e decises (a regra critrio de anlise para os agentes).
A teoria da deciso , portanto, uma teoria do raciocnio segundo as regras, que investiga as razes que esto por trs do agir segundo a norma. H grande preocupao com a justificao, ou seja, com a exposio da forma de pensar de quem aplica a regra, das intenes e das finalidades pretendidas. No direito, estas razes e intenes so principalmente normativas (ou seja, as aes se justificam com base no direito positivo). O discurso de justificao reconhecido como parte do discurso jurdico: as normas so vistas como razes de agir (o que no significa que a vontade do agente no possa ser uma razo tambm, desde que no seja mera imposio de fato, ou seja, no seja guiada por terror, ameaa, etc.). O exemplo do assaltante de Hart ilustra bem este ponto: o sujeito que entrega seu dinheiro ao assaltante no pode ser comparado ao sujeito que paga seus impostos, pois o primeiro tem uma causa externa para sua ao e o segundo, uma razo interna. Desta forma, ao tratar a norma como uma razo (interna) de agir, as teorias da deciso do importncia ao aspecto prtico do direito. Enquanto a teoria das normas se converteu numa gramtica do direito, a teoria da deciso consiste em uma teoria do discurso, em uma pragmtica das normas.
Na ltima seo do texto, o autor diz que o descarte da importncia da deciso na formao da teoria do direito se deve s correntes do formalismo lgico da teoria das normas e do realismo emprico-sociolgico da tradio norte-americana. Estas correntes viam a deciso (ou seja, o processo deliberativo) como um mero ato de vontade, que no seria importante para o estudo do direito. As teorias da deciso voltaram a ter importncia atravs da ideia da justificao (mencionada acima). A ideia que as decises no so meros atos de vontade, pois precisam ser justificadas (no direito, justificadas por meio de normas jurdicas).
Estas teorias da deciso tiveram que retomar alguns conceitos da filosofia clssica. Entre eles, o conceito de que h razo onde no h certeza, ponto que fica claro nos comentrios que So Toms de Aquino faz sobre "tica a Nicmaco". Ele diz que a razo coloca ordem sobre quatro campos intelectuais de nossas vidas: 1) sobre como enxergamos o mundo natural (gerando as cincias naturais; 2) sobre a prpria razo (gerando a lgica); 3) sobre as coisas que podemos realizar (gerando a tcnica e a arte) e, por fim; 4) sobre os nossos prprios fins e objetivos, tanto na vida social quanto na individual (gerando a tica). Tomar decises prticas no a mesma coisa que realizar um raciocnio formal: o segundo diz respeito a analisar os fatos, e, por isso, est relacionado retrica; as primeiras, por outro lado, dizem respeito a discutir sobre o opinvel, ou seja, discutir conceitos "abstratos" que podem ser postos em dvida.
Admitir que o direito est relacionado tomada de decises justificadas admitir que ele tem uma finalidade prtica, no apenas terica. Isso se reflete tanto no ensino quanto na prtica jurdica: no ensino, os alunos passam a ser ensinados a raciocinar de forma a tomar decises justificveis (neste sentido, o ensino do direito como o ensino de uma lngua, no qual a gramtica, a sintaxe e a morfologia so ensinadas com a finalidade de permitir que a pessoa formule discursos); na prtica jurdica, d-se mais destaque s justificativas que motivam a deciso (justificativas que devem se basear tanto nos fatos quanto nas normas que levaram a ela). A teoria da deciso , portanto, um modelo mais adequado para as teorias do direito.
Seminrio 2: A ltima palavra. Thomas Nagel.
-
Na primeira parte do texto, Thomas Nagel fala sobre a natureza do raciocnio moral e de sua diferena em relao ao raciocnio emprico (empregado nas cincias naturais). O autor comea o texto dizendo que o raciocnio moral raramente bem-sucedido no objetivo de
produzir certeza: uma forma de raciocnio muito volvel, sujeita a distores tanto por fatores pessoais ou sociais quanto por erro (assemelhando-se razo emprica). A objetividade do
raciocnio moral no depende de o associarmos a uma referncia externa: isso quer dizer que no existe um universo moral, externo aos seres humanos, que, numa relao de causalidade, seja responsvel por gerar o raciocnio moral (como existe um universo natural externo
que motiva o raciocnio emprico das cincias da natureza, por exemplo). O raciocnio moral, em outras palavras, no provocado por uma relao causal entre os seres humanos e o mundo fsico no qual ns vivemos. O autor diz que, se nos limitssemos ao impacto que o mundo externo nos causa, ai da estaramos no campo da percepo sensorial (no do raciocnio). Nossas crenas cientficas (isto , aquelas que derivam de nossa relao com o mundo fsico) so tidas como verdadeiras porque este mundo nos permite chegar at elas atravs do confronto de vrias hipteses, escolhendo como verdadeira aquela que sobrevive s crticas que so feitas observando a realidade natural.
Neste sentido, uma diferena entre o raciocnio emprico e o raciocnio moral que o raciocnio moral se ocupa no s com a descrio ou explicao das coisas que acontecem, mas tambm com as decises e com sua justificao: como os mecanismos de raciocnio moral no so to objetivos e certos quanto os do raciocnio das cincias naturais, o subjetivismo no campo moral tem mais credibilidade do que no campo das cincias. De acordo com o autor, s o esforo da razo pode determinar se o raciocnio moral ser capaz de produzir certezas, ou seja, princpios, mtodos e razes que possam guiar nossas vidas. O raciocnio moral um raciocnio prtico. A questo principal saber se as formas de justificao e de crtica que empregamos em nosso raciocnio moral podem ser vistas como prticas socializou culturais, ou seja, como prticas humanas coletivas.
Assim, a tese central do texto que o raciocnio moral possui alguma base objetiva. O autor comea dando um exemplo para ilustrar este ponto: se algum diz que ns s acreditamos em igualdade de oportunidades porque nascemos numa sociedade liberal e ocidental, esta afirmao no de todo verdadeira. O autor acredita que nossas crenas so objetivas em inteno, ou seja, no o fato de eu ter nascido na sociedade em que nasci no o nico motivo pelo qual acredito em igualdade de oportunidades. As crenas de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, no so completamente subjetivas. O autor deixa claro qual o subjetivismo que est tentando combater: o subjetivismo que, como ilustrado no exemplo, diz que minhas convices so apenas minhas convices, ou da minha comunidade; o subjetivismo que d aos julgamentos morais um carter de primeira pessoa autoconsciente.
Ainda tratando do exemplo, a medida que crescemos e que temos contato com outras culturas, com a histria, etc. podemos comear a questionar nossas crenas morais (crenas que nos foram ensinadas dentro da sociedade na qual vivemos). medida em que vivemos, portanto, vo sendo acrescentadas outras variveis ao nosso raciocnio moral que permitem que questionemos crenas morais que tnhamos estabelecido como verdades para ns (comeamos a avali-las, a test-las e a coloc-las contra a parede). Estas variveis so um recurso extra de reflexo que as pessoas adquirem a medida que tem contato com elas e, por isso, no desabilitam ou atrapalham o julgamento moral. Este questionamento no deslegitimado pela contingencilidade (ou seja, pela incerteza, pela possibilidade de a pessoa descobrir que estava errada) nem pela
Tanto na cincia quanto na moral existem mtodos de
raciocnio, existem mecanismos racionais de avaliao das aes (o
que incomoda o autor no Hume que ele acredita que a moral consiste em apenas reao, no em
raciocnio)
Diferena entre raciocinar por
causas externas (questes
descritivas) e raciocinar por
motivos ou razes (questes
normativas)
Outro problema enfrentado na tese pelo
autor a crtica ao cientificismo moderno:
o livro todo uma passagem por grandes
temas das cincias filosficas (lgica,
epistemologia, etc.)
-
universalidade (ou seja, preciso se colocar no lugar dos demais na hora de fazer a avaliao, mas no possvel considerar os interesses de absolutamente todas as pessoas). possvel, portanto, combater uma posio subjetivista atravs do raciocnio moral: " uma questo de entender exatamente de que o subjetivista pretende que desistamos e ento perguntar se as bases para aquele julgamento desaparecem luz de suas observaes."
As crenas morais subjetivas possuem, portanto, fundamentos que no so subjetivos e que podem ser combatidos com argumentos. De acordo com o autor, as posies morais ocupam o pensamento humano de forma que seria completamente inadequado subordin-las a qualquer outra coisa que no seja a prpria moral. As consideraes morais permanecem, apesar de todos os questionamentos e distores aos quais esto sujeitas. Isso fica evidente, segundo o autor, pelo fato de que o normativo no pode ser transcendido pelo descritivo: sempre possvel pensar em uma situao em termos normativos e esta possibilidade nunca deixa de existir pela existncia de coisas de natureza descritiva (emoes, sentimentos, hbitos, convenes, etc.); estes elementos descritivos devem sim, no entanto, servir de guia s nossas aes, mas mantendo o vnculo com a via normativa. Desta forma, possvel "combinar" normatividade e descritividade atravs da pergunta "como deverei agir (normativo) caso estes fatos sejam verdadeiros em relao a mim ou a minhas circunstncias (descritivo)?". Conseguimos a resposta para esta pergunta atravs da razo prtica, mas, muitas vezes, tambm atravs da moral (pois esta questo nos faz imaginar tambm como outra pessoa deveria agir na mesma situao ou em situaes mais amplas). Estas questes sempre sero levantadas sempre haver para elas uma necessidade de justificao.
A seguir, o autor estabelece (tendo explicado de forma geral seu ponto de vista) o primeiro ponto de vista oposto a ser combatido: o de Hume. De acordo com Hume, a razo foi concebida para ser escrava das paixes e que existem sentimentos e desejos que so anteriores razo que no so passveis de avaliao por ela, mas apenas de aceitao (sendo que o autor concorda apenas com
esta ltima afirmao). A questo principal que surge, desta forma, qual a configurao exata dos dados motivacionais e se alguns deles no podem ser apontados como as bases de
algumas aes racionais. De acordo com o autor, a razo prtica serve para governar as relaes entre aes, desejos e crenas, ou seja, para equilibrar estes trs fatores na conscincia humana. sempre possvel demonstrar o peso ou a importncia
que determinado fator exerce nas nossas decises atravs de um desejo ou sentimento secundrio, uma "paixo calma", que, segundo Hume, essencial para que possamos pensar racionalmente. neste ponto que o autor acredita que ele est equivocado: a ausncia deste desejo no contrria a razo (da mesma forma que a ausncia de desejo sexual no contrria razo).
fato que as pessoas possuem mais desejos de segundo plano do que de primeiro plano; a questo saber se estes desejos so fonte de motivao para nossas aes racionais ou se so s manifestaes, nos nossos motivos, de exigncias racionais. Suponhamos que eu considere no me preocupar mais com meu futuro: o resultado no o mesmo de eu considerar no me preocupar mais com filmes (apesar de ns dois casos haver o julgamento da aceitabilidade racional de uma mudana); no caso do futuro, h no s a presena de um desejo de segundo plano, mas principalmente a necessidade de determinar o que ou no relevante para justificar a ao tomada (ou seja, a de no me preocupar mais com o futuro).
Quando avaliamos nossas decises com base nas circunstncias, passa a existir um espao entre desejo e ao e neste espao que o livre exerccio da razo se manifesta. este exerccio da razo que nos faz enfrentar a diferena entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, levando em conta os meus desejos (do ponto de vista subjetivo) e a minha realidade, a situao ftica na qual estou inserida (do ponto de vista objetivo). esta combinao entre objetividade e
Mtodo dialtico, relao com o direito, pois o direito
tambm uma forma de avaliao e de justificao de aes e decises e, por
isso, essencialmente prtico (assim como o
raciocnio moral explicado pelo autor, havendo,
portanto, semelhana entre direito e moral)
-
subjetividade que faz com que decidamos qual peso atribuir a nossos desejos na realizao de nossas aes e que surja a necessidade de justificao destas aes. O ponto central aqui que a base de apoio que
uma pessoa usa para decidir que escolha fazer no mais s de primeira pessoa (ou seja, no mais totalmente subjetiva): a partir do momento em que algum percebe que deve julgar suas decises,
levando em conta fatores internos e externos, este algum no pensa mais s no que ele deveria fazer, mas no que qualquer pessoa deveria fazer se se encontrasse nas mesmas circunstncias e tivesse os mesmos desejos. Ocorre, desta forma, certa "generalizao" no pensamento que
afasta o subjetivismo total.
O autor passa agora a combater um segundo ponto de vista contrrio sua tese, que o de Benjamin Williams. De acordo com Williams, a razo prtica reflexiva sempre se manifesta em primeira pessoa. A questo qual as pessoas sempre querem responder "o que eu farei ou o que eu deveria fazer?" e a resposta sempre vem de algo interno, que a conjuntura motivacional. Em contraposio razo prtica, na razo teortica esta pergunta normalmente substituvel por outra que no precisa ser respondida com referncia primeira pessoa. A razo teortica , neste sentido, muito mais objetiva que a razo prtica. Williams defende que, ao tentar avaliar minhas decises, por mais que eu tente me libertar das minhas paixes e desejos, nunca ser possvel fazer esta avaliao, em termos de razo prtica, fora do domnio do pensamento em primeira pessoa. A avaliao das minhas aes sempre ser feita do ponto de vista individual e subjetivo e com bases individuais e subjetivas (eu no pensarei no que algum deveria fazer em minha situao, mas no que eu deverei fazer, e no h, desta forma, objetividade em meu raciocnio).
Para Williams, portanto, quando dou um passo para trs na razo prtica e me pergunto se minhas aes so corretas ou no, no estou avanando em direo a um ponto de vista mais universal e objetivo, mas sim avanando em direo a mim mesmo, de forma mais profunda. A pergunta "o que eu deveria fazer" est sempre em aberto e pode ser reaberta, e isso logicamente congruente com o fato de que a resposta ser sempre na primeira pessoa. Williams acredita que a liberdade mais alta a que algum pode aspirar chegar a uma ordem de valores que so apenas meus, ou seja, que refletem quem eu sou e o que eu quero enquanto pessoa, e que todas as respostas objetivas pergunta anterior so, na verdade, a primeira pessoa se disfarando de terceira.
S possvel se libertar da subjetividade a partir do momento em que adotamos um ponto de vista externo, um ponto de observao descritivo, a partir do qual possamos encarar a ns mesmos de forma impessoal, anulando completamente a primeira pessoa (a descrio uma forma de espaar da subjetividade). A questo principal aqui saber at que ponto a descrio se sobrepe avaliao. Existem avaliaes que podem ser sobrepostas pela descrio e outras que no podem. O autor d o exemplo dos camares: se eu no gosto de camares, esta uma preferncia pessoal que no est sujeita avaliaes de instncia superior, ou seja, no h nada a fazer em relao a esta preferncia seno aceit-la. Em contrapartida, existem situaes descritivas que so sim passveis de avaliao, e a questo seria determinar se est avaliao ser ou no sempre feita em primeira pessoa. A resposta do autor que no (e que, portanto, Williams est equivocado): quando falo de minhas preferncias polticas, por exemplo, possvel avaliar estas preferncias de forma externa, porque os motivos que me levam a ter esta preferncia so, de certa forma, motivos externos, objetivos (no so s meu gosto pessoal ou outras razes subjetivas, como o caso dos camares).
Depois de refutar os posicionamentos contrrios dos dois tericos, o autor coloca um novo problema a ser enfrentado por sua tese. Este o problema do livre-arbtrio. Admitir que algum possui livre-arbtrio essencial par admitir que ela possa avaliar suas crenas e convices de acordo com a razo prtica: se uma pessoa supuser que todas as coisas nas quais ela acredita e
O ponto central do raciocnio moral se
libertar da subjetividade,
encarando o mundo aos olhos de
qualquer um (e isso que o torna objetivo)
Dica: Bernard Williams,
The sense of the past
-
todas as suas aes foram arbitrariamente determinadas, ela no possuiria mais capacidade de se autoavaliar, de acreditar em alguma coisa ou de pensar e agir racionalmente (porque a imposio arbitrria estaria presente em tudo que ela fizesse, pensasse ou dissesse). Esta uma questo complicada que leva a uma outra, um pouco mais particular, sobre a razo prtica: possvel questionar se a razo prtica de fato existe ou no. Uma pessoa pode pressupor que seus motivos para agir so determinados por desejos ou predisposies arbitrrios que se encontram alm da racionalidade: a pessoa que acreditasse nisso no poderia se perguntar "o que eu deveria fazer?" pois esta pergunta pressupe uma avaliao racional.
O autor acredita, no entanto, que isto no possvel. Ele acredita que, na situao exposta acima, o que existe uma contraposio entre "uma teoria sobre como as coisas so uma prtica que seria impossvel se as coisas fossem assim": se moldarmos nossas mentes para decidir o que fazer, rejeitaremos aos poucos a ideia de que o que fazemos determinado por fatores irracionais (ou seja, a razo prtica existe se acreditarmos que o raciocnio sobre nossas decises ponderado por fatores racionais, e s acreditaremos nisto se "treinarmos" nosso raciocnio para tal).
A persistncia da ideia de que, depois de todas as consideraes, cabe a mim tomar a deciso sobre o que fazer, est relacionada ao que Kant chama de fato da razo: ele se manifesta nas nossas decises ou em nossa persistncia em responder pergunta "o que eu deveria fazer?". A sensao de liberdade depende de a deciso no ser tomada apenas no meu ponto de vista: necessrio que as minhas decises estejam de acordo com padres universalmente aplicveis (ou seja, necessrio que a deciso responda tambm pergunta "o que algum deve fazer nas mesmas circunstncias?"). Para o autor, a partir do momento em que somos capazes de reconhecer nossos motivos e desejos somos capazes de decidir se agiremos ou no de acordo com eles e, portanto, somos confrontados com questes avaliativas. A prpria recusa em enfrentar estas questes pode ser objeto de avaliao. Assim, ponto de vista de Kant ilustra a tese do autor: a aplicabilidade de conceitos morais consequncia da nossa liberdade, e est liberdade depende de podermos nos enxergar objetivamente (realizando avaliaes sobre como devemos ou no agir).
Assim, o raciocnio moral, de acordo com o qual decidimos o que fazer e o que no fazer, tem um aspecto universal e imparcial. O autor a seguir esboa algumas formas de pensar que ilustram este ponto (e refutam a viso humeana). A primeira delas a admisso da generalidade em julgamentos prticos: quando eu penso se devo fazer algo, me pergunto se existem razes para que eu o faa e, a partir do momento em que assumo uma viso objetiva de mim mesma, estas razes existem no s para mim, mas para os outros tambm (as pessoas no fazem coisas sem possurem razes para tal e estas razes so generalizveis).
A segunda a escolha entre razes egosticas e razes "neutras", ou seja, escolher entre razes pessoais que atendem aos objetivos que uma pessoa deseja atingir e razes gerais: esta escolha est relacionada importncia que atribumos a nosso destino e s coisas que queremos quando os confrontamos com um ponto de vista impessoal, de acordo com o qual no somos especiais em relao aos outros indivduos. Neste sentido, acreditar que no existe razo objetiva para as escolhas humanas (apenas razes egosticas) seria admitir que as pessoas no tem nenhum valor umas para as outras a no ser que sejam instrumentos para que elas atinjam seus objetivos (seria admitir que as pessoas possuem apenas valor para si ou para outras pessoas, e no valor em si).
Desta forma, admitimos que um sistema de razes motivacionais confere s pessoas algum valor objetivo, alm do valor subjetivo. O autor, para tentar descobrir no que consiste a razo prtica objetiva (ou seja, no que consiste o valor objetivo dado s pessoas no mecanismo de deciso) explica dois enfoques que buscam explicar o valor objetivo: o das teorias utilitaristas e o das
Problema: mesmo que o raciocnio moral possua um fundo objetivo (mesmo que meus motivos para agir no sejam apenas egosticos),
existem situaes nas quais isso no suficiente para
decidir como agir (exemplo: decidir quais pessoas salvar da morte no trilho do trem)
-
teorias contratualistas. Ambos os enfoques tentam dar contedo ideia de que as pessoas possuem valor objetivo, ou seja, valor em si, e ambas o fazem dizendo que todas as pessoas so iguais. A diferena entre elas est no tipo de igualdade que endossam: para os utilitaristas, a igualdade que existe entre as pessoas determinada pelo fato de que todas elas so partes equivalentes do todo social; os contratualistas atribuem s pessoas igualdade de status e de tratamento em determinadas circunstncias (existem garantias substantivas universais garantidas
s pessoas). O autor apenas expe esta controvrsia como exemplo de situao em que existe a busca por uma resposta objetiva ao problema (e no apenas por uma resposta em primeira pessoa, baseada no que um indivduo acha ou no que sua comunidade acha).
Assim, o ponto fundamental do texto que, ao buscar racionalmente razes para agir de determinada maneira, uma pessoa est pensando no
s em primeira pessoa e no s em um sentido coletivo, mas em um sentido universal, geral e objetivo. O raciocnio moral, que consiste no julgamento das aes com base no s nas minhas convices ou
desejos pessoais (passando a pensar em terceira pessoa tambm, no s em primeira) possui uma base objetiva clara.
Seminrio 3: Two concepts of rules. John Rawls.
O autor comea o texto estabelecendo seu objetivo: demonstrar a diferena entre justificar uma prtica e justificar uma ao, e demonstrar tambm a facilidade com que as pessoas deixam passar a importncia desta distino. Para faz-lo, ele confrontar o utilitarismo com as objees que normalmente so feitas a ele, junto com as ideias de punio e de obrigao de cumprir promessas. O ponto disso mostrar que, se uma pessoa est ciente da distino anteriormente mencionada, pode explicar o utilitarismo de uma forma que faz com que ele seja uma explicao melhor para os nossos julgamentos morais do que as objees a ele fazem parecer. A importncia desta distino est no seu potencial de fortalecer a teoria utilitarista, independentemente das objees que podem ser feitas a ela. Para demonstrar, alm da importncia da distino, o quanto as pessoas a negligenciam, o autor se concentrar em dia concepes de regras: uma que trata a justificao da regra ou da prtica e a justificao do ato isolado como iguais e outra que mostra sua diferena, estabelecendo a base lgica para tal.
O autor passa, ento, a falar sobre punio (para introduzir a teoria utilitarista). A ideia de punio, no sentido de vincular penas legais violao de regras legais, sempre foi um problema moral intrigante: o problema no gira em torno de saber se a punio justificvel ou no (a maioria das pessoas aceita que ); o problema principal saber qual a justificativa da punio, sendo que at hoje no foi estabelecida uma justificativa passvel de aceitao geral. Neste sentido, existem duas justificaes principais para a punio: a retributiva, de acordo com a qual a punio se justifica pela prtica de um atmico siderado errado e deve haver uma proporo entre este ato e o castigo; a utilitarista, segundo a qual a punio se justifica pelo seu potencial de promover o interesse coletivo da sociedade, no importando os atos passados cometidos pelo castigado. De acordo com a viso utilitarista, portanto, a punio justificada enquanto dispositivo de manuteno da ordem social. A tese do autor de que preciso, no s, mas para justificar a punio, distinguir entre justificar a prtica como um sistema de regras a serem reforadas e aplicadas e justificar uma ao com base neste sistema de regras: a viso se concentra nos atos isolados e a utilitarista, na prtica como um todo.
O autor a seguir d um exemplo para permitir que enxerguemos melhor a distino. Imaginemos um pai que tenta responder seguinte pergunta feita pelo filho "Por que J foi preso ontem?" com
Diferena entre razes prudenciais
(instrumentais) e razes morais:
crtica no sentido que as pessoas confundem as
razes prticas com as razes
prudenciais
O direito, enquanto realidade institucional, depende da
linguagem para existir. Por causa disso, neste curso,
dada muita importncia para a organizao das ideias e
para um uso claro e sistematizado da linguagem:
sem isso, no possvel compreender as realidades
criadas por ela (a metodologia ajuda a
compreender as instituies)
-
"Porque ele roubou o banco B."; uma situao diferente se coloca, no entanto, se o filho pergunta "Por que as pessoas vo para a cadeia?" o pai responde "Para proteger pessoas boas de pessoas ms.", ou algo do tipo. A primeira pergunta se dirige a um caso singular e a segunda, toda a instituio da punio. Na resposta do pai primeira pergunta, necessrio olhar para trs, para um fato passado que aconteceu, e verificar que o homem agiu a lei e por isso agiu errado e merece ser punido; na resposta segunda pergunta, o pai se baseia em sua viso ideal de legislador, que faz parte de um sistema legal maior e que age no interesse da sociedade.
possvel dizer, com base nisso, que o juiz e o legislador tm pontos de vista diferentes: um olha para o passado outro, para o futuro. A viso do juiz, portanto, corresponde ao retributivismo e a do legislador, ao utilitarismo. A distino fica clara especialmente quando se percebe que estas duas vises possuem objetivos diferentes (uma procura lidar com uma situao outra procura lidar com um conjunto de situaes). possvel dizer, no entanto, que a viso utilitarista mais fundamental, pois se dirige a um panorama maior (especialmente considerando que o que o juiz faz est condicionado ao que o legislador determina). A atuao do legislador cria um sistema que envolve a aplicao da lgica retributivista caso a caso (a viso tributarista , desta forma, "derivada" da utilitarista). Estas duas vises no so, portanto, antagnicas: o conflito entre elas resolvido fazendo com que elas se apliquem a diferentes situaes.
O problema no , no entanto, to simples: existe uma contradio aparente entre as duas situaes, na medida em que o retributivista alega que ningum pode ser punido se no for culpado, ao passo que o utilitarista v como critrio para a punio o interesse social (a principal crtica feita ao utilitarismo , portanto, que ele permite que uma pessoa inocente seja presa se isto atender ao interesse social). O utilitarismo, no entanto, admite que uma pessoa s pode ser punida se violar o direito: admite que isto intrnseco ao prprio conceito de punio. O utilitarismo se concentra no nas situaes especficas, mas na instituio como sistema de regras: o utilitarismo procura limitar o exerccio da punio ao interesse social (o que , historicamente, um protesto contra o uso indiscriminado e inefetivo do direito penal). Desta forma, a sugesto anterior de reconciliar as duas vises fazendo-as se aplicarem a situaes diferentes d conta deste problema.
Existem, no entanto, mais dois problemas que o autor coloca, em termos de contraposio destas duas vises. O primeiro decorrente de est forma de reconciliao no ser considerada suficiente para os retributivistas: se as leis que integram o sistema fossem justificadas com base no utilitarismo, ou seja, com base no interesse social, os retributivistas s poderiam admitir que as pessoas no so punidas porque merecem se negassem que as aes contrrias lei so erradas (algo que totalmente contrrio ao prprio retributivismo). O segundo problema decorrente de o utilitarismo justificar "demais": o utilitarismo pode ser usado para justificar imposies cruis e arbitrrias, permanecendo o problema de um indivduo ser punido injustamente em nome do que alguns consideram o bem social.
A respeito deste ltimo problema, os retributivistas acreditam que ele s pode ser corrigido atravs da atribuio de certos direitos irrevogveis aos indivduos: o critrio para a punio ainda o interesse da sociedade, mas sujeito a certos limites pelos direitos individuais das pessoas. O autor procura demonstrar, no entanto, que existe outra maneira de impedir que o utilitarismo justifique demais e est maneira justamente distinguir a justificao de uma instituio da justificao de um ato que se subordine a ela.
Para ilustrar seu ponto principal, ele d a definio de punio: a punio acontece quando um indivduo legalmente privado de alguns direitos normais dos cidados com o fundamento de ter violado uma regra jurdica, sendo que esta provao foi estabelecida em um julgamento que seguiu o devido processo legal e foi reconhecida por autoridades estatais, sendo a regra aplicada
O juiz exerce funo normativa (assim como o legislador), mas isso no significa que ele esteja
legislando: este um dos principais erros que as
pessoas cometem quando pensam na
atuao do juiz
-
pelas cortes, estabelecendo conduta e pena, e sendo preexistente ao fato infrator. A questo se o utilitarismo pode ou no justificar punies alm desta definio. O autor se utiliza de uma citao de Carrit, que ilustra a preocupao principal dos utilitaristas (de que o utilitarismo justifique tudo): novamente, a resposta que o utilitarismo serve para justificar instituies que so benficas, como um todo, para a sociedade (e no situaes especficas).
O autor diz que se pensarmos numa instituio denominada "telishment" para ilustrar o ponto de que, quando pensamos em justificar uma instituio (que o fim para o qual o utilitarismo deve ser utilizado), fica difcil usar o utilitarismo
para justificar uma que de fato permita a condenao de pessoas inocentes. Em outras palavras, as instituies precisam ter uma estrutura que permita
que elas funcionem e, nos termos do utilitarismo, beneficiem outros. possvel fazer uma analogia, neste sentido, com um sistema de preos: "as institucion wich is set up to "punish" the innocent, is likely to have as much point as a price system (if one may call it that) where the prices of things change at random from day to day and one
learns the price of something after onde nas agreed to buy it". Desta forma, se o utilitarismo usado para justificar a instituio (que, por sua vez, d origem s aes em separado) ele tem menos chances de "justificar demais".
O autor se dedica agora obrigao de cumprir promessas. A conexo entre o utilitarismo e a obrigao de cumprir promessas a seguinte: de acordo com a justificativa utilitarista, parece que a nica coisa que obriga algum a cumprir uma promessa aquela promessa ter em seu cumprimento alguma vantagem para o coletivo (e isso incompatvel com a importncia dada s promessas). possvel dizer que o utilitarismo ajuda no cumprimento das promessas: tendo em vista que o utilitarismo se preocupa mais com a prtica do que com o ato, quando pensamos se devemos ou no cumprir uma promessa, devemos considerar no s os efeitos particulares do caso, mas o efeito da nossa deciso na prtica de manter promessas (que uma prtica considerada importante); assim, seremos incentivados a cumprir a promessa pela lgica utilitarista, mesmo que as circunstncias do caso nos incentivem a quebr-la.
Ross criticou este argumento dizendo, basicamente, que o utilitarismo no suficiente para garantir o cumprimento das promessas: levando em conta que o objetivo principal do utilitarismo garantir o interesse da sociedade, uma pessoa pode alegar que deixou de cumprir sua promessa por um interesse socialmente mais importante que o cumprimento da promessa em si. Ross levanta mais dois contra-argumentos: diz que isso subestima o dano que a quebra de uma promessa pode ter sobre a prtica geral de fazer promessas (que se relaciona ao prprio conceito de obrigao); alega que nos casos em que somente duas pessoas sabem da promessa, como no caso de uma promessa feita por um filho a um pai, o peso do valor da prtica de fazer promessas pode no exercer nenhuma influncia para incentivar o cumprimento. possvel questionar, portanto, se as considerao sobre a prtica em geral afeta de forma relevante a realizao do ato em particular.
Para rebater os argumentos de Ross, o autor se baseia novamente na distino entre justificar a prtica e justificar o ato: pensar no que consiste a prtica geral de fazer promessas no d, ao promitente, a discricionariedade de decidir se ele vai ou no cumprir a promessa. A prtica das promessas , neste sentido, anloga ao sistema de regras: ela possui caractersticas gerais que determinam como as pessoas, sob determinadas situaes, devem agir (caractersticas gerais que servem de "guia" para aes singulares). Em outras palavras, a prtica geral de fazer promessas , do ponto de vista utilitarista, justificada pelo interesse social, mas as promessas em si no precisam ser. Num jogo de xadrez, por exemplo, as regras do jogo se justificam porque, da forma como so, so melhores para orientar os jogadores, mas o jogador no pode justificar seus movimentos com base nisso - deve se pautar pelas regras. A utilizao de argumentos utilitaristas
A punio, no sentido utilitarista, at pode ser empiricamente constituda de forma a punir inocentes, mas se
for constituda desta maneira, no faz sentido enquanto prtica, pois a
prtica serve para orientar a ao e, se a punio de qualquer um, ela
no orienta apropriadamente (especialmente levando em conta o
objetivo de benefcio social do utilitarismo)
-
para justificar a prtica no implica, portanto, em justificao semelhante dos atos singulares: o promitente no est atrelado promessa porque isso faria bem a todos, mas sim porque ele prometeu.
Isso no significa, no entanto, que em casos particulares uma pessoa no possa deliberar se deve ou no cumprir sua promessa. Mas esta deliberao deve ser feita levando em conta se os vrios motivos, excees e defesas que fazem parte da prtica se aplicam quele caso especfico (a deliberao deve ser feita levando em conta o significado de prometer e todas as suas implicaes). A prtica possui, portanto, um sentido, que deve direcionar a deciso pessoal sobre cumprir ou no a promessa. O utilitarismo no , portanto, incompatvel com a obrigao de cumprir promessas, pois ele no implica em total discricionariedade dos indivduos para avaliar o cumprimento ou descumprimento de suas promessas com base em argumentos utilitaristas em casos esparsos.
Por fim, o autor procura demonstrar que a maneira como as pessoas ignoram a distino que objeto central do texto justamente acreditando que o argumentos utilitaristas podem ser usados para justificar aes particulares. Para demonstrar isso, o autor se
concentra em duas concepes de regras (duas formas de "encaixar" as regras dentro da teoria utilitarista). A primeira a chamada viso sumria: de acordo com ela, uma pessoa decide o que fazer em casos especficos atravs