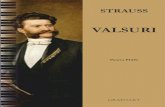Fernanda Peixoto_levi Strauss
-
Upload
anita-moraes -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Fernanda Peixoto_levi Strauss
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
1/29
Os a nos compreen didos entre 1935 e 1938, qua nd o Lvi-Strauss pro-
fessor na recm -criada Universida de de So Paulo, n o parecem ter de s-
pe r tado a a ten o dos intrpre tes e his tor iad ores da s c in cias socia is
du rante longo pe rodo. , de fato, a p artir da d cad a d e 80 que se obser-
va uma esp cie de resgate d essa histria at ento esqu ecida . A morte
de Fernan d Braud el e a volta d e C lau de Lvi-Strau ss ao Brasil, integ ran-
do a comitiva do p residen te Mitterrand , em 1985, so respons veis por
um a srie de artigos, no Brasil e n a Fran a, articuland o os dois pe rsona -gen s e tan tos outros que integraram a m isso francesa e m So Pau lo, na
d cada d e 30: Pier re Monb eig, Je an M au g , Pau l Arbousse-Bast ide ,
Roger Bastide etc. Desde en to, no foram p oucas as p ub licaes, even -
tos comemorativos, dep oimen tos e en saios qu e assinalaram a importn-
cia d o Brasil na trajetria e na obra d esse s (outrora) joven s qu e se inicia-
ram p rofissionalmen te e m solo brasileiro por me io de au las e p esqu isas1.
Sem p reten de r retomar nos limites de ste artigo a histria d a misso
francesa convidada a inau gu rar as atividade s un iversitrias em So Pau-
lo, o meu intere sse aq ui ilum inar o pe rodo b rasileiro de Lvi-Strauss e
mostrar como ape sar de breve e , de m odo ge ral silen ciad o, ele foi fun da -
men tal para os desd obramen tos de sua futura carreira como etnlogo2. A
idia b sica comp ree nd er o luga r do Brasil ne sse itine rrio especfico.
Ma s no s. De m odo a a mpliar a reflexo, destacarei alguns a spectos para
qu e p ossamos ava liar o sign ificad o da vind a d e Lvi-Strau ss ao Brasil no
contexto francs da poca, em u ma tentativa d e leitura da viage m p elos
olhos do viajan te. Fina lmente , a retomada da cena un iversitria p au lista
em se us p rimrdios, atrav s de Lvi-Strauss, oferece pistas inte ressan tes
pa ra pe nsa rmos os contornos assumidos pe las cincias sociais em ge ral,
e p ela an tropologia e m p articular, na Universida de de So Paulo.
LVI-STRAUSS N O BRASIL:
A FORMA O DO ETN LOG O
Fernanda Peixoto
MAN A 4(1):79-107, 1998
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
2/29
A viagem
na Frana qu e Lvi-Strau ss faz sua forma o escolar: prime iro em Ver-salhes, dep ois em Paris, onde perman ece a t o baccalaurat. A cole N or-
m ale S up rieu re , meta d e certa e lite intelectua l fran cesa, est no h ori-
zonte de Lvi-Strauss, que se inscreve no curso prep ara trio para os exa-
mes (h yp o kh g n e ) do liceu Con dorce t. As dificulda de s com o greg o e
com a m atem tica, diz ele, fazem-n o optar pe lo Direito, na Faculdade de
Paris, e , simu ltane am en te, pe la fi losofia, na Sorbon ne . Aps a agrga-
tion , em 1931, cum pre servio militar e m Estrasbu rgo e no M inistrio da
Gu erra. Recm -casad o, assum e o posto de p rofessor no liceu Mon t-de-Ma rsan, em 1932.
O p erodo e scolar de Lvi-Strauss esteve forteme nte marcad o pe la
militn cia p oltica: foi secret rio do gru po d e e stud an tes socialistas d as
cinco e scolas n ormais sup eriores (emb ora n o fosse normalien) e se cret-
rio-geral da Fede rao dos Estuda ntes Socialistas. Nos anos an teriores
agrgation, cheg ou a ser secretrio de G eorges Monn et, depu tado socia-
lista. J agregem filosofia e professor do cu rso secun d rio, a p olt ica
cont inuou a te r g rande espao em sua v ida . Em M ont-de-Marsan , porexe mp lo, can dida tou-se por ocasio das eleies mun icipais (Eribon e
Lvi-Strau ss 1990).
A nomeao seguinte pa ra Laon, ond e pe rmane ce pouco mais de
um an o como professor, emb ora residindo e m Paris, ond e prossegue com
as a tividad es p olticas. No incio de 1935 vem pa ra o Brasil com Fern an d
Braudel , Jean Mau g , Pier re Monbe ig e outros , integrand o a seg und a
leva de professores fran ceses contratad os pela Universida de de So Pau-
lo. O con texto d a vind a p ara o Brasil foi vrias ve zes d escrito por Lvi-
Strau ss em de poimentos e trab alhos de cunh o au tobiogrfico. As verses
so concordan tes e l idas e m conjunto permitem uma viso detalhad a d o
ocorrido.
M inha carreira se decidiu num domingo de outono de 1934, s 9 horas da
man h, atravs de um telefonema . Era C lestin Bougl, ento d iretor da co-
le N ormale Sup rieure; ele m e tratava desde alguns anos com uma b ene vo-
lncia um pouco longnqu a e re t icente : em pr imeiro lugar , porque eu n o
tinha sido norma lista, em seg uida e sobretud o porque , mesmo qu e o tives-
se sido, no perten ceria a o seu grup o, pe lo qua l ele m anifestava sen time n-
tos muito exclusivos; sem dvida, n o havia ningu m me lhor, pois me pe r-
gu ntou abru ptam en te : continua com a in ten o de se espe cia l izar em
etnograf ia? Certame nte! Ento ap resente sua candidatura como pro-
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO80
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
3/29
fessor de sociologia d a Un ivers idade de So Paulo . Os arrabalde s es to
reple tos de ndios , o senhor pode r de dicar-lhes os seu s fins de sem an a
(Lvi-Strauss 1957:43).
As pa lavras um tanto irnicas dirigidas a Boug l nesta p assag em d os
an os 50 sero a ten ua da s em fins d e 80. Afinal, foi Boug l qu em se d isps
a or ientar o m m o ire d tu d es su p rieu res do jovem Lvi-Strau ss, qu e
pre ten dia discorrer sob re os p ostulados filosficos do m ate rialismo h ist-
rico. Portanto, era na tural que conhecesse a s aspiraes de seu orientan-
do em se torn ar e tnlogo (Eribon e Lvi-Strau ss 1990:25-26).
A etnologia nos an os 30 ad qu ire certa visibilida de no me io intelec-tua l fran cs, atraind o figura s de forma es distintas, de filsofos a escri-
tores. E o cam inho mais aconselhvel para u m can didato a e tnlogo qu e
no h ouvesse freq entad o os cursos de Ma rcel Mau ss na cole Pratiq u e
de s Hautes tude s era um a viage m, uma expe rincia de trabalho de cam-
po. A vag a d e p rofessor de sociologia pa recia, en to, um bom p retexto
pa ra o jovem filsofo qu e d ese java iniciar-se no ofcio, mesm o qu e e ste
s pud esse ser exercitado n os finais de seman a ou du rante a s frias esco-
lares, j q ue a USP exigia, contratua lmente , ded icao e xclusiva d ocn-cia.
Para alm d as qu estes pessoais envolvida s em toda e scolha , a opo
pe lo Brasil de ve ser ente nd ida no contexto intelectual da p oca, em q ue
o leq ue d e ofertas para u m jovem asp irante a etnlogo na Frana ind ica-
va p oucos caminhos. Momento d e fortalecimen to da disciplina em mol-
de s acad micos e de profissionalizao de se us pra ticante s, a d cad a d e
30 conh ece o increme nto de a lgum as vocaes (o african ismo, por exem-
plo) e o su rgimen to, aind a tmido, de ou tras (o am ericanismo). Olhem os
mais de pe r to pa ra a cena f rancesa d o pe r odo , e p a ra a man e i ra como
Lvi-Strau ss vai ao p oucos se e ncaixando n ela, antes d e p rocede rmos ao
acompan ham ento de seus pa ssos no Brasil.
A part ida: o contexto francs resumido
A etnologia fran cesa, como sa bido, no na sce com Durkhe im, nem se
de senvolve exclusivame nte e m torno do grupo du rkheimiano. Desde o
comeo d o scu lo XIX, vrias m isses cientficas s o organ izad as com o
objetivo de conh ece r os p ovos exticos: as civilizaes afro-asiticas e
am erndias. Mas trata-se, de mod o geral, de iniciativas extra-aca d micas
patrocinad as por mecena s e liga das s socits savantes da p oca, como,
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 81
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
4/29
por exemplo, a soci t asiatiqu e (1822) e a socit d es am ricanis tes
(1895). Isso sem me nciona r as informaes e tnogr ficas re gu larmen te tra-
zida s por fun cion rios da s colnias fran cesa s, como oficiais, md icos, mis-sion rios, den tre ou tros (Kara dy 1988), ou, ainda , a re flexo sobre o p ri-
mitivo que teve luga r na Socieda de dos Observadores do Homem d o
sculo XVIII (Clastres 1983; Ja min e Cop an s 1994). evide nte qu e n a
bu sca das orige ns p oderamos retroced er ainda m ais e cheg ar aos via-
jante s qu e d esd e o sculo XVI trouxera m informae s valiosas sobre os
povos primitivos e os pases exticos. Ma s o objetivo aqu i n o p en sar a
etnologia de m odo ge ral, rastrean do as sua s razes, e sim reun ir algun s
elemen tos qu e n os permitam p en sar a sua e struturao como disciplinaacad mica orga nizada institucionalmen te na Fran a.
Desde o final do sculo pa ssado, o grupo du rkhe imian o aume nta o
seu prestgio nas cincias sociais france sas. o qu e se ve rifica, por e xem-
plo, pe la a mpliao de seu e spao de atua o den tro e fora da un iversi-
da de . Mais especificame nte, ap s a criao d o A nne Socio log ique , e m
1898, o inte resse p ela e tnologia a pa rece d e m odo claro: sign ificativo o
n me ro de a rtigos de dicados aos povos primitivos e literatura e tnogr -
fica n a re vista, muitos de a utoria do p rprio Durkh eim. Isso sem falar e mseu trab alho de cun ho ma is an tropolgico,Les Form es lm en taires d e
la Vie R ligie use (1912), e em seu s fam osos en saios, La Prohibition de
lInce ste e t ses O rigine s (1898) e De Q ue lque s Forme s Primitives d e
Classification: Contribution ltud e d es Repr sen tations C ollectives,
em pa rceria com M au ss (1903).
Emb ora o e nsino oficial do M useu de His tria Natural e d a Escola
de A ntropologia de Paris possusse um amp lo raio de ao d en tro e fora
da Frana , ser com os colaboradores de Durkheim que a disc ipl ina
en trar no p rograma un iversitrio franc s, a p artir da criao d o Institut
dEthnologie da Un iversidade de Pa ris, em 1925, e pa ssar a en grossar as
fileiras d o Collg e d e France , com a cade ira ocupa da por Ma uss, em 1935.
verdad e qu e M auss , Hub er t e He r tz j h aviam g arant ido um ens ino
mais espe cia l izado e m an tropologia n a cole Pratiqu e d es H aute s tu-
d e s, porm seus cursos encontravam-se m argem dos ciclos de e studos
regu lares da u niversida de , n o conferind o ao aluno u m certificad o, o que
s ocorrer a pa rtir de 1925.
O Institut dEthnologie da Universidade de Par is , fundado por
Ma uss, Lvy-Bruhl e Rivet, pode ser conside rado u ma esp cie de divisor
de g ua s na his tr ia d a d isc ipl ina . Ao pa trocina r pesq uisas emp r icas ,
forman do p rofissiona is, o Instituto pa ssa a a trair novos can dida tos para a
rea . Se an tes da Primeira Gu erra Mu nd ial os cursos tinh am p oucos alu-
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO82
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
5/29
nos (de 1901 a 1911, o n mero d e a lun os nos cursos de M au ss var iava
en tre 16 e 38, e n o curso de Hu be rt, en tre 10 e 29), no Instituto consta-
vam 26 inscritos em 1926 e 258 em 1938. Entre 1926 e 1940, por exem -plo, 113 alun os foram en viad os ao cam po (Kara dy 1988: 33)3.
Em re lao p esqu isa impor tante lembrar qu e os anos 30 assis-
tem e ntrad a da Fund ao Rockefeller no pas, finan cian do investiga -
es, o qu e a nter iormen te e ra fe ito por inic ia t iva p r ivada e e sta ta l em
escala re du zidssima (Ma zon 1985). A ajuda fornecida pe los novos recur-
sos altera o p erfil da disciplina e p ermite a re alizao d as p rime iras g ran-
de s expe rin cias de camp o da a ntropologia france sa: a misso Daka r-Dji-
bou ti (1931) e a misso Saa ra-Sud o (1935).A que sto do traba lho em prico na Frana ponto importante e con-
troverso entre os h istoriadores da disciplina . A pesqu isa d e ca mp o ocu-
pou , de certa forma , lug ar secun d rio na sociologia france sa a t os an os
30, o que pode ser em p ar te e xpl icado pe la proximidad e d a d isc ipl ina
com uma cer ta t radio fi losfica n o pa s e tamb m pe la e scassez d e
recursos. Se a af irmao e m l inh as ge ra is verda de ira Durkh eim
socilogo de ga bine te , assim como Lvy-Bruh l e Ma uss , p reciso
lembra r que tal trad io foi constante me nte conte stada , seja por Mau riceLee nh ardt ou p or Van Ge nn ep , seja pela escola d e M arcel Griau le (Clif-
ford 1988). Mas o curioso q ue tais pesq uisad ores foram forma dos e
orien tados para a pe squisa pelos mestres de g ab inete , com exceo de
Van G en ne p qu e de senvolve o seu t rab alho ligado d iscusso com os
folcloristas sobre q ue stes de cultura p opu lar (Cu isinier e Seg alen 1986).
Se Lee nh ardt u m caso pa rticular j que realizou suas p rime iras exp e-
rin cias d e ca mp o como mission rio , foi a am izad e com Ma uss e Lvy-
Bruhl qu e o introduziu n a carreira de etnlogo. Os me mb ros da misso
frica, por sua vez, foram e m sua ma ioria alunos d e Ma uss, referindo-se
com freq ncia aos seus conselhos e cursos4.
As misses francesas fr ica t iveram gran de importncia n o s
porque por seu intermdio foi formad a u ma gerao d e p esqu isadores ,
molda nd o um novo perfil da etnologia em contexto francs, mas tamb m
porque ina ug uraram u ma rea tem tica, uma n ova vocao: o africa-
nismo.
Dirigida p or Marcel Griau le e contan do com a p articipao, entre
outros, de Michel Leiris e de And r Scha effen er, a m isso Dak ar-Djibouti
(1931-1933) a primeira a ab rir as portas da frica a os pe squ isad ores fran -
ceses. Projetada como uma g rand e pe squisa extensiva, qu e de veria cobrir
um itine rrio de cerca d e 20 mil km, a m isso previu tam b m p esqu isas
em p rofun didad e a serem rea lizad as em algu mas regies: Ma li, norte de
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 83
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
6/29
Cam ares e regio etope d e G odjan (Caltagirone 1988). Em 1935, um a
nova m isso orga nizada com o objetivo de completar os dados e as cole-
es etn ogrficas recolhidos pe la misso Dak ar-Djibou ti: a misso Saa ra-Sud o. Griaule, ne sse momen to, recolhia ma terial para a concluso d e seu
trabalho sobre as mscaras dogon (tese ap resen tada e m 1937), en qu an to
a ling ista Deb orah Lifchitz rea lizava u ma investiga o mais sistem tica
sobre a lngua dogon e Den ise Paulme, jurista de formao, pesq uisava a
organizao social do gru po. Graas a u ma bolsa d a Fun da o Rockefel-
ler e ao ap oio de Rivet e Lvy-Bruh l, as pe squ isad oras prolong ara m sua
estada no pa s dogon p or mais seis meses de maro a setem bro de 1935.
Este pe rodo ficou conh ecido como a misso Pau lme-Lifchitz e se ca rac-terizou p or um trab alho ma is inten sivo que os ante riores (Dup uis 1987).
O a fricanismo conh ece u m surto exp an sionista n os anos 30, em bora
o inte resse p ela frica, como sab em os, seja mu ito an terior (Duch et 1977).
Em 1931, qu an do criad a a Socit des A fricanistes, a curiosida de p ela
cultura a fr icana compa rtilha da por setores mais am plos da sociedad e
fran cesa . Os surrea listas, por exe mp lo, incorporam o african o efetiva-
me nte o outro de svend ad o pela an tropologia fran cesa em su a crti-
ca cul tura l . Os e lementos do mundo negro passam nesse momento aimpreg na r a vida pa risien se m sica, imp rensa , exp osies de ob jetos
african os e se torna m fonte d e inspirao pa ra diversas obras prod uzi-
da s no p erodo (Clifford 1981).
A aproximao da e tnologia a o mund o das a r tes na Frana , dada
pr incipa lmen te p elo grupo surrea l is ta , produ z uma sr ie d e resu ltados
interessa nte s, como por exem plo a revista Documents , editad a p or Geor-
ge s Bata i lle a pa r t ir de 1929, qu e d ed ica um n mero inte iro misso
Dak ar-Djibouti; ou o cat logo da e xposio Les A rts An ciens d e l A m -
rique , organ izad a p or George s He nri-Rivire em 1928, para o q ua l Batail-
le escreve LAmriqu e Dispa rue . A p osio a nticolonialista d os surrea-
listas mob iliza o intere sse p elos povos colonizad os e leva v rios de seu s
pa rtid rios a escrevere m textos de ca rter etn olgico. Ma s tal posio,
longe de sign ificar ape na s uma ba nd eira poltica qu e outros tamb m
levanta ram , tem u m se ntido ma is profun do n o interior da filosofia
surrealista. Ferozes e irreveren tes crticos do pon to de vista an tropocn-
trico, os memb ros do gru po compa rtilham a convico acerca d a n ecessi-
dad e d e a mpliao da s fronte iras do hu man o. Ne sse sent ido, o homem
n o poderia mais ser pe nsad o sem os seu s outros, sem os seus du plos:
os an imais, as figu ras m onstr uosa s, os primitivos (Mora es 1996:109).
Michel Leiris u m p ersonage m e mblem tico para p ensa rmos a nti-
ma articulao entre e tnologia e a rte no p erodo. Afina l, ele u m p oeta
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO84
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
7/29
de feio surrea lista q ue faz a op o pe la etn ologia, e isto n o sign ifica
ruptura s. Ao contrrio, ba sta acompa nh armos a produo do a utor para
pe rcebermos qu e se us l ivros e tnolgicos se en contram pe rfe i tamen teintegrad os ao conjunto d e sua produ o (Peixoto Massi 1992). O interes-
se p ela etn ologia, ele n o se can sa d e a firma r, nasceu com o surrealismo
e representava a rebe lio contra o racionalismo ocide ntal, que se tradu -
zia na curiosidad e p elos povos primitivos e p ela m en talida de primitiva
(Ja min e Price 1988).
O americanismo conhece desenvolvimento dis t into na Frana .
Embora organ izado precoceme nte sob a forma d e u ma socit savante
a Socit de s A m ricanis tes fund ad a e m 1895 , nos an os 30 aindaum a rea p ouco explorada , sen do Ge orges He nri-Rivire, do M useu de
Artes e Tradies Populares, e Pau l Rivet, do M u seu d o Ho mem , seu s
mais destacad os represen tantes.
A Socied ad e d os Ame ricanistas criad a com a a jud a f ina nceira do
conde de Louba t, seu p reside nte d e h onra, e tem como diretor o profes-
sor E.-T. Ha my, do M useu de Histria N atural . Seg un do os estatutos, seu
objeto o e studo h istrico e cien tfico do contine nte ame ricano e de seus
ha bitantes desd e as pocas mais remotas at os nossos dias. Seus mem -bros editam, desd e o primeiro an o de e xistncia da Socied ad e, uma revis-
ta cujo contedo a presenta todos os docume ntos prprios para se conhe-
cer os progressos da s cin cias a mericanas. O ame ricanismo d efinido
pe los seu s praticantes como uma cincia qu e compre en de a s diversas
disciplina s men ciona da s voltad a p ara o conh ecimen to das Am ricas, e
cuja que sto central, nortea dora d as investigae s, diz respe ito s ori-
gen s ame ricanas.
Acompa nh and o a pub licao desde o momen to de sua cr iao a t
1940 corte cronolgico que me permitiu seguir os passos de Lvi-
Strau ss em d ireo ao g rupo d os ame ricanis tas , p ossvel perceb er
du as fases, que correspond em a d ois momen tos distintos das pe squisas
sobre as Amricas. A primeira, que se esten de at m ea dos dos anos 20,
caracteriza-se por ser um pe rodo au to-referen te, qua nd o o Journal fala
preferencia lmen te d e s i prpr io, da Socieda de e d e seu s mem bros, que
so os ma is assdu os colab oradores da pu blicao. O seg un do mome nto,
qu e tem incio em finais dos an os 20 e comeo da d cad a d e 30, est ma r-
cado pe la entrada em cena dos especialistas, formad os nas faculdade s da
p oca, qu e divulgam os resultados de sua s prime iras investiga es. Os
via jantes , grand es respons veis a t e nto p elas informaes sobre as
Amricas, ced em luga r aos novos americanistas:Alfred Mtraux , que
em 1926 estria na pu blicao com um artigo sobre as m igraes h istri-
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 85
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
8/29
cas d os Tup i-Gua rani ;Je an Ve llard, que assina em 1934 o pr imeiro de
uma srie d e a rtigos sobre os Gua yaqu i;Jacque s Sou stelle , que divulga
suas pesquisas com as populaes mexicanas a par t i r de 1935; Lvi-Strauss, autor de um longo a rtigo sobre os Bororo, em 1936.
O lug ar ocupa do pe lo Brasi l no Journal a t os anos 30 b as tan te
discreto. Alm de pou cos artigos sobretu do informaes d e viage ns ,
o pa s apa rece com maior freq nc ia n a seo N ouve l les e t m lang es
amricanistes , onde so n oticiad os: viag en s feitas e m te rritrio b rasilei-
ro, par te da produo d os museus (Museu Paraense e Pau lis ta), recen -
sea me ntos pop ulacionais e fatos polticos. No fina l da d ca da de 20, ser
Paul Rivet o p rincipal cronista da situa o bra sileira n o m bito da pu bli-cao5. Os anos 30, como vimos, ass is tem a um ma ior n me ro de mis-
ses e tnolgicas organ izada s na Frana , o que pode ser perfe i tamen te
acompan had o pe la le itu ra do Journal de la Socit d es A m ricanistes .
Comp aran do, porm, as investiga es realizada s na sia, frica e Am-
r ica , fica e vide nte o pred omnio dos estud os af rican os no p er odo. As
pop ulaes inscritas em te rritrio brasileiro nessa p oca so praticame n-
te de sconh ecidas; p ossvel contar nos de dos as pe squisas rea l izada s
sobre elas: em 1929, Je an Vellard faz uma viag em do Rio de Ja ne iro aoPar, atravessa o Aragu aia e rea liza um estud o sobre os Ca raj; em 1936,
Dina e C lau de Lvi-Strau ss passam um pe r odo en tre os Bororo e , em
1938, acompa nh ad os por Vellard, realizam u ma visita a os nd ios do M ato
Grosso6.
O Journal de la Socit de s A m ricanistes acompan ha os passos do
jovem etn logo. Em 1935, Rivet p ub lica a segu inte n ota: M. Clau de Lvi-
Strau ss, professor na Faculdade de Letras, Cincias e Artes (sic ) de So
Paulo e sua m ulher foram e ncarreg ad os de m isso pelo Minis tr io de
Educao Nacional pa ra estuda rem de perto algumas tribos pouco ou mal
conhe cida s no Ma to Grosso. M. Lvi-Strauss ap resen tou ao conselho da
Universida de de So Paulo um proje to de fun da o de u m Inst ituto de
Antropologia Fsica e Cu ltural (Journal de la Societ d es A m ricanistes
XXVII:475-476). No momen to mesmo e m q ue esse comu nicado a pa rece
na s pg inas da pu blicao, o nome d e Lvi-Strauss pa ssa a constar na
relao de mem bros da Socied ad e d os American istas.
Em 1936, Lvi-Strauss publica o seu primeiro artigo no Journal:
C ontribution ltud e d e lOrg an isation Sociale d es Indien s Bororo
(Tomo XXVIII). Trata-se do p rime iro resu ltad o de sua s pe squ isas e ditad o
em um veculo de ren ome interna cional . Com e le , desloca-se da seo
Mlanges , onde eram d ivulgad as as sua s viag en s pelo Brasil, e passa ao
local nobre da pu blicao, ao lado de Soustelle e M traux.
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO86
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
9/29
No me smo ano e volume , Soustelle anu ncia a s novas pe squisas no
Brasil:
N o come o do ms de ma ro voltam a So Paulo M. e Mme . Lvi-Strauss,
que es t iveram entre os Kadu veo e os Bororo . Eles encontraram a p r ime ira
popu lao em um es tado de degrad ao avanado . Den t re 150 Kadu veos
aproximad ame nte , apen as 20 descend em d e pa i e m e ndios . Entre tanto ,
sua cu ltura mate rial e instituies pa recem te r conservado um a ce rta origi-
na lida de . Totalmen te difere nte a situa o dos Bororo, cuja cultura ma terial
e instituies se m an tiveram praticame nte inta ctas. M. e M me . Lvi-Strauss
t iveram a sorte de ass ist ir a um nm ero conside rvel de cer imnias quepud eram filma r e centraram se us estudos na organ izao cln ica e na s clas-
ses ma trimoniais (Journal de la Socit des A m ricanistes XXVIII:262).
Nos an os segu intes, Dina Lvi-Strau ss pub lica du as n otas informa ti-
vas: a p rime ira sobre a Socieda de de Etnografia e Folclore do Depa rta-
me nto de Cu ltura de So Paulo (Tomo XXIX) e a outra sobre a m isso
Vellard -Lvi-Strau ss, d e 1938 e 1939 (Tomo XXX).
Como se faz um am erican ista, pode ria ser o subttulo dos trs par -gra fos ante riores. A expe rin cia d e cam po cond io sine q ua non para
a forma o do e spe cialista o q ue pe rmite a Lvi-Strau ss ter acesso
ao gru po. Feita a iniciao, torna-se u m igua l, pa ssando a integrar um a
nova red e: a Socied ade , oJournal, os congressos. Esse circuito esp ecfico
re ne arq ue logos, folcloristas, ge grafos, viajan tes e , sobretud o, etnlo-
gos sob u ma m esma lege nda . O qu e os unifica , fund ame nta lmente , o
estu do da (s) Am rica(s), de sua p aisag em , histria, tipos hu ma nos, orga -
nizaes sociais. Com e sse ob jetivo, tais p esqu isad ores circulam por d ife-
rentes p ases, cruzando fronteiras, desen han do recortes: o mapa qu e tm
dian te de si o da Amrica. Os contornos na cionais, ne sse caso, n o esto
em destaqu e. Por isso, antes de q ualquer outra a lcunh a q ue possam ter
receb ido no futuro mexicanistas, brasilianistas etc. so, acima d e
tudo, am erican istas. As palavras de Viveiros de Ca stro so e xemp lares:
importante observar que americanis ta no um gnero de que
brasilianista (por e xemp lo) seria um a esp cie. Nossas e sp cies so a nte s
coisas como an dinista, me soam erican ista, esp ecialista n os nd ios do
sud oeste n orte-am ericano, am azon ista e varied ad es informais do tipo
tu pinlog o, jivarlogo ou esquimolog ista (1990:3).
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 87
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
10/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO88
No Brasil
Lvi-Strauss che ga ao Brasil em 1935, ap s ter tido o seu n ome a provad opor Georges Duma s7, de q uem havia s ido a luno e m Saint-Anne . A via-
gem fe i ta na compa nhia de Jea n Ma ug , Fe rna nd Braud e l , P ie r re
Monbeig e Dina, etnloga e esposa do jovem filsofo 8. Claude Lvi-
Strauss dever ia ocupar a cadeira de sociologia da seo de c incias
sociais da Facu ldad e d e Filosofia, Cin cias e Letras, ond e se e ncontra va,
de sde 1934, Pau l Arbousse -Bastide.
Recep ciona dos por J lio de M esq uita no cais em San tos, os profes-
sores foram levad os provisoriam en te p ara o Hotel Termidor, no cen tro deSo Paulo. Mas como gan havam bem , no dem oraram a encontrar um
local fixo de moradia . Lvi-Strau ss a lugou uma casa n a rua Cincina to
Braga , a p oucos qua rteires da a venida Paulista; Pau l Arbousse morou
primeiro na Av. Brasil e d ep ois no Brooklin; Mau g m an teve-se h ospe-
da do n o Hotel Esplana da, p erto do Tea tro Municipa l (Scha de n 1990).
Nos de poimen tos dos ex-alunos da Faculdad e d e Filosofia da USP,
Lvi-Strau ss no a pa rece como p rofessor destacado, digno d e re fern cia
especia l. Em g era l , fa la-se d ele somente q uan do o seu nome m encio-nad o, ao contrrio de J ean Ma ug ou d e Roger Bastide, sempre lembra-
dos qua ndo o tem a a h istria da universidad e e a m isso francesa (Mel-
lo e Souza 1988). De qu alque r modo, as recorda es so p ositivas: Segu ir
seus cursos era e vide ntem en te a lgum a coisa de espe cia l . A exposio
n o era viva ma s as id ias, semp re claras. E era sobre tud o adm irvel a
sua ma ne ira d e fazer traba lhar e ler , com exp osies, semin rios e dis-
cusses. No era u m home m conhecido, mas ha via mu ita ge nte e m seus
cursos (Schad en apudLindon 1988). As au las eram da da s em franc s, j
que Lvi-Strauss no cheg ou a falar portugu s (diz Schad en qu e lhe ensi-
na va portug u s, em troca d e lies de francs). Alm da s discusses em
sala de au la, o p rofessor, segu nd o seus alunos, convidava-os pe riodica-
mente pa ra um ch em sua casa.
As recordaes de Dcio de Almeida Prad o sublinh am a p reocup a-
o do professor com a obse rvao dire ta e com a pe squisa de camp o,
pa ra as qu ais orien tava os alunos:
Um d os prime iros traba lhos que n os deu foi proceder a um a a nlise social
da cidad e de So Paulo por volta de 1820, tal como ap are ce nos docume ntos
da poca, onde e le iden tificou qu ais eram e onde os encontraramos. Para o
curso que fez sobre as leis do pa ren tesco nas socied ad es primitivas, em vez
de ped ir d igresses , d is tr ibuiu e ntre os a lunos , como e xame, u ma sr ie d e
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
11/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 89
rvores g ene algicas individua lizada s. Fornecia a s reg ras sociais do g rupo e
indag ava com que m se casaria de terminad a pe ssoa (Prad o 1997).
Alm d isso, indica Dcio, as au las do me stre fran cs primava m p ela
fluncia , pe lo encad ea men to segu ro do rac iocnio: Se a lgum a coisa
apren damos era raciocinar. No nos pe rdamos nem mesmo na s seq n-
cias long as, porque e las se a presen tavam b em a r t iculadas, vamos as
imbricaes (Prado 1997).
Aind a q ue ocupasse a cade ira de sociologia , os temas de curso de
Lvi-Strau ss variavam segu nd o um am plo leq ue : de sociologia p rimitiva
a ntropologia urba na , passand o por ling stica, etnoling stica e a ntro-pologia fsica 9. Essa variao, en tretan to, n o ultrapa ssava os limites da
an tropologia. Um programa do a no d e 1935 mostra q ue a sociologia pe la
qu al Lvi-Strauss se intere ssava se relaciona va diretam en te com o estu-
do d os povos primitivos. Trata va-se, segu nd o registro dos an u rios da
Faculdade , de um curso temtico sobre a s formas elemen tares da vida
social, com o objetivo de ap resen tar noes sum rias sobre a localizao
e os cara cteres d os principa is grup os sociais invocados e m sociologia
compa rad a . Os principais tpicos ab orda dos eram : sociologia dom sti-ca (o casa me nto, a proibio do incesto, o pa ren tesco, a poliga mia, o cl,
o ma triarca do); a sociologia e conmica (as forma s primitivas d e socieda -
de , o comu nismo primitivo); sociologia poltica (as formas primitivas de
gove rno e de justia); sociologia religiosa (o totemismo); e u m tp ico final
discutind o o estud o compa rativo dos fenme nos sociais. Como b iblio-
gra fia b sica, qu atro clssicos:Les Form es lm en taire d e la Vie Reli-
g ieuse , de Durkhe im; Prim itive Society , de Lowie;Ltat A ctu e l du Pro-
b lm e To tm ique , de Van Gen ne p; e Histoire du M arriage , de Waster-
marck (A nu rio da FFCL-USP 1936: 214,216)10 .
O q ue chama a a teno nos programas d e curso dados por Lvi-
Strau ss no Brasil q ue eles contm, de m odo concentrad o, os temas sobre
os qua is ele ir trab alha r ao long o de sua obra: pare nte sco, totemismo,
mitos . No pe r odo de ap rend izad o de um ofcio, e le d esen ha , de cer to
modo, um un iverso de pre ocupaes ter icas e tem ticas do qu al no
ma is se afastar.
Alm dos cursos regu lares na Universidade , os professores france ses
eram obr iga dos a re a l izar conferncias per idicas , qu e e m g era l ocor-
riam na Faculdad e d e Direito. Em 1935, temos o reg istro de cinco pa les-
tras de Lvi-Strau ss, da s qu ais, infelizme nte , n o ficara m sen o os ttu-
los: Progre sso e retrocesso, A crise do evolucionismo, A h iptese
evolucionis ta , Existem cul turas sup er iores? e A cam inh o de um a
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
12/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO90
nova filosofia do p rogre sso. De 1938, ma is um ttulo: O s prob lema s cria-
dos pe lo estad o atua l da etn ografia sul-ame ricana . Em 1937, as fontes
fa lam al ternada men te de u m curso de e xtenso universitr ia e d e um aconfern cia sobre u m me smo tema : O s contos de Perrault e sua sign ifi-
cao sociolgica. N este curso (ou confer ncia), Lvi-Strau ss d iscute o
sign ificad o dos contos, mostrand o como esto re pletos de prece itos rela-
cionad os a povos primitivos, algun s j d esap arecidos. Com o objetivo de
comparar m itos e contos, reflete sobre a na tureza d os mitos para os pri-
mitivos (A nu rio da FFCL-USP 1937-1938:72-73).
Segu ind o os rastros deixados p or Lvi-Strau ss duran te os trs an os
pa ssados no Brasil, possvel encontrar alm do p rograma de curso e dasconfern cias m en cionad as, alguns artigos pu blicados em revistas e jor-
na is esp ecializad os. Um d os primeiros foi editado n a Rev ista do A rqu ivo
Municipal , no an o de 1935, sob o t tulo: O Cu bismo e a Vida Cotidia-
na 11. Tal artigo pod e cau sar espa nto aos ma is desa visad os, ma s no d es-
toa, de m odo algum , da biografia e da produ o de Lvi-Strau ss. Bisneto
de m sico, filho e sobrinh o de pintores, Lvi-Strauss cresceu e m u m m eio
intima me nte liga do s artes. Este contato ser reforado pe la inte nsa con-
vivncia com os surrealistas du rante a g ue rra, em Nova Iorqu e, e conti-nu ar p elo resto de su a vida. Max Ernst, And r Breton e Patrick Walde -
be rg, como ele afirma e m v rias ocasies, torna ram-se relaes pe rma-
ne nte s. Se o inte resse pe las artes pode se r pinado em pa rte sign ificativa
da produo do a utor (em La Pen se Sauv age , nas Mithologyques , e m
La Voie d es M asque s , e m Le Re gard Eloign e e e m vrios outros trab a-
lhos), ele p assa cena principa l em p ub licao mais recen te, Regarder,
couter, Lire (1993). O artigo d e juven tud e n o tem como propsito a an -
lise da produo cubista, nem de seus i lustres representan tes; que r des-
tacar a impor tncia do movimento na construo de um novo olha r, de
um a n ova viso d e m un do. Mostra o au tor como o cubismo infiltrou-se
no cot idiano, na p ub lic ida de e n a a rqu ite tura m odern a (Lvi-Strau ss
1935a).
A esttica e a s artes foram objeto de a teno de mais de u m d os pro-
fessores franceses que passaram pelos cursos de f i losofia e cincias
sociais da USP na s d cada s de 30 e 40. Alm de Lvi-Strauss, lem brem os
de Jea n M aug e Roger Bas t ide , que a lm de te rem e scr ito sobre o
assun to, incorporaram-n o em vrios de seu s programa s de curso. Ma u-
g , mais afeito carpintaria teatral da s salas de aula, deixou poucos
textos no pap el, tend o marcad o os alun os, sobretud o, pe lo estilo inte rpre-
tativo e p or uma prosa rara (Aran tes 1994). Bastide, por sua ve z, n o ap e-
na s escreveu sobre sociologia da a rte, ma s aproximou-se d as ma nifesta-
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
13/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 91
es artsticas n acionais pop ulares e erud itas , como crtico atua nte
na s pg inas dos p eridicos locais, e tamb m como p esq uisad or do folclo-
re e da esttica afro-brasileira. Comparando os pronunciamentos e osescritos sobre a rte dos trs professores, Gilda de Me llo e Sou za (1990) assi-
nala qu e se Maug e Lvi-Strauss permane ceram europeus, apesar do
pe rodo brasileiro, Bastide ab rasileirou-se. Segu nd o a e x-alun a, enq ua nto
os dois prime iros falavam de pintura tend o como refern cia exclusiva a
Europa, Bastide de bruou-se sobre a realida de brasileira, em um esforo
de compree nso d e um pa s sem tradio cultura l for te . Nesse sent ido,
teria sido Bastide o n ico dos trs a e laborar uma e sttica pob re.
Ou tro artigo d e Lvi-Strauss, tamb m d e 1935, Em Prol de u m Ins-tituto de Antropologia Fsica e C ultural, pu blicado n a m esma Revista
do A rquivo M unicipal. Com o o prp rio ttulo ind ica, trata-se d a a pre sen -
tao d e u m projeto de criao de u m Instituto de An tropologia Fsica e
Cu ltura l que , segu nd o Lvi-Strau ss , de ver ia ser um lug ar reservad o
pesqu isa a ntropolgica d entro da universidad e, nos moldes dos grand es
institutos estran ge iros. As pesq uisas na s rea s de a ntropologia fsica e
cultural esta ltima de veria ser aind a ma is de sen volvida no Instituto,
porque mais recente , pen sada s de modo articulado, permitiriam a e la-bora o de u m G ran de Fich rio Antropolgico Americano. Feito isso,
o Instituto e stabe leceria, a pa rtir da classificao de cada rito, crena ou
tcnica , um grand e Atlas , no qua l map as do contine nte am erican o
mostrariam as zonas d e d istribu io e a s variaes de de nsidad e (Lvi-
Strauss 1935b:251-256)12.
Algu ma s breves obse rvaes pode riam se r feitas ao final da leitura
do projeto aprese nta do por Lvi-Strauss. Inicialmen te, nota-se qu e pe la
pr imeira vez e le toca n a q ues to rac ia l, ponto que ir d esenvolver n o
clebre Raa e H istria (1950), e q ue constitui um problema fun da men -
tal para o pen same nto social brasileiro do pe rodo, objeto privilegiad o
da s pesq uisas cien tficas da p oca. O curioso q ue o faa e nfatizand o o
estud o dos caracteres f s icos dos ne gros e dos me st ios: a me st iage m
oferecer ia uma possibi lida de n ica p ara o estud o das le is de he redi ta-
r ied ad e d o home m. Nesse contexto, cita , inclusive, a obra ad mirvel
de Roquette-Pinto.
Em segu nd o lug ar, de staca-se n o texto a idia da articulao ensino
e p esqu isa, da formao de pesqu isadores com e xperin cia p rtica e cur-
sos interd isciplina res. No seria exag erad o dizer que tal plano, precoce-
me nte e laborado, se realizou, de forma d istinta e vide ntem en te, anos mais
tarde, no Collge d e France, quan do da criao do Laboratoire dA nth ro-
pologie Sociale . Chama a a teno tamb m o interesse p elos estudos com-
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
14/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO92
pa rados: o Brasil deveria ser investiga do n o contexto ame ricano, j qu e
a Amrica em ge ral, e a Amrica do Sul em pa rticular forneceram a lgu -
ma s da s ma is i lustres civilizaes d a h istria, foram o ca dinh o ond e semisturaram algum as d as m ais imp or tantes correntes cul tura is (Lvi-
Strauss 1935b:256).
Do ano d e 1936, constam trs artigos de Lvi-Strauss: Con tribu io
pa ra o Estudo da Org an iza o Social Bororo, pub licado n a Rev ista do
A rqu ivo M un icipal ; Entre os Selvag en s Civilizados, que ap are ceu e m O
Estado d e S . Paulo e Os M ais Vastos Horizontes do M un do, integ rando
os A nu rios da Faculdade de Filosofia, Cin cias e Letras da USP . O ensa io
sobre os b ororo considerad o por Lvi-Strauss o nico texto relevan te d esua p roduo bra sileira, aind a qu e, segu nd o ele, estivesse ma is prximo
do jornalismo do qu e d a e tnologia. Foi graa s a esse trab alho, publicad o
no mesmo ano no Journal de la Socit de s A m ricanistes , segu nd o ele,
qu e su a p osterior ida pa ra os EUA foi ga ran tida (Eribon e Lvi-Strau ss
1990:36). Em 1937, a Rev ista do Arquivo M un icipal divulga a ltima cola-
borao de Lvi-Strau ss para a pu blicao ante s de su a p artida: um arti-
go irnico intitulado A Propsito da Civilizao C ha co-San tiag ue nse 13.
O texto re la ta um debate que teve inc io com uma resenha de Lvi-Strauss para o jornal O Estado de S. Paulo (11/4/ 1937) sobre o prime iro
volum e d a ob ra dos irmos Ducan e Emlio Wag ne r,A Civilizao Chaco-
Santiagu en se e suas Correlaes com as do Velho e do N ovo M un do .
H referncias a ou tros textos e confern cias d e Lvi-Strauss rea li-
zad os no Brasil, no Boletim da S ocied ade de Etnog rafia e Folclore : um a
comun icao de 1937 sobre Algum as bone cas karaj, a p artir de exem-
plares por ele recolhidos na reg io do Aragu aia, Gois; e u ma confern -
cia sobre A civilizaco m aterial dos ndios Kad iueu (sic ). No p arece
estranh o Lvi-Strauss ter pub licado a m aior pa rte de seu s artigos e pa les-
t ras da d cada de 30 na Revis ta do A rqu ivo M un icipal e n o Boletim da
S EF. Tan to a revista qu an to o boletim e ram rgos oficiais do Dep arta-
me nto de C ultura de S o Pau lo, dirigido por Mrio de Andra de e ntre 1935
e 1938. Foi M rio qu em atra iu o casal Lvi-Strau ss, Roge r Bastide e Pa ul
Arbousse-Bastide p ara os projetos culturais e cien tficos impleme nta dos
em su a g esto. Mas, den tre os estrange iros, parece ter s ido Dina a q ue
ma is de pe rto se e nvolveu com a SEF, ministrand o cursos e secreta rian do
a Socieda de en tre 1937 e 1938 (Rub ino 1995; Soare s 1983). Claud e Lvi-
Strauss fazia pa rte do conselho tcnico da Socied ad e e foi um dos seu s
scios fun da dores, ao lado d e Paul Arbousse-Bastide e Pierre Mon be ig.
Alis , a m un icipal ida de de So Paulo uma d as financiadoras de sua
exp ed io a o Brasil Ce ntra l, em 1937 e 193814.
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
15/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 93
A Sociedad e, como sabe mos, teve vida cur ta , ext inta junto com o
Depa r tamen to de Cultura p ela pol t ica do Estado N ovo, em 1938. En -
qu an to du rou, foi ela o principal vnculo de Lvi-Strau ss com o me io inte-lectual pau lista. Mesmo a ssim, sua pa rticipa o na instituio resumiu-se
a conferncias e textos, cabe nd o a Dina o trab alho de pe squisa, organ i-
zao e a ssessoria e tnolgica. Egon Schad en , por exemplo, qu ase n o se
lembra d e t-lo visto na s reun ies pe ridicas qu e se rea lizavam e m um a
sala lateral do Tea tro Mun icipal. Segu nd o ele, a pa rticipa o dos p rofes-
sores fran ceses n a Socieda de de Etnog rafia e Folclore foi tmida . A, foi
Dina a grand e atuan te.
O Lvi-Strauss cont inua atrs dos ndios
(Oneida Alvarenga, carta de 13/8/38)
Em So Pau lo, lem bra Lvi-Strauss e m Triste s Trp icos , podia-se fazer a
e tnografia d e d omingo, no com os ndios, como lhe ha viam prometi-
do, mas com alem es, jap onese s e neg ros. Entretan to, na p rime ira opor-
tunidad e, o jovem professor sa i ansiosamen te em b usca de a lgun s dose xemp lares indgen as sonh ad os. No velho Ford de Ren C ourtin, pro-
fessor de economia n a USP entre 1937 e 1938, e na compa nhia d e J ean
Mau g , chega a t as margen s do Aragua ia , em u ma caban a Kara j
(Lvi-Strauss 1957:119). Ma ug relata su a ve rso do ocorrido:
ramos jovens ap esar de tudo. Era na tural que e u aceitasse com alegria a
proposta qu e fez Lvi-Strauss para q ue e u o acompanh asse num a viage m
aos confins de Gois para ter contato com os ndios. Ren C ourtin d evia se
juntar a ns. Agre g em direito e professor na faculda de de Mon tpe llier ,
ele suce de u e m So Pau lo, Fran ois Perroux, e pare cia t o simp les e feliz, ao
contrrio de seu p red ece ssor, irascvel e distante . Ele t inh a um a p aixo: a
caa. Estava fascina do por Lvi-Strau ss. A idia de que os indge na s pud es-
sem obe decer a regras m atrimoniais, ma temtica ma is sutil, deixavam-no
sonha dor [.. .]. Lvi-Strauss logo come ou a trab alha r, sentad o sobre o me s-
mo solo que os indgenas, procurando se fazer entend er, lanand o pergu n-
tas, tomand o notas. Eu m e maravilhava vendo q ue ele podia d ecifrar gestos
dos quais Court in e e u n o podamos pega r seno o p itoresco (Ma ug
1982:118-121, tradu o minh a).
O n orte do Para n foi pa lco da s primeiras incurses d e Lvi-Strau ss,
acompanha ndo com Monbe ig a expanso da s zonas p ione iras . Nessas
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
16/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO94
terras, finalmen te, teve o seu primeiro conta to com os nd ios, s marg en s
do r io Tiba gi. Porm, para de cepo d o etnlogo, os nd ios Tiba gi n o
era m n em verd ad eiros nd ios, ne m selvag en s (Lvi-Strau ss 1957:160-161). Depois de sse dbut , estava n osso etngrafo prepa rado pa ra aven tu-
ras mais ousadas. Estas ocorrem no f inal do primeiro ano escolar
(1935/1936), qua nd o ele e Dina visitam os Kad iveu da fronteira pa ragu aia
e os Bororo, no M ato G rosso Cen tral. Tal viag em valeu ao casa l Lvi-
Strauss sua primeira exp osio em Paris, nas frias e ntre 1936 e 1937, na
Ga leria Wilden stein. A mostra do ma terial recolhido no Brasil foi fun da -
men tal para a en trada de Lvi-Strau ss no meio etnolgico francs, como
ele faz qu esto de afirmar: Eu precisava fazer minha s provas de etnolo-gia , porqu e n o t inh a formao a lguma . Graas exp ed io de 1936,
consegu i crditos do Museu do Home m e da Pesqu isa Cien tfica, ou d o
qu e a cabaria chama nd o-se assim. Com esse d inheiro, organ izei a expe-
dio n am biqu ara (Eribon e Lvi-Strauss 1990:33-34)15.
A expedio a t os Namb ikwa ra fo i o rganizada duran te o an o de
1937, e re alizad a e m 1938. Com fina nciame nto fran cs e b rasileiro, a
id ia era p assar um an o no camp o. De fa to, a exped io inic iou-se em
ma io de 1938, termina nd o, toda via, em n ovemb ro do mesmo an o. Delafizeram pa rte, alm d o casal Lvi-Strauss, o md ico e e tnlogo franc s
Je an Vellard e o an troplogo b rasile iro Luis de Ca stro Far ia , j qu e as
ordens oficiais eram d e q ue de veria h aver p elo menos um brasileiro em
toda e qu alqu er misso estrang eira no Brasil. A verso de C astro Faria
sublinh a os problemas q ue a m isso Vellard/ Lvi-Strau ss enfrentou com
os rgos p b licos no Brasil, j qu e Lvi-Strau ss contou com o pa trocnio
de Rivet, ligad o ao Partido Socialista fran cs, e q ue se torna ra persona
non grata no Brasil por conta d e rum ores de q ue teria d ifama do o pa s na
Fran a (Faria 1984:229)16 . Qua nd o foi formalizado o p ed ido de au toriza-
o, novos problema s surgiram, lem bra C astro Faria:
N enh uma expe dio estrang eira podia percorrer o Brasil sem autorizao
do C onselho d e Fiscalizao d as Expe dies Artsticas e Cien tficas, criad o
de sde 1933 (de cretos nm eros 22.698, de 11 de m aio, e 23.311, de 31 de ou tu-
bro). Heloisa Alber to Torres , me mb ro destacad o do Con selho e am iga d e
am bos [de Lvi-Strauss e de Rivet] , en frentou e venceu as res is tn cias ,
amp liadas pelo fato de que o outro mem bro francs da exped io era igual-
men te vtima de rumores, com alega es de q ue havia recebido facilidades
do governo paragu aio para l realizar exped ies de estudo e pub licara u m
relatrio de viage m com informa es desa irosas sobre o pas. A presena d e
um me mbro b rasileiro na expe dio tornou-se indispensve l (1984:230).
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
17/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 95
O itine rrio da m isso (Serra dos Pare cis, Ma to Grosso), deve ria
seg uir os postos telegrficos da linh a Rond on. Dina Lvi-Strau ss resum e,
em ord em cronolgica, os trab alhos:
1) Prime iro contato prolong ad o com os nd ios Na mb ikwa ra, na reg io de
Utiar i t i ; 2) Vis i ta e permanncia numa a ldeia nambikwara na regio de
Ju ruena ; 3) Contatos diversos com fraes do m esmo gru po, entre Ju ruena e
Na mb ikwaras; 4) Na regio dos Nam bikwa ra, contato prolongad o com fra-
es do me smo grup o; 5) Na regio de Vilhen a, contato prolongad o com trs
subgrupos Na mbikwara ; 6 ) No comeo de ou tubro , a exped io chega a
Pime nta Buen o. Visita um grup o perten cente cultura Gua por, no classi-ficado d o ponto de vista ling stico e rep resen tad o por cerca de trinta ind iv-
du os; 7) Aps pesq uisas longa s e difceis, pe rma n ncia num a alde ia Tup i,
s ituad a a me io caminho en tre Pres idente H erme s e Pres idente Pen a. Este
grup o, mu ito pobre e cul tura lmente d ege ne rado, fo i en tre tanto obje to de
frutfera enqute ; 8) No final de novemb ro, a m isso, ten do cheg ado a Presi-
den te Pena , encontrou-se impossibilitad a de retomar a sua vida normal para
o sul, em razo da s chuvas torren ciais, do estad o sanitrio de seu s mem bros
etc. Ela de cidiu en to a sada p elo norte, em d ireo ao rio Mad eira, dep oispara o oeste e p ara a Bolvia (Journal de la Socit de s A m ricanistes, Tomo
XXX:384-386).
A misso Lvi-Strauss visitou ta mb m os Bororo e os ltimos re pre -
senta nte s dos Tup i-Kag ua hib do rio Macha do, considerad os desap areci-
dos, relata Lvi-Strauss e m Tristes Trpicos . A, fina lmen te, o etn logo
alcana o mome nto to espe rado. A viag em real cola-se pe la pr imeira
vez viagem sonha da, supreend endo o viajante q ue ao reencontrar seus
an tecessores fecha um ciclo: N o h pe rspectiva ma is exaltante p ara o
etngrafo que a d e ser o pr imeiro branco a pe netrar num a comunidade
ind gen a [.. .]. Eu revivia, pois, a exp erin cia dos a ntigos viajan tes [.. .]
(Lvi-Stra uss 1957:346).
De volta Frana
Lvi-Strauss p erma ne ce trs a nos n o Brasil como professor na Universi-
dad e de So Paulo. Esse p erodo fund amen tal para o d esenvolvimen to
de sua carreira futura. A pa rtir dessa expe rin cia, torna-se um ame rica-
nista: inicia-se n a p rtica e tnogrfica, expe o m aterial coletad o em mu -
seu s e ga lerias fran ceses, pub lica seu s primeiros textos na rea, inte gra a
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
18/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO96
relao dos am erican istas da Socit, enfim, retorna Frana re conheci-
do n o me io etn olgico como um p rofissional do ram o. Diz ele: Um a no
de pois da visita aos Bororo, toda s as condies pa ra faze r de m im umetngra fo estavam sat isfe i tas ; be no d e Lvy-Bruh l, de Ma uss e de
Rivet, retroativame nte conce dida ; exp osio de m inha s colees em u ma
ga leria do b airro de Sa int-Honor; confern cias e artigos (Lvi-Strauss
1957:261).
O Brasil rep resentou, portanto, um momen to de pa ssagem decisivo
na construo d e su a futura iden t ida de profiss ional . Se a ntes d e 1935,
Lvi-Strauss era u m p rofessor de filosofia no en sino secun d rio fran cs
com fortes vncu los com a p oltica, a p artir de 1938 tran sforma-se em umame ricanista com p esqu isas sobre nd ios brasileiros, deixando a militn -
cia p oltica d e lad o, ou m elhor, a m ilitncia p oltico-pa rtidria, pois dura n-
te toda a su a vida m an teve inten sa a t ivida de pol t ico-ad ministra t iva e
acad m ica. Foi conselheiro cultural jun to em ba ixad a fran cesa n os EUA,
en tre 1946 e 1948; ainda na Amrica d o Norte, fun da com outros coleg as
a cole Libre de s Haute s tude s; manteve-se l igad o UNESCO d urante
algum tempo; de volta a Par is dep ois da gu erra , torna -se subdire tor do
M use d e l Hom m e ; nos an os 60, cria o Laboratoire dA nth ropologie S o-ciale no Collge de France e a revista LHomme .
N o ape nas a carreira, mas tamb m a obra d e Lvi-Strauss deve-
dora d a e xperincia b rasileira. A primeira fase d e su a p roduo a pia-se
em ma tria-prima obtida n o Brasil, sobretu do o a rtigo sobre os Bororo e a
tese sobre os Nam bikwara, pu blicada em 1948,La Vie Fam iliale et Socia-
le de s Indiens N amb ikw ara. Seus traba lhos posteriores, ainda qu e re -
na m informaes etn ogrficas de v rias reg ies am erican as, foram tam -
b m b en ef ic iad os pela e tnograf ia b rasile ira , que fun ciona como uma
espcie de ponto de par t ida a p ar t ir do qu al a obra se proje ta . Poder a-
mos dizer qu e a obra esp ira lar de Lvi-Strau ss contm um movimen to
perma nen te qu e se tradu z na incorporao de n ovos objetos e que stes,
e e m u m re torno sistem tico a a ntigos resultados, ao comeo os Boro-
ro, os Nam bikw ara. Basta olharmos os resum os de seus cu rsos as paro-
les donne s ao longo d os an os (Lvi-Strau ss 1986). exatam en te n es-
se se ntido a afirma o d e Viveiros de Ca stro (1993:152):
A exper incia de Lvi-Strauss entre os Nambikwara decis iva para o
desen volvimen to da pr imeira p ar te d o l ivro [As es tru turas e lemen tares do
pare ntesco, SEP], que estabe lece o princpio de reciprocida de e a ele reme te
o casamen to bilateral. Os Na mb ikwara e os Tup i-Gu aran i j estavam n a ori-
ge m d as p rime iras reflexes do autor sobre o va lor sociolgico da a finida de
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
19/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 97
e n as SEP apa recem exem plificand o a forma mnima de troca m atrimonial, o
casamento avuncular.
Pensand o nas ressonncias de sua e stada no me io intelectual pau lis-
ta, no se pode afirmar qu e ten ha m sido fortes: alm d as j men cionad as
colab oraes em jorna is e revistas de So Pau lo, registra-se o seu en ga -
jame nto d iscreto na Socie dad e d e Etnog rafia e Folclore . Sua entrada n o
Brasil ocorreu , de fato, a p artir da d cada de 60, com o reexam e d e tpi-
cos como a organ izao d ua lista e ntre os povos do Brasil Cen tral, no inte-
r ior do p rojeto H arvard /C en tral Brazil (Ma ybu ry-Lew is 1979) e, an os
depois, com os estudos do parentesco amaznico (Viveiros de Castro1995).
O jovem agregem filosofia, de pe rfil pa rticular n o-fran cs, n o-
norm alista , jude u e militante socialista , ind icad o por Boug l, dur-
kh eimian o fervoroso, para vir ao Brasil como p rofessor. Em v rios mom en -
tos, Lvi-Strauss afirma q ue a escolha de um a pre nd iz de e tnologia ave s-
so trad io du rkhe imian a chocou-se de imed iato com as inten es dos
contratan tes pa ulistas, imersos na influ ncia comtean a e du rkheimiana,
e q ue de sejavam um professor de sociologia herd eiro de ssa tradio:
Fui pa ra o Brasil porqu e qu eria ser etn logo. Eu tinha sido conqu istad o pela
etnologia em rebe lio contra Durkheim, que n o era um home m de cam po,
ao passo que eu d escobria a e tnologia de cam po atravs dos ing leses e dos
ame ricanos. Eu estava portanto numa posio falsa. Ch ama ram-me para p er-
petua r a influncia francesa, por um lado, e a tradio Comte -Durkheim, por
outro. Eu e stava conquistado na que le momen to por uma etnologia de inspi-
rao an glo-saxnica . Is to me cr iou um a s r ie d e d ificuldad es (Eribon e
Lvi-Strauss 1990:31).
Embora de poimen tos de inte gran tes da m isso france sa, assim como
de e x-alun os da USP, tamb m indiqu em q ue boa p arte da s dificuldade s
de renovao do contrato de Lvi-Strau ss deveu -se a e sse descompa sso
de objetivos, outros apontam razes d iferentes para os desen tend imen tos
en tre o professor e a Universida de , como, por exem plo, o interesse p ri-
mordial de Lvi-Strauss p ela pe squ isa e o seu p assad o recente como mili-
tan te d e e squ erda (Ca rdoso 1987). De fato, p reciso relativizar a op osi-
o a Durkh eim e a escolha da etnologia como ato de rebe lio contra o
socilogo francs, tan tas veze s en fatizada pe lo prprio Lvi-Strau ss. As
afirmaes referem -se a um contexto esp ecfico em qu e o jovem filsofo
reclama va, de ntre outras coisas , da a usn cia d e t raba lho de camp o na
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
20/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO98
escola sociolgica fran cesa. Posteriormen te, como b em sab em os, Lvi-
Strau ss no cansar d e me nciona r o seu d bito intelectual em relao
produo durk heimiana e a d vida d a etnologia para com a obra do mes-tre fran cs (Lvi-Strau ss 1976).
Os problemas no e xistiam a pen as en tre ospatrons da USP e os pro-
fessores france ses, mas en tre os prprios mem bros da misso. Alm da
inevi tvel competio entre jovens em inc io de carre ira (Maug
1982:93-94; Eribon e Lvi-Strau ss 1990:32), a posio p rivileg iada de Pau l
Arbousse-Bast ide , qu e aspirava ser uma esp cie de che fe d o grupo,
criou problem as extras pa ra Lvi-Strauss, j qu e era m am bos professores
da me sma disciplina (Card oso 1987:189). Na s pa lavras de Lvi-Strau ss:Georges Duma s t inha empreg ado n a Univers idad e , desde o pr imei ro
an o, um jovem pare nte q ue e ra socilogo. Qu an do cheg ue i , es te qu is
colocar-me nu ma posio su bordinad a. N o fique i satisfeito, e como resis-
t isse , esforou-se p ara q ue me despe dissem e m n ome d a t radio com-
tean a, em qu e era e specialista , e q ue meu en sino traa (Eribon e Lvi-
Strau ss 1990:32). Com e sta a firma o, Lvi-Strauss su ge re q ue o arg u-
men to da exigncia uspiana d a f ide l idad e t radio Comte-Durkh eim
foi aciona do estrateg icam en te pa ra en cobrir outras razes; o que n o que rdizer, evidentem en te, que as afinidad es en tre certa elite intelectua l pau -
lista e a trad io du rkhe imian a n o fosse verda de ira...
Em Saudade s de So Paulo, Lvi-Strauss, ma is uma vez, faz re fer n-
c ia a os problem as en volvidos na n o renovao de seu contra to com a
USP. Nesse m omen to, re toma o a rgum en to de Roger Bast ide sobre a s
qu estes p olticas e nvolvida s no ep isdio:
Um colega francs , um p ouco mais velho que eu e qu e me antecedera u m
ano n a u niversidade , quis me colocar numa posio subordinada . Encontrou
um ouvido complacen te junto direo de O Estado de S. Paulo, qu e tinh a
ascendn c ia sobre a un ive rs idad e . Eu n o e ra o d urkhe imiano de es t ri ta
observncia que desejavam; e minhas ligaes com o M useu d o Homem me
de signava m como prximo de seu diretor, o dr. Paul Rivet, repu tad o de e xtre-
ma e sque rda. Essa razo poltica, que n o suspe itei enq ua nto estive no Bra-
sil, soube-a b em mais tarde por um testemunho d e m eu sucessor na Univer-
sida de , Roger Bastide [.. .]. O fato q ue qu an do ren un ciei a solicitar a re no-
vao de me u contrato para m e de dicar um a no a um a misso etnogrfica e
retorna r em seg uida Frana , nenh um e sforo foi feito para m e rete r (Lvi-
Strau ss 1996:9-10).
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
21/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 99
Qua isquer q ue tenha m s ido as razes verda de i ras , o fa to q ue
algum as da s dificuldade s apon tada s e o de sejo de Lvi-Strau ss de reto-
ma r a carreira u niversitr ia francesa , agora mu nido de r ico material depe squisa , concorreram pa ra qu e o contra to pad ro de t rs anos com a
USP no fosse ren ovad o. Assim, no come o de 1939, Lvi-Strau ss e Dina
de ixava m o Brasil.
O e xam e d o itine rrio de Lvi-Strauss a uxilia-nos a construir um a viso
ma is ma tizad a do q ue foi a misso france sa dos an os 30, na recm-criada
Universidade de So Paulo. Se, de fato, t ivemos a imp ortao d e v rios
de pa rtame ntos dos alem es e italian os nas cincias fsicas e mate mti-cas, aos francese s na s hu man ida de s e letras e, com os estrang eiros, as
primeiras geraes formadas p ela USP apren deram a estudar, no d eve-
mos acred itar que a pren de ram com todos, ne m da m esma forma.
Os professores fran ceses, jovens inician tes na docn cia e n a p esq ui-
sa (sobretudo os que vieram an tes da gu erra, como Jean Mau g , Clau-
de Lvi-Strau ss e Pierre Mon be ig), ou com a lguma expe rin cia un iversi-
tr ia , emb ora com obra e carre ira a inda por construir, como Fernan d
Braud el e Roger Bastide, tiveram pa pe l decisivo na formao intelectualde Antonio Cand ido, Gilda de Me llo e Souza, Dcio de Alme ida Prado,
Florestan Fe rnan de s, Lourival Gome s Ma chad o, Ruy C oelho, Maria Isau-
ra P. de Queiroz e de vrios outros (Pontes 1996). Mas no podemos
esqu ecer que as marcas por eles de ixada s possuam grad aes diferen-
ciada s, o que no p oderia ser de outro modo, at porque a p rpria m isso
francesa e ra, antes de mais nad a, heterogn ea. Os diferen tes professores
estabe leceram ne xos ab solutam en te distintos com o pas. Se Je an Mau-
g e Roger Bastide foram responsveis pela formao de nossa me lhor
intelectua lida de (Arante s 1994; Qu eiroz 1983), o mesm o no pod em os
dizer de Lvi-Strau ss, de Ferna nd Brau de l e de vrios outros.
As diferen tes disc ipl ina s reag iram de modos d is t intos p resen a
estrang eira. Se a influ ncia em a lguns casos foi de cisiva (Je an Ma g u
na filosofia, Roge r Bastide na sociologia e Pierre Mon be ig na ge ogra fia),
em outros foi bastante discreta. A cadeira d e a ntropologia ad qu iriu sota-
qu es distintos no mome nto de sua criao. A voz france sa de timb re etn o-
lgico, da da por Lvi-Strauss, encontrou p ouco eco pe rto de ou tras. As
maiores inf luncias na antropologia paul is ta naquele per odo eram:
Donald Pierson, Em lio Willem s, He rbe rt Baldu s.
Inst ituc ionalmen te , a an tropologia surge na Universida de de So
Paulo com a criao da cade ira d e Etnografia Brasileira e Lng ua Tup i
(1935) a cargo d e Plnio Ayrosa, extinta em 1962. A cad eira d e Antropo-
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
22/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO100
logia, por su a vez, criada em 1941, tend o como respon svel Emlio Wil-
lems, sub stitudo primeiro por Egon Scha de n, em 1949, e e ste por Jo o
Batista Borge s Pereira, em 1967 (Corra 1995a). Ca be ainda de stacar aimport ncia da Escola Livre d e Sociologia e Poltica n a forma o de an tro-
plogos no contexto pa ulista do p erodo. Fun da da em 1933 com o objeti-
vo de p rep ara r tcnicos, a nfase d a ELSP, ao contrrio da USP, era a p es-
qu isa . Com a chega da d e Donald Pierson em 1939 e a cr iao de u ma
seo de ps-gradua o em 1941, a escola a tra ir p ar te d os forman dos
da USP, como Floresta n Fe rna nd es, por e xemp lo (Limong i 1989; Ca rva-
lho 1987).
No parece exag erado a firmar qu e os primrdios da histria da Uni-versida de d e So Paulo e a p resen a dos mestres estran ge iros em So
Paulo na dcad a d e 30 reverberam a t hoje nas feies ad quiridas p elas
cin cias sociais em contexto pa ulista . A proemin ncia d a sociologia n a
USP, prime iro com Roge r Bastide e d ep ois com Florestan Ferna nd es,
ine g vel . Inspirada no mod elo durkh eimian o, do qua l a sociologia a
cin cia sntese, a e scola pa ulista de sociologia reun iu em torno d os es-
tud os sociolgicos, a cincia poltica e a a ntropologia. O ca rter h eg em -
nico do gru po d e Florestan d ificultou o de senvolvimento d a cin cia pol-t ica e mod elou a produ o an tropolgica da instituio, tan to do ponto
de vista terico-metodolgico, como tamb m no q ue diz respeito ao elen-
co temtico: estudos migratrios, a cidade de So Paulo, as relaes
raciais etc. (Arrud a 1995:167-168). O m esm o pa rece ter ocorrido com a
etn ologia, cujo florescime nto foi de certo modo obsta culizad o pela p re-
pon de rn cia da sociologia. Para doxa lmen te, a etnologia foi introdu zida
nos cursos da USP por aqu ele qu e se torna r ia o seu maior nome: Lvi-
Strauss.
Recebido em 4 de novembro de 1996
Reapresen tado em 5 de agosto de 1997
Aprovado em 24 de outubro de 1997
Fernand a Peixoto professora de Antropologia n a UNESP/Araraqu ara, cola-borad ora do CEBRAP e doutorand a em An tropologia Social na Universida dede So Paulo. autora de ar t igos sobre a re lao en tre pen sadores es tran-ge iros e as cin cias sociais brasileiras. E-mail: [email protected]
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
23/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 101
Notas
1 Destaco, dentre ou tras pu blicaes, a srie de en trevistas feitas p or DidierEribon, De Perto e d e Long e (1990)[1988], onde , em pe lo men os dois cap tulos,Lvi-Strauss fala de su a e stada no Brasil e Des Sy m boles et Leurs Doubles (1989),ed itad o por ocasio da exposio realizad a n o Muse de lHomm e, Les Amri-qu es de Claud e Lvi-Strau ss, quan do foram exp ostas vrias peas recolhidas noBrasil . Das pe squ isas realizada s, o projeto H istria da An tropologia no Brasil(1930-1960), coorden ad o por Mariza Corra , na Un icam p, sublinha a importn-cia d as an da nas d o antroplogo fran cs no Brasil e, sobretud o, a participa o de
Dina Lvi-Strauss na s instituies cientficas e cu lturais da p oca. O trab alho deGrup ioni (1995) acompa nha as e xped ies do casal Lvi-Strauss e a s colees d aresultantes. O projeto Histria da s Cin cias Sociais no Brasil, coorden ad o porSrgio Micel i, no Idesp/SP, do qu al se or ig inou minha disser tao d e mestrad o(Peixoto Massi 1991), ded icou-se em vrios mome ntos a p en sar as m arcas estran-ge iras na s cincias sociais bra sileira s. Cf. Miceli (1989; 1995) e Pe ixoto Ma ssi ePonte s (1992).
O filme d e M arcelo Tassara, O Brasil, os ndios e Finalm en te a US P (1985),por sua vez, teve p ape l destacado na re tomada de ssa histria. De l pa ra c, emdiversa s ocasies, no Brasil e na Fra na , foram exibidos, tam b m, os filme s feitos
pe lo casa l Lvi-Strauss no Brasil. Aind a n o cam po d os reg istros visua is, lemb ro osdois volum es d e fotografias, Sau dad es do Brasil (1994) e Saud ades de So Paulo(1996), por in term dio dos qua is poss vel acompan har os ngu los da lente d eLvi-Strau ss. A reed io de Tristes Trpicos (1996) ma is um d ad o express ivode sse interesse renovad o pe lo Brasil de Lvi-Strauss.
2 Se verd ade que a e tapa bras i le ira de Lvi-Strauss fo i, durante muitotemp o, de ixad a d e lado pe los intrp retes, n o possvel afirma r categoricam en teo esque cimen to de Lvi-Strauss em relao a ela; basta lem brarmos de Tristes Tr-
picos (1955), quand o o autor se deb rua ma is detidame nte sobre a sua expe rin -cia n a USP e sobre as viage ns rea lizada s em solo brasileiro.
3 importante lembrar que se com o grupo durkheimiano, a e tnologiaadq uire um novo es ta tu to ins t itucional e in te lec tual , pa ra le lam ente , uma outracorren te continu ava de senvolven do um traba lho distinto na Escola de A ntropolo-gia e na Sociedade de Etnografia. A linha de tom mais durkhe imiano e a que la afi-na da com e ssas duas instituies so antag nicas, no ape nas do pon to de vistaintelectual en qu an to a etnologia com os du rkhe imianos se ap roxima d a socio-logia, a an tropologia d e Louis Marin d efine -se como a ntropologia fsica , mas
tamb m do p onto de v is ta pol t ico: o grup o durk he imian o ident i fica-se com osvalores re pu blicanos p rogressistas e com o socialismo, enq ua nto essa outra cor-rente ad ere a os valores reacion rios da ordem social tradicional. Seg un do algun sintrpre tes, as sucessivas vitrias institucionais do gru po d urkh eimiano s forampossveis graa s a proximao com os socialistas, que era m u ma fora polt icaem ascen so (Leb ovics 1988).
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
24/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO102
4 A correpond n cia d e Deb orah Lifchi tz e de Denise Paulme com MichelLeiris, em 1935, um exem plo claro da dvida intelectual das p esqu isad oras comMauss e da impor tnc ia d e seus e ns inam entos pa ra a re soluo de p rob lema s
colocados pela pesquisa (Dupuis 1987).
5 Os conta tos de Paul Rivet (1876-1958) com a Amrica do Su l datam docomeo do sculo. O jovem m dico militar conhe ce o Equ ador e m 1901, qu and o chama do a integrar um a m isso francesa n o pas, l perman ecend o por cinco anos.Dessa expe rin cia resulta Ethn ograph ie An cienne d e lEqu ateur(1912), em c o-au toria com Vernea u. Esteve no Brasil diversas vezes e , den tre outras ativida de s,deu um curso na USP em 1952 sobre as origen s do homem ame ricano.
6
Edua rdo Viveiros de Ca stro, em a rtigo retoman do o seu percurso intelec-tual , esboa a p aisagem am ericanista : A antropologia se const i tu iu n o sculoXIX a pa rtir das rea lida de s scio-culturais da frica, Ocea nia, nd ia e Am rica d oNorte. A Amrica d o Sul esteve mar gem de ste movime nto sistemtico de inves-tiga o sobre a s formas n o-europ ias de vida social, caracterstico da mode rni-da de tard ia. O ndio sul-ame rican o foi o Selvage m d a filosofia dos scu los XVI aXVIII, n o o Primitivo da a ntrop ologia vitoriana [...]. Assim, o am erica nism o de i-xou p oucas m arcas no a cervo da disciplina (Viveiros de Ca stro 1990:24-25). Sobreo am erican ismo, cf., tamb m , Taylor (1984).
7 Ge orge s Dumas (1886-1946), filsofo, m dico e psiclogo fran cs, qu e mui-to contribuiu pa ra o de senvolvime nto da psicologia exp erimen tal na Fran a, foifigura-chave na organizao da vinda dos professores france ses para a Faculdad ede Filosofia, Cincias e Letras d a USP. Jlio de Me squita Filho enca rreg a TeodoroRam os, ma tem tico e professor da Escola Politcnica, de ir Europa contratar p ro-fessores. Seu itinerrio de viage m Itlia, onde so escolhidos principalmen te osma tem ticos, e Fran a, onde Dum as cujos prime iros conta tos com o Brasildatam d e 1907 que m e lege os nomes.
8
O p rimeiro grupo de professores france ses a d esemb arcar em solo pau listapa ra iniciar as atividade s da Facu ldade de Filosofia, Cin cias e Letras era com -posto pelo historiad or mile C oornae rt, pe lo gegra fo Pierre De ffontaine s e p elofilsofo Etinn e Borne, qu e a qui pe rman eceram ape nas u m a no, de 1934 a 1935.Para um a a nlise ma is detalhada dos diferente s perfis dos diversos grupos de p ro-fessores que vieram para a Universidad e de So Paulo e um a compara o com amisso fran cesa no Rio de J an eiro, cf. Peixoto Massi (1989) e Alme ida (1989).Sobre Dina Lvi-Strauss, persona ge m hoje d esconhe cida , cf. Corra (1995b).
9 Ainda Schad en que m lemb ra: Eram os mais diversos assuntos discuti-
dos por Lvi-Strauss em seu s cursos. Alm de teoria e m etod ologia sociolgica ean tropolgica, em qu e o professor enve reda va, inclusive, pelo arraial da an tropo-logia fsica, discorren do, por exem plo, sobre a s tcnicas da an tropometria. Ha viatamb m outros cursos, seme strais, ded icad os a cam pos ma is restritos, tais comosociologia primitiva, o fun ciona lismo d e Ma linow ski, o hipe rdifusionismo d e ElliotSmith, as teorias sobre totem ismo seg un do a a nlise crtica d e Van G en nep . Depois
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
25/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 103
de u ma e xcurso ao nor te do Paran, onde conhe ceu Londrina , tomou a c idad ecomo exemp lo pa ra an alisar, dura nte u m sem estre, problemas sociolgicos e an tro-polgicos de planejame nto urba no e urban ismo e m geral (Schaden 1984:254).
10 A presena de Lowie na b ibliografia mais um indicador de sua influn-cia sobre o jovem Lvi-Strauss. A leitura de Prim itive Society , segun do Lvi-Strauss teria sido um dos fatores responsveis pe la sua deciso em tornar-se etn-logo (Eribon e Lvi-Strauss 1990:27). J a inclus o de Durk he im, de ce rto modo,relativiza a afirma o feita em Tristes Trpicos , e em outras ocasies, de qu e teriaescolhido a etnologia contra o me stre francs. Voltarei a e ste ponto a diante .
11 Segund o a lgumas fon tes , pa rece te r hav ido um tex to imed ia tamente
anter ior, tambm sobre p in tura moderna, pub l icado no segun do nm ero da Re-vista Contem pornea, pu blicao q ue n o foi possvel localizar.
12 Sobre as a finida de s existen tes en tre o projeto de Lvi-Strau ss e a Socie-da de de Etn ografia e Folclore criad a por M rio de And rade no interior do Depa r-tame nto de Cu ltura, em 1937, cf. Rubino (1995). A autora mostra q ue um a d as d i-feren as existentes e ntre os projetos era qu e, ao contrrio de M rio, Lvi-Strauss,inspirado na a ntropologia boasiana , no prete nd ia sepa rar as pesquisas nas rea sfsica e cultura l.
13 Em 1942, j na Frana , e le envia ma is um trab alho para a Rev ista doA rqu ivo Mu nicipal, Gue rra e C omrcio en tre os nd ios da Am rica do Sul.
14 Em carta a Paulo Duarte, de 3/4/ 1938, Mrio de Andrad e faz refern ciaaos problemas ocasionad os pelas v iag ens d e Lvi-Strauss : No es tou fazend onad a a n o ser as caceteaes que tive com essas viag ens etn ogrficas be stas doLvi-Strauss e do Oto Leonard os. Estou pe rfeitame nte d e acordo qu e n o se faana da ne sta l t ima [ .. .. ]. J com o Lvi-Strau ss , agora tarde pa ra vol tar a t rs .Che ga a man h a qu i e conversa re i com e le e o a t ira re i nas suas costas e na s do
Srgio. Se a rranjem qu e preciso de sossego (Duarte 1971:157).
15 possvel acompan ha r essa p rimeira incurso ao cam po pe lo casal Lvi-Strauss atravs de qua tro filme s feitos por eles e financiados pe lo Depa rtamen to deCu ltura d e So Paulo. So filmes de oito minutos cada um, rodados em 16 mm, en trede zemb ro de 1935 e jane iro de 1936, onde se en contram reg istrados aspe ctos da vidacotidian a d as tribos visitad as no pe rodo. So eles: A vida d e u ma alde ia bororo,Cerimnias funerrias entre os bororo, Aldeia d e N alike I e Aldeia de N alike II.
16 Mostra Grup ioni que a verso de Ca stro Faria n o se confirma na leitura
dos docum en tos do Conselho de Fiscalizao d as Exped ies Artsticas e Cien tfi-cas. Estes indicam a s resistncias e xistentes no SPI quanto segu rana da Missoe a relut ncia de Lvi-Strauss em a ceitar um fiscal do Con selho. Na s palavras doautor: Mais que a possvel simpa tia socialista iden tificada aos me mbros d a expe-dio, era a p erspe ctiva de fiscalizao e controle de um a exp ed io estrang eira,o qu e te ria imp ed ido a concesso da licena (1995:76).
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
26/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO104
Referncias bibliogrficas
ALMEIDA, Ma ria He rmnia T. de . 1989.Dilem as da Institucionalizao dasCin cias Sociais no Rio de Ja ne iro.In: S. Miceli (org.), Histria dasCincias Sociais no Brasil (vol.1).So Paulo: Vrtice/Idesp/Finep. pp.188-216.
ARANTES, Paulo E. 1994. Um Departa-
m en to Francs de Ultram ar Estu-dos sobre a Formao da CulturaFilosfica Uspian a. Rio de Ja ne iro:Paz e Terra.
ARRUDA, Mar ia Arminda do N. 1995.A Sociologia no Brasil: FlorestanFerna nd es e a Escola Pa ul is ta .In: S. Miceli (org.), Histria dasCin cias Sociais no Brasil (vol. 2).So Paulo: Edi tora Sumar . pp .
107-232.CALTAGIRONE , Bene de t to . 1988. Le
Sjour en Ethiopie de la Miss ionDakar-Djibouti. Gradhiva, 5:3-12.
CARDOSO , Irene . 1987. Entre vista comRoger Bastide. Discurso, 16:181-197.
CARVALHO , N. Valad ares (org.). 1987. Leituras Sociolgicas. So Paulo:
Vrtice.CLASTRES , He lne . 1983. Primitivismoe Cinc ias do Homem no Scu loXVIII. Discurso, 13:187-208.
CLIFFORD , J a me s . 19 81 . On E th n o -graphic Surrealism. ComparativeS tu d ie s o f S oc ie t y a n d History,23(4):539-564.
___ .1988. Power and Dialogue inEthnogra ph y: Marce l Griaules Ini-
tiation. In: The Predicament o f Culture . Ca mb ridge : Ha rvard Uni-versity Press. pp . 55-91.
CORRA, Ma riza . 1995a. A Antropo-logia n o Brasil (1960-1980). In: S.Mice li (org.), Histria das Cin cias
Sociais no Brasil (vol. 2). So Paulo:Editora Suma r. pp . 25-106.
___ .1995b. A Natureza Imaginr iado G nero na Histria d a Antropo-logia. Cadernos Pagu , 5:109-130.
CUISINIER, J ea n e SEGALEN , Mart ine .1986. Ethnologie de la France .Paris: PUF.
DUARTE, Paulo. 1971.M rio de A ndra-de por Ele M esm o. So Paulo: Eda rt.DUCHET, Michle. 1977.Anthropologie
et H is toire aux Sicles de s Lum i-res. Paris: Flammarion.
DUPUIS, Annie. 1987. Corresponda ncede Deborah Lifchi tz e t DenisePaulme avec M iche l Leiris , Sang a,1935. Gradhiva, 3:44-58.
ERIBON , Didier e LVI-STRAUSS,Claude.
1990 [1988]. De Perto e de Long e.Rio de Ja ne iro: Nova Fronte ira.
FARIA, Luis de C astro. 1984. A Antro-pologia no Brasil: Depoimen to semComp romisso de um M ili tante emRecesso. Anurio Antropolgico82 . Bra slia: Tem po Brasileiro. pp .228-250.
GRUPIONI, Luis Donisete B. 1995. Co-
lees e Expe dies Vigiad as OCaso Nimuendaju e o Caso Lvi-Strauss no C onselho de Fiscaliza-o das Expedies Artsticas eCient f icas no Brasi l . Cebrap.Mimeo.
JAMIN , J ea n e PRICE, Sally. 1988. En-tretien a vec Michel Leiris. Gradhi-va, 4:28-56.
JAMIN , J ea n e COPANS, J . 1 99 4. Aux
Origine s d e lA nth ropologie Fran-aise Les M m oires de la Socitdes O bserva teurs de l Hom m e e nan VIII . Paris: Je an Michel Place .
KARADY, Victor. 1988. Durkhe im etles Dbu ts de lEthn ologie Univer-
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
27/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 105
sitaire. A c tes de la Recherche enScience s Sociales, 74:23-32.
LEBOVICS, Herman . 1988. Le Conser-vantisme e n Anth ropologie et la Finde la Troisime Rpu blique . Grad-hiva, 4:3-16.
LVI-STRAUSS, Claude. 1935a. O Cu -bismo e a Vida Cotidiana . Revista
do Arquivo Municipal, 2(18):241-245.___ . 1935b. Em Prol de u m Inst itu to
de Antropologia Fsica e Cu ltural. Revis ta do Arquivo Municipal,2(18):247-263.
___ . 1936. Contribuio pa ra o Estu-do da Org an izao Social Bororo.
Revis ta do Arquivo Municipal,3(27):8-79.
___ . 1937. A Propsito da C ivilizaoChaco-San t iaguense . Rev ista do
Arquivo Municipal, 4(42):5-21.___ . 1942. G uerra e C omrcio en tre
os nd ios da Amrica do Sul . Re-vis ta do Arquivo Mu nicipal, 8(87):131-146.
___ . 1957 [1955].Tristes Trpicos . SoPaulo: Anhembi.
___ . 1976 [1958]. O q ue a Etn ologiaDeve a Durkh eim. In : Antropolo-gia Estrutural II. Rio de Janeiro:Tem po Brasileiro. pp. 52-56.
___ . 1986 [1984]. Palavras Dadas. SoPaulo: Brasiliense.
___ .1989.Des Sy m boles et Leurs Dou-bles. Paris: Plon.
___ .1994. Saudades do Brasil. SoPaulo: Cia. das Letras.
___ .1996. Saudade s de So Paulo. SoPaulo: Cia. das Letras.
LIMONGI, Ferna nd o P. 1989. A EscolaLivre de Sociologia e Polt ica emSo Pau lo. In: S. Miceli (org.),His-tria das Cin cias Sociais no Brasil
(vol. 1). So Pau lo: Vrtice/ Idesp/Fine p. p p. 217-233.
LINDON , Ma thieu . 1988. M ission Tris-tes Tropiques . Libration , 1, se-tembro.
MAUG, J e a n . 1 98 2. Les Dents A ga-ces. Paris: Buch et-Ch astel.
MAYBURY-LEWIS, David (ed .). 1979.Di-
alectical Societies, the G and Boro-ro, Brazil. Cambridge/ London: Har-vard University Press.
MAZON , Brigitte . 1985. La Fonda tionRockfeller et les Scien ces Socialesen France, 1925-1940.Rev ue Fran-aise d e S ociologie, 26(2):311-341.
MELLO E SOUZA, Antonio C. de. 1988.Depoimento ao proje to His tr iadas Cincias Sociais no Brasil
(1930-1969). Idesp . Mime o.MELLO E SOUZA, Gilda d e. 1990. Exer-
ccios de Le itura. So Paulo: Dua sCidades.
MICELI, Srg io (org.). 1989.Histria dasCin cias Sociais no Brasil (vol. 1).So Paulo: Vrtice/Idesp/Finep.
___ .1995. Histria das Cincias So-ciais no Brasil (vol. 2). So Pa ulo:
Editora Suma r.MORAES , Elian e Robert. 1996. RetratoImp ossvel O C orpo Desfigu radono Modernismo Francs . Tese deDoutorad o, Depa rtame nto de Filo-sofia/USP.
PEIXOTO MASSI, Fe rn an da . 1989.Franceses e Norte-Americanosnas Cincias Sociais Brasileiras(1930-1960). In: S. Miceli (org.),
Histria das Cincias Sociais noBrasil (vol. 1). So Pa ulo: Vrtice /Ide sp/ Fine p. pp . 410-459.
___ .1991 . Estrangeiros no Brasil AMisso Francesa na Un ivers idadede So Paulo. Dissertao de Mes-
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
28/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO106
trado, Depa rtamen to de Antropolo-gia/Unicamp.
___ . 1992. O N ativo e o N arra t ivo
Os Trpicos de Lvi-Strauss e africa de Miche l Leiris. N ovos Es-tud os Cebrap , 33:187-198.
___ e PONTES, He loisa. 1992. Gu ia Bio-bib liogrfico d os Brasilianistas. SoPaulo: Sumar .
PONTES, He loisa . 1996. Dest inos Mis-tos: O G rup o Clima no Sistem a C ul-tura l Pau lista (1940-1968). Tese de
Doutorado, Depa rtame nto de Socio-logia/USP.PRADO , Dcio de Almeida. 1997. Sau-
da de s de Lvi-Strauss . In : Seres ,Coisas, Lugares . So Paulo: Cia.das Letras.
QUEIROZ , Mar ia Isaura P. de . 1983.Nosta lg ia do O utro e d o Alhures :A Ob ra Sociolgica d e Roger Basti-de . In : Roge r Bastide . So Pau lo:
tica. pp . 7-77.RIVET, Pau l . 1940. A Etno log ia e m
Frana. Revista do A rqu ivo Mu ni-cipal, 66(6):25-41.
RUBINO , Silvana . 1995. C lube de Pes-qu isad ores . A Socied ad e de Etno-graf ia e Folc lore e a Socied ade deSociologia . In : S. Mice li (org.),His-tria d as Cin cias Sociais no Brasil
(vol. 2). So Paulo: Editora Sumar.pp. 479-522.SCHADEN , Egon. 1984. Os Primeiros
Tempos da Antropologia em So Pau -lo.A nu rio A ntropolgico 82. Bra -slia: Tem po Brasileiro. pp. 251-258.
___ .1990. Depoimento concedido autora.
SOARES, Ll ia G. 1983. M rio de A n-drade e a Socied ade de Etnografia
e Folclore , no Departamen to de Cul-tura da Prefe itura M un icipal de SoPaulo, 1936-1939. Rio de Janeiro/So Paulo: Funarte/Instituto Nacio-na l do Folclore/Secreta ria Mu nici-pal da Cultura.
TAYLOR,Anne-Christine.1984.LAme-ricanisme Tropical, une FrontireFossile de lEthnologie? In: B.
Rupp-Eisenre ich (org.),Histoires d elA nth ropologie (XVI-XIX Sicles ).Paris: Klinck sieck. p p. 213-233.
VIVEIROS DE CASTRO , Eduardo . 1990 .O C am po na Selva Vis to da Pra ia(Fazendo Etnologia Indgena noMu seu Na ciona l, 1974-90). Trab a-lho aprese ntad o no XIV EncontroAnual da Anpocs, Caxa mbu , MG.
___ . 1993. Algu ns Aspe ctos da Afini-dade no Drav id iana to Amazn i -co. In: M. Carneiro da Cu nha e E.Viveiros de Ca stro (orgs.),Amaz-nia Etnologia e H istria Indge na .So Paulo: FAPESP/NHII-USP.
___ (org.). 1995. Antropologia do Pa-ren tesco. Estudos A m ernd ios. Riode Ja ne iro: Editora da UFRJ.
-
8/6/2019 Fernanda Peixoto_levi Strauss
29/29
LVI-STRAUSS NO BRASIL: A FORMAO DO ETN LOGO 107
Resumo
O artigo procura acomp an ha r o pe rodobrasileiro de Claude Lvi-Strauss(1935-1938), rastrea nd o sua s pu blica-es, au las e pesqu isas no mome nto emqu e e ra p rofessor de sociologia na Uni-versidade de So Paulo, com o objetivode compreend er o lugar ocupado pe loBrasil na sua trajetria. O inte resse
mostrar que ap esar de breve, e de mo-do ge ral silenciada , a eta pa b rasileirado autor foi fun dam en tal para os desdo-bram en tos de sua futura carreira comoetnlogo e am ericanista. O texto procu-ra tam b m a valiar o significad o da vin-da de Lvi-Strauss pa ra o Brasil no con-texto francs da poca, quando o a me-ricanismo era ainda terreno pouco ex-plorado, ao contrrio do a frican ismo,
vocao em voga no momento.
Abstract
This article an alyzes the Brazilian p eri-od of Claud e Lvi-Strauss (1935-1938),tracing his pub lications, classes, and re-search during the time in wh ich he w asa professor of sociology at th e Un iversi-dad e de So Paulo in order to better un-derstand the place Brazil occupied inhis intellectual itinerary. The purpose is
to show that a l though th is per iod wasbrief (an d larg ely silence d), it was cru-cial to subseq uen t developmen ts in theauthors career as ethnologist andAmericanist. The text also assesses thesignifican ce of Lvi-Strauss coming toBrazil in the French context of the time ,wh en Ame ricanism was a scarcely ex-plored terra in, contrary to Africanism, acalling th en in vogu e.