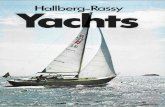Document
-
Upload
hermano-farias -
Category
Documents
-
view
226 -
download
5
Transcript of Document
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
1
ADMINISTRATIVO DIREITO
OAB 1 FASE DIREITO ADMINISTRATIVO APOSTILA/2013
CAPTULO 01 DIREITO
ADMINISTRATIVO
1.1. ORIGEM DO DIREITO ADMINISTRATIVO
O Direito Administrativo, como ramo autnomo do direito, comea a se organizar no final do sculo XVIII e incio do sculo XIX, com as revolues liberais desse perodo, particularmente a Revoluo Francesa. Antes, os estados europeus eram monarquias absolutas e, evidentemente, referidos estados no se submetiam s regras jurdicas, posto que, os monarcas concentravam em suas mos todos os poderes e, consequentemente, jamais se submeteriam a um regime jurdico-administrativo.
Aps a Revoluo Francesa, com o surgimento do constitucionalismo, do princpio da Legalidade e da Separao dos Poderes, comeam a surgir normas administrativas, que, mais tarde, se organizariam como ramo prprio do direito.
Inicialmente, no se pode falar em Direito Administrativo como um ramo prprio do direito, posto que, existiam leis que cuidavam da matria administrativa, porm estas leis eram esparsas, inexistindo uma sistematizao entre as mesmas. Eram estudadas de acordo com os princpios do Direito Civil.
O Direito Civil disciplinava as matrias, que atualmente so estudadas pelo Direito Administrativo. No Brasil, ainda hoje o Direito Civil, por exemplo, classifica bens pblicos, no art. 99, ratificando a origem civilista da matria.
Posteriormente, em funo das novas funes assumidas pelo Estado, aumentando a complexidade da sua estrutura organizacional, o Direito Civil no consegue mais disciplinar as novas relaes jurdico-administrativas, surgindo a necessidade da organizao de um novo ramo do Direito, que seria o Direito Administrativo.
No final do sculo XIX e incio do sculo XX, com o surgimento do Estado Social, que veio substituir o Estado Liberal, prevalente nos sculos XVIII e XIX, o Direito Administrativo ganha um impulso
extraordinrio, pela necessidade de conferir ao Estado poderes at ento inexistentes, tornando-se definitivamente um ramo prprio do direito, com regras sistematizadas, com princpios prprios e com uma hermenutica prpria.
1.2. OBJETO E CONCEITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
O Direito Administrativo disciplina as relaes entre os diversos entes e rgos estatais, assim como a relao destes com os particulares, sempre buscando a realizao do interesse pblico. Na relao com os particulares, o Estado sempre ter prerrogativas, posto que sempre busca a realizao do interesse pblico e, muitas vezes, para realiz-lo, ter que restringir a esfera individual dos particulares. Ex.: multa de trnsito aplicada em decorrncia do poder de polcia do Estado, fechamento de estabelecimentos comerciais que desobedecem as normas sanitrias, desapropriao, dentre outras.
Hely Lopes Meireles afirma que o Direito Administrativo Brasileiro sintetiza-se no conjunto harmnico de princpios jurdicos que regem os rgos, os agentes e as atividades pblicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.(Direito Administrativo Brasileiro, 28 ed., So Paulo: Editora Malheiros, 2003, p. 38)
Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que:Direito Administrativo o ramo do direito pblico que tem por objeto os rgos, agentes e pessoas jurdicas administrativas que integram a Administrao Pblica, a atividade jurdica no contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecuo de seus fins, de natureza pblica. (Direito Administrativo, 23 ed, So Paulo: Editora Atlas, 2010, p. 47).
Jos dos Santos Carvalho Filho afirma que o Direito Administrativo o conjunto de normas e princpios que, visando sempre ao interesse pblico, regem as relaes jurdicas entre as pessoas e rgos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. (Manual de Direito Administrativo, 23 ed., Rio de Janeiro: Lmen Jris Editora, 2010, p. 09).
DEMOCRTICOS NO-DEMOCRTICOS
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
2
ADMINISTRATIVO DIREITO
Celso Antnio Bandeira de Mello define o Direito Administrativo como o ramo do direito pblico que disciplina a funo administrativa e os rgos que a exercem. (Curso de Direito Administrativo, 27 ed., So Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 37).
Pode-se conceituar o Direito Administrativo como o ramo do direito pblico que disciplina o conjunto de princpios e regras jurdicas, visando a realizao do interesse pblico, aplicveis s relaes entre os diversos rgos e entes estatais com os particulares e a coletividade em geral.
1.3. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
A Constituio Federal apresenta-se como a fonte primordial do Direito Administrativo, porque nela esto disciplinadas as principais regras e princpios que estruturam e disciplinam o Estado. A Lei aparece como uma das principais fontes, posto que no Direito Administrativo o Princpio da Legalidade tem uma presena muito forte, na medida em que o agente pblico s pode fazer aquilo que a lei previamente lhe autoriza que o faa.
Existem inmeras leis administrativas relevantes, tais como: Lei n. 8666/93 que estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos administrativos pertinentes a obras, servios, inclusive de publicidade, compras, alienaes e locaes no mbito dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios; Lei 10520/02 que regulamenta o Prego como modalidade licitatria; Lei 8987/95 que disciplina de forma geral as concesses e permisses de servios pblicos, Lei 9784/99 que regulamenta o processo administrativo no mbito federal; Lei n. 8112/90 que regulamenta os servidores pblicos federais estatutrios, dentre outras leis, inclusive estaduais e municipais.
A doutrina, a jurisprudncia e os costumes dirios so outras fontes do Direito Administrativo na aplicao e interpretao dos diversos atos praticados pelo Estado, exercendo a funo administrativa.
1.4. A EXPRESSO ADMINISTRAO PBLICA
A expresso Administrao Pblica tem dois sentidos bsicos: um, subjetivo, formal ou orgnico e o outro, material, objetivo ou funcional.
Na acepo subjetiva, compreende todos os rgos e entes que integram a Administrao Pblica, ou seja, corresponde a toda a estrutura administrativa do estado, englobando autarquias, fundaes, empresas pblicas, sociedades de economia mista e consrcios pblicos, alm dos diversos rgos que integram o Estado. Na acepo objetiva compreende a prpria atividade administrativa, ou seja, a prpria funo administrativa (uma das funes estatais, ao lado da funo legislativa e judicial), compreendendo a prtica dos atos administrativos.
1.5. FEDERAO
A Teoria Geral do Estado costuma classificar o Estado de diversas formas. Uma das classificaes (forma de Estado) subdivide o Estado em Estados Unitrios ou Federativos, difereciando-se basicamente pela centralizao ou no do poder estatal. No Estado Federativo, o poder no est centralizado numa nica instncia, mas, sim, em vrias esferas de poder. No Brasil, integram a Federao a Unio Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios (art. 18 da Constituio Federal). No Estado Unitrio, o poder est centralizado numa nica instncia de governo. Os Estados que tm uma grande dimenso territorial geralmente so estados federativos.
Os entes integrantes da Federao possuem eleies prprias, competncia administrativa prpria para a prestao de servios pblicos, autonomia administrativa e competncia tributria prpria, dentre outras caractersticas, o que demonstra a autonomia de tais entes.
Deve-se destacar a autonomia federativa de tais entes polticos, ressaltando-se a existncia de organizaes administrativas distintas. Os estados do Cear, Acre e So Paulo, por exemplo, no tero a mesma organizao administrativa, posto que se tratam de estados federativos com aspectos econmicos, populacionais, culturais e sociais totalmente distintos.
Sendo assim, em funo de ser o Brasil uma Federao, no se pode falar em uma nica Administrao Pblica, mas, sim em vrias, posto que cada ente que integra a Federao brasileira, em funo de suas especificidades, ter uma organizao administrativa prpria. evidente que teremos algumas semelhanas entre as estruturas administrativas internas destes entes federativos, at
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
3
ADMINISTRATIVO DIREITO
pelo fato de originarem do texto constitucional. No entanto, haver muitas diferenas entre tais organizaes em funo das diferenas polticas, geogrficas, econmicas, populacionais, culturais e sociais.
1.6. SEPARAO DOS PODERES
A Separao dos Poderes, prevista expressamente no art. 2 da Constituio Federal, representa uma das maiores contribuies da Revoluo Francesa no final do sculo XVIII. Implica na limitao dos poderes estatais, entregando-se a rgos distintos as trs principais funes estatais de administrar, julgar e legislar. O gnio poltico francs de Montesquieu sistematizou esta teoria.
Esta separao absoluta, que prevaleceu inicialmente, no existe mais, posto que, atualmente, fala-se mais em separao de funes, entregando-se a rgos diferentes funes distintas. No entanto, estes mesmos rgos, alm das funes que lhes so prprias (funes tpicas), exercem funes de outros rgos (funes atpicas), ou seja, o Poder Judicirio, essencialmente julga, mas tambm exerce funes de outros poderes, quando expressamente autorizado pelo texto constitucional.
Prevista no art. 2 da Constituio Federal Brasileira de 1988 e elencada como clusula ptrea em seu art. 60, 4 , a Separao de Poderes, atualmente, no mais vista como uma separao absoluta. Quando se refere ao Poder Judicirio, por exemplo, no significa que o Poder Judicirio s julgue. A sua funo principal julgar, aplicando a Constituio e a lei ao caso concreto, porm, ele tambm tem algumas funes legislativas, como o envio do projeto de lei, referente ao Estatuto da Magistratura, ao Congresso Nacional, de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, bem como algumas funes administrativas, como a administrao dos seus prprios servidores. Assim tambm ocorre em relao ao Poder Legislativo, cuja funo principal legislar, porm, excepcionalmente ele julga (Ex.: Julgamento do ex-presidente Collor por crime de responsabilidade pelo Senado Federal) e tambm administra suas prprias Casas.
Desta forma o Direito Administrativo estuda tambm os atos administrativos praticados pelo Poder Judicirio e Legislativo, alm da atividade do Poder Executivo, essencialmente administrativa. Em
concluso, pode-se afirmar que a realizao de atos administrativos no restrita ao Poder Executivo, posto que os outros dois Poderes tambm exercem funo administrativa
Desta forma, a funo administrativa no exclusiva do Poder Executivo. Os outros poderes (Judicirio e Legislativo) tambm exercem funo administrativa. Quando um Tribunal de Justia promove um juiz de uma comarca para outra, pratica ato administrativo, e, no, funo jurisdicional. Quando a Cmara dos Deputados realiza uma licitao pratica inmeros atos administrativos.
Sendo assim, no se deve restringir a funo administrativa apenas ao Poder Executivo, posto que os Poderes Legislativo e Judicirio tambm exercem funo administrativa de forma atpica. A outorga desta autonomia administrativa a estes Poderes (Judicirio e Legislativo) assegura uma independncia maior dos mesmos na hora de exercerem a funo tpica de julgar e legislar.
Anotaes
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
4
ADMINISTRATIVO DIREITO
CAPTULO 02 PRINCPIOS DA
ADMINISTRAO PBLICA
2.1. ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL
As modernas Constituies dos pases ocidentais, principalmente aps a Segunda Guerra Mundial, perodo em que a legalidade estrita serviu de esteio a um dos piores perodos da histria do homem ocidental, em que inmeros absurdos foram praticados sob o argumento de cumprimento lei, passaram a consagrar a existncia de direitos que seriam fundamentais pessoa humana, introduzindo-os em seus textos. Afasta-se assim de um apego formal e cego lei, para a consagrao de uma pauta mnima de direitos fundamentais, que no podem jamais ser afastados, sob a alegativa de obedincia lei, posto que, estas que devem obedincia queles. Os direitos fundamentais que condicionam todo o ordenamento jurdico.
corrente hoje na moderna teoria do Direito Constitucional a distino entre normas que so regras e normas que so princpios, distino esta brilhantemente realizada por Ronald Dworkin e Robert Alexy. Desta forma, os princpios jurdicos foram normatizados, sendo uma das espcies de norma, ao lado das regras, que antes eram confundidas com o prprio conceito de norma. Hodiernamente, nada mais so do que uma de suas espcies.
Os modernos textos constitucionais, de forma crescente, consagram uma grande quantidade de princpios em seus textos, positivando-os, princpios estes consagradores de direitos fundamentais. Assim nos ensina Paulo Bonavides1, ao comentar a evoluo histrica da juridicidade dos princpios: A terceira fase, enfim, a do ps-positivismo, que corresponde aos grandes momentos constituintes das ltimas dcadas deste sculo. As novas Constituies promulgadas acentuam a hegemonia axiolgica dos princpios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifcio jurdico dos novos sistemas constitucionais.
Referidos princpios previstos no texto constitucional, sendo a nossa Constituio um exemplo da consagrao de tais princpios, servem de
1 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 8 ed., So Paulo : Malheiros, p. 237
fundamento a todo o ordenamento jurdico, prevalecendo, em caso de confronto, sobre as regras.
importante ressaltar a distino entre as espcies de normas (princpios e regras), para melhor entender a sua natureza e, consequentemente, dar-lhes a melhor e mais efetiva aplicao, diante das respectivas situaes fticas. Enquanto as regras so dotadas de um carter bem fechado, com um grande grau de especificidade, os princpios so dotados de um alto grau de generalidade, falando a doutrina em normas de tipo fechado (regras) e normas de tipos abertos (princpios). Esclarecendo tal diferenciao, assinala o prof. Willis Santiago Guerra Filho2 que; uma das caractersticas dos princpios jurdicos que melhor os distinguem das normas que so regras sua maior abstrao, na medida em que no se reportam, ainda que hipoteticamente, a nenhuma espcie de situao ftica, que d suporte incidncia de norma jurdica. A ordem jurdica, ento, enquanto conjunto de regras e princpios, pode continuar a ser concebida, la KELSEN, como formada por normas que se situam em distintos patamares, conforme o seu maior ou menor grau de abstrao ou concreo, em um ordenamento jurdico de estrutura escalonada (Stufenbau). No patamar mais inferior, com o maior grau de concreo, estariam aquelas normas ditas individuais, como a sentena, que incidem sobre situao jurdica determinada, qual se reporta a deciso judicial. O grau de abstrao vai ento crescendo at o ponto em que no se tem mais regras, e sim, princpios, dentre os quais, contudo, se pode distinguir aqueles que se situam em diferentes nveis de abstrao. Em suma, pode-se diferenciar tais espcies, pelo diferente grau de abstrao, maior, nos princpios, e menor, nas regras.
A nossa Constituio traz a previso de inmeros princpios jurdicos, que em muitas ocasies, colidem com outros princpios constitucionais. Em outras ocasies, h a coliso de duas regras, ou ainda, a coliso entre uma regra e um princpio. A soluo para referidas situaes de conflito permite uma melhor diferenciao das normas, em relao aos princpios.
Quando uma regra colide com um princpio, inquestionvel, como afirmado anteriormente, que este prevalece sobre aquela, posto que as regras encontram seus fundamentos nos princpios, que
2 GUERRA FILHO, Willis Santiago, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 1 ed., So Paulo : Celso Bastos Editor, pp. 52-53
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
5
ADMINISTRATIVO DIREITO
esto na base do ordenamento jurdico. O conflito entre duas regras, resolve-se pelo aniquilamento de uma delas, aplicando-se a outra, ou seja, uma das regras afastada pela perda de validade, reputando-se a outra como vlida. Helenilson Cunha Pontes3 nos ensina que duas regras jurdicas em oposio, diante de um caso concreto, consubstanciam um conflito de regras. Os conflitos entre regras jurdicas resumem-se a uma questo de validade, isto , quando para uma mesma situao de fato, duas regras aparecem para o intrprete como igualmente aptas regulao do caso, a escolha de uma levar necessariamente declarao de invalidade da outra, mediante a aplicao de outras regras (de interpretao) tais como lex posterior derrogat legi priori ou lex specialis derrogat legi generali. O fundamental que o conflito entre regras reduz-se a uma questo de validade. Trata-se da aplicao das regras clssicas de solues de antinomias (hierarquia, especialidade e critrio temporal).
Tratando-se de conflitos entre princpios, a soluo bem distinta, abandonando-se todos os mtodos clssico-liberais de soluo de antinomias, tais como a subsuno ou o mtodo silogstico. Considerando a natureza do princpio de grande generalidade, no referindo-se a um caso especfico, comum, que diante de um caso concreto, dois ou mais princpios colidam. Neste caso, sempre diante do caso concreto a ser solucionado, prevalece um princpio em relao ao outro, sem, no entanto, este ser anulado. Apenas, diante daquela situao ftica prevalece um determinado princpio, sem prejuzo de, em outra situao, mudadas as condies e ocorrendo semelhante conflito, prevalea o outro princpio que fora afastado. Continuando em seu livro, Helenilson Cunha Pontes4 ensina que: A oposio entre princpios, por outro lado, consiste em uma coliso de princpios. As colises entre princpios jurdicos resolvem-se segundo uma tcnica de composio, em que um dos princpios deve ceder diante do outro sem que, por isso, o princpio que teve a sua aplicao afastada tenha que perder a sua validade. A precedncia de um princpio em relao a outro deve ser aferida sempre diante das circunstncias do caso concreto e do respectivo peso que cada um dos princpios assume diante dessas circunstncias. A dimenso de peso inerente aos princpios jurdicos permite que as colises entre eles resolvam-se segundo uma ponderao dos pesos dos princpios 3 PONTES, Helenilson Cunha, O Princpio da Proporcionalidade e o Direito Tributrio, 1 ed., So Paulo : Dialtica, pp 33-34 4 In ob. cit. p. 34
colidentes, sem que o princpio afastado perca a sua dimenso de validade. No mesmo sentido, a lio de Marciano Seabra de Godoi5: as colises de princpios devem ser solucionadas de maneira totalmente diversa. Quando dois princpios entram em coliso, um deles deve ceder ao outro. Mas isto no significa declarar invlido o princpio que deu lugar a outro nem que naquele deva ser introduzida uma clusula de exceo. O que ocorre que, sob certas circunstncias, um dos princpios precede ao outro, e sob outras circunstncias a questo da precedncia poderia ser solucionada de maneira inversa. Isto o que se quer dizer quando se afirma que nos casos concretos os princpios tm pesos diferentes e que prima o princpio de maior peso. Aqui a argumentao de Alexy idntica de Dworkin.
inquestionvel, por conseguinte, que a soluo das colises de princpios s pode ser feita luz do caso concreto. Inexiste a soluo pr-determinada de carter abstrato, simplesmente verificando se aquela situao ftica adequa-se hiptese abstrata prevista pelo legislador. Hoje, diante da possibilidade de coliso entre dois mais princpios previstos no texto constitucional, a soluo mais prxima do ideal de justia, perseguido por todos, obriga a uma anlise do caso concreto. Em face disso, afirma o Prof. Willis Santiago Guerra Filho6 que: o trao distintivo entre regras e princpios por ltimo referida aponta para uma caracterstica desses que de se destacar: sua relatividade.
Ressalte-se ainda que, alm dos princpios expressamente previstos no texto constitucional, existem princpios implcitos, que resultam da prpria estrutura do texto constitucional, da opo poltica feito pelo legislador, bem como do disposto no art. 5, par. 2 do texto constitucional de 1988 segundo o qual: Os direitos e garantias expressos nesta Constituio no excluem outros decorrentes do regime e dos princpios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Repblica Federativa do Brasil seja parte. importante destacar a possibilidade de coliso entre princpios explcitos e implcitos, que so resolvidos semelhantemente coliso entre princpios expressos.
5 GODOI, Marciano Seabra de, Justia, Igualdade e Direito Tributrio, 1 ed., So Paulo : Dialtica, p. 119 6 In ob. cit. p. 45
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
6
ADMINISTRATIVO DIREITO
2.2. PRINCPIO DA PROPORCIONALIDADE
A soluo para a coliso entre princpios previstos no texto constitucional deve ser feita de forma, segundo a situao ftica a ser solucionada, a dar prevalncia a um princpio, afetando o mnimo possvel o outro princpio colidente, ou seja, o princpio que cede em face do outro deve ser desrespeitado somente no que for necessrio para a soluo do caso concreto. Sintetizando a importncia desse princpio, nos ensina Willis Guerra Filho7 que: para resolver o grande dilema da interpretao constitucional, representado pelo conflito entre princpios constitucionais, aos quais se deve igual obedincia, por ser a mesma a posio que ocupam na hierarquia normativa, se preconiza o recurso a um princpio dos princpios, o princpio da proporcionalidade, que determina a busca de uma soluo de compromisso, na qual se respeita mais, em determinada situao, um dos princpios em conflito, procurando desrespeitar o mnimo ao(s) outro(s), e jamais lhe(s) faltando minimamente com o respeito, isto , ferindo-lhe seu ncleo essencial. Esse princpio, embora no esteja explicitado de forma individualizada em nosso ordenamento jurdico, uma exigncia inafastvel da prpria frmula poltica adotada por nosso constituinte, a do Estado Democrtico de Direito, pois sem a sua utilizao no se concebe como bem realizar o mandamento bsico dessa frmula, de respeito simultneo dos interesses individuais, coletivos e pblicos.
Desta forma, o princpio da proporcionalidade indispensvel correta interpretao constitucional que privilegia um princpio, desrespeitando o mnimo possvel o princpio colidente, procurando no afetar o seu ncleo essencial.
corrente na doutrina a considerao de trs aspectos do princpio da proporcionalidade, aspectos estes que foram sendo desenvolvidos pela jurisprudncia da Corte Constitucional Alem, quais sejam: adequao, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Pela adequao, exige-se que o meio utilizado seja adequado para o alcance do objetivo visado, apto realizao do fim colimado. A necessidade, por sua vez, implica na adoo do meio mais suave, ou seja, se para a soluo de uma coliso de princpios, existem vrios meios, deve-se buscar aquele que menor ofensa causar ao(s) outro(s) princpio(s). A proporcionalidade em sentido estrito 7 In. ob. cit., p. 59
o ncleo do princpio da proporcionalidade, significando a relao entre o meio utilizado e o objetivo colimado, ou seja, se o fim alcanado supera o prejuzo causado a outros interesses igualmente protegidos.
2.3. PRINCPIOS DA SUPREMACIA E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PBLICO
O professor Celso Antnio Bandeira de Mello afirma que estes dois princpios norteiam toda a atividade administrativa, decorrendo os demais princpios dos mesmos. Segundo ele, referidos princpios constituem a essncia do regime jurdico-administrativo. o interesse pblico superior ao interesse privado e, conseqentemente, supremo e indisponvel, ou seja, o administrador no tem a disponibilidade do referido interesse pblico, consistindo sua obrigao a sua preservao.
O Estado pode compulsoriamente condicionar o interesse privado satisfao do interesse pblico. A esfera individual, antes intocvel, no auge do Liberalismo, pode ser limitada em prol do interesse pblico. Pode-se afirmar que referido princpio est implcito no ordenamento jurdico, sendo inerente prpria sociedade. Como afirma o Prof. Celso Antnio Bandeira de Mello: O princpio da supremacia do interesse pblico sobre o interesse privado princpio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. a prpria condio de sua existncia. Assim, no se radica em dispositivo especfico algum da Constituio, ainda que inmeros aludam ou impliquem manifestaes concretas dele, como, por exemplo, os princpios da funo social da propriedade, da defesa do consumidor ou do meio ambiente (art, 170, III, V e VI), ou tantos outros. Afinal, o princpio em causa um pressuposto lgico do convvio social. (IN Curso de Direito Administrativo, 27 ed., Edit. Malheiros, p. 96).
A Supremacia do Interesse Pblico justifica inclusive as diversas prerrogativas materiais e processuais asseguradas ao Estado. No mbito material, o regime jurdico-administrativo confere ao Estado diversos atributos ao ato administrativo, tais como: presuno de legalidade, imperatividade e auto-executoriedade, dentre outros. Referidas prerrogativas se justificam, posto que sem elas, o Estado no teria como realizar o interesse pblico. Elas aparecem como meios a fim de que o Estado consiga realizar o interesse pblico. Ademais, a
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
7
ADMINISTRATIVO DIREITO
Administrao Pblica goza de inmeras prerrogativas processuais quando est litigando judicialmente como prazos maiores para contestar e recorrer, duplo grau de jurisdio obrigatrio em caso de deciso judicial desfavorvel, rito prprio para a execuo dos seus crditos, precatrio judicial dentre outras prerrogativas.
Em relao ao princpio da indisponibilidade do interesse pblico, importante ressaltar que o administrador pblico exerce um encargo pblico, um munus pblico, administra em nome e em favor do povo, verdadeiro titular do patrimnio pblico. Desta forma, ele no tem disponibilidade em relao ao patrimnio pblico. Dever administr-lo em conformidade com a lei e, no, segundo sua vontade, como acontece em relao aos administradores privados. A exigncia de licitao, por exemplo, para a compra de bens pela Administrao Pblica demonstra cabalmente esta indisponibilidade do interesse pblico, posto que o agente pblico no ter a possibilidade de escolher o eventual parceiro do Estado. Este princpio tem uma ntima relao com o Princpio da Legalidade, posto que a lei que vai determinar o norte de atuao do agente pblico. No a sua vontade individual que vai funcionar como seu guia de atuao. a vontade da lei que vai orientar a sua atuao administrativa.
2.4. PRINCPIO DA LEGALIDADE
A Constituio Federal disciplina em vrios artigos o regime jurdico-administrativo, consagrando um captulo inteiro Administrao Pblica (Arts. 37-43). Em seu artigo 37, caput, a Constituio Federal determina que a administrao pblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer aos princpios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficincia, este ltimo acrescentado pela Emenda Constitucional n. 19/98. Entre eles, destaca-se o Princpio da Legalidade.
Sendo o povo o titular do poder, o seu representante (administrador pblico) no tem a liberdade para agir, segundo sua vontade. A sua atuao deve ser previamente precedida de uma lei, posto que em ltima instncia, o povo que legisla, atravs de seus representantes.
A matriz do princpio esta no art. 5, CF, sendo repetido ao longo da Constituio no art 37, caput, no art. 150, I CF, dentre outros.
A legalidade na esfera administrativa deve ser vista de forma diversa da esfera privada. No mbito privado, posso fazer o que a lei no probe, ou seja, h espao para a licitude.
No mbito administrativo, no h espao para a licitude: ou legal ou ilegal. O agente pblico s pode fazer o que a lei permite que ele faa. A competncia administrativa pr-definida. S posso fazer o que a lei do meu cargo permite que eu faa. Esta a razo pela qual os cargos pblicos devem ser criados por lei, posto que a lei que vai atribuir competncia aos seus ocupantes. Trata-se de legalidade estrita. O servidor pblico administra o patrimnio pblico pertencente ao povo. Esse mesmo povo, numa democracia representativa, elege seus representantes que iro elaborar leis que determinam a atuao do servidor pblico.
PATRIMNIO PBLICO POVO Servidor Pblico Representantes
LEIS
o Direito Administrativo um ramo do direito onde a legalidade estrita, ou seja, qualquer atividade do administrador deve ser precedida de uma prvia autorizao legal. o princpio da legalidade que melhor caracteriza o Estado de Direito, ou seja, um Estado disciplinado por normas jurdicas, normas estas que se impem ao prprio Estado.
2.7. PRINCPIO DA FINALIDADE E DA IMPESSOALIDADE
O administrador pblico deve ser impessoal, no beneficiando ningum, mas contratando, por exemplo, servidores, atravs de concurso pblico, independentemente de quem sejam os candidatos. A impessoalidade est intimamente ligada legalidade, posto que a atividade do administrador, sendo pautada na legalidade, no pode beneficiar ou prejudicar ningum. Contrata o administrador, por
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
8
ADMINISTRATIVO DIREITO
exemplo, um particular, mediante uma prvia licitao, como determina a Constituio Federal no seu art. 37, XXI.
A finalidade pblica deve sempre ser o escopo do administrador. Ainda que o Estado esteja realizando atividades econmicas (art. 173 da Constituio Federal), busca realizar o interesse pblico, posto que a atuao na esfera econmica s pode ocorrer por razes relevantes de interesse coletivo ou por razes de segurana nacional.
2.8. PRINCPIO DA MOTIVAO
Os atos administrativos devem ser justificados. O administrador deve sempre motiv-los. A exigncia da motivao funciona como instrumento de controle em relao s atividades do administrador. Devidamente motivado, o povo, titular do patrimnio pblico, consegue identificar as razes que levaram o administrador pblico a praticar determinado ato administrativo. O art. 50 da lei n. 9784/99 elenca diversos atos administrativos que devem ser motivados.
2.9. PRINCPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Cuida-se de princpios semelhantes aos que so exigidos em processos judiciais, podendo a parte opor-se ao que afirmado sobre ela (princpio do contraditrio), utilizando-se de todos os meios de prova para defender-se (princpio da ampla defesa) em processos administrativos (art. 5, LV, CF). O devido processo legal decorrncia lgica dos princpios da segurana jurdica e da legalidade.
2.10. PRINCPIO DA PUBLICIDADE
Os atos administrativos devem ser publicados em rgo oficial do ente estatal, at para facilitar o controle por parte do povo, bem como para possibilitar o conhecimento por parte de todos dos atos administrativos que interessam aos administrados. A publicidade de um edital de licitao, assim como de um edital de concurso pblico aparecem como exemplos da aplicao deste princpio.
2.11. PRINCPIO DA MORALIDADE
Hoje, o legislador constituinte originrio prev vrias exigncias, que devem ser observadas pelo legislador e pelo administrador. Apesar da dificuldade de definir o que seja moral, sabe-se qual situao ftica est de acordo com a moral ou no. No basta ser legal, tem que ser moral tambm. A moralidade funciona como um vetor que deve nortear a atuao e a interpretao do administrador pblico. Ao longo da Constituio Federal, podem ser identificados vrios dispositivos que visam a proteo da Moralidade Administrativa (art. 5, LXXIII e art. 37, 4, dentre outros)
2.12. PRINCPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIRIO.
Em nosso sistema, nada foge ao controle do Poder Judicirio (art. 5, XXXV, CF). Nenhuma jurisdio administrativa pode, pela Lei Maior, dar a palavra final. Inexiste a coisa julgada administrativa para o administrado, que mesmo diante de decises desfavorveis na esfera administrativa, pode socorrer-se do Poder Judicirio, para modificar as decises administrativas.
Referido princpio, tambm chamado de princpio da jurisdio nica, no implica na necessidade de prvio esgotamento da instncia administrativa, como requisito para a propositura de uma ao judicial. O administrado pode propor uma ao judicial sem a necessidade de, previamente, esgotar a via administrativa.
2.13. PRINCPIO DA ISONOMIA
A exigncia de um tratamento igual de pessoas que se encontram em situao igual uma das grandes preocupaes do legislador constituinte de 1988. Em inmeros artigos, h uma referncia a este princpio.
importante ressaltar, no entanto, que a Isonomia, atualmente, vista como um tratamento igual de pessoas que se encontrem em situao igual e, desigual, de quem se encontre em situao desigual. O critrio que diferencia, no entanto, deve ser um critrio razovel, cujo tratamento diferenciado seja exigido, como meio realizao da justia.
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
9
ADMINISTRATIVO DIREITO
2.14. PRINCPIO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO
Este princpio decorre diretamente do Estado de Direito. Em um Estado regido por normas jurdicas, estas obrigam-no tambm, ou seja, se eventualmente, na realizao de suas atividades, causa o Estado prejuzo a um terceiro, deve ser responsabilizado, patrimonialmente, pelos seus atos.
2.15. PRINCPIO DA EFICINCIA
O Poder Constituinte Derivado elevou este princpio a um nvel constitucional. Consagrado pela legislao infraconstitucional, encontra-se o mesmo previsto de forma expressa na Constituio no caput do art. 37. Em substituio ao Estado Patrimonialista, que prevaleceu ao longo do sculo XIX (Brasil Imprio), surgiu o Estado Burocrtico no final do sculo XIX e ao longo do sculo XX. A emenda constitucional n. 19/98, que inseriu na Constituio o princpio da Eficincia, teria inaugurado no Brasil o Estado Gerencial, que busca incorporar ao setor pblico mtodos privados de gesto, objetivando dar aos administrados uma resposta mais rpidas aos seus pleitos.
Deve-se ressaltar, no entanto, que, como todo princpio, no tem o mesmo carter absoluto, posto que, no possvel, afastar a legalidade, sob o argumento de dar maior eficincia Administrao Pblica. As etapas legais de um procedimento administrativo, como a licitao, por exemplo, no podem ser afastadas.
2.16. PRINCPIO DA PRESUNO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
A presuno de legitimidade dos atos administrativos decorrncia lgica do princpio da legalidade. O administrador s pode agir, quando previamente autorizado por lei. Desta forma, sua conduta presumivelmente legal. Presuno esta que no absoluta, podendo ser afastada por prova em contrrio do administrado que, eventualmente, seja prejudicado com as atividades da Administrao Pblica.
2.17. PRINCPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIO PBLICO
Os bens que so afetados prestao do servio pblico so impenhorveis em razo deste princpio, posto que, o interesse pblico no pode sucumbir perante os interesses privados de eventuais credores individuais. O servio pblico no pode ser afetado. Os bens indispensveis sua prestao so intocveis, existindo outros meios, como o precatrio judicial, para satisfazer os interesses individuais em face do Estado.
Outros princpios norteiam a atividade do Poder Judicirio e do Administrador, quando da aplicao da lei administrativa. Pode-se elencar outros, alm dos j citados, tais como: da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Segurana Jurdica, da Tutela, da Autotutela, da Especialidade e da Hierarquia.
SMULAS
Smula n. 346, STF: A administrao pblica pode declarar a nulidade dos seus prprios atos.
Smula n. 473, STF: A administrao pode anular os seus prprios atos, quando eivados de vcios que os tornem ilegais, porque deles no se originam direitos; ou revog-los, por motivo de convenincia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciao judicial.
EXERCCIOS DE FIXAO 01. Marque V ou F:
A) O Direito Administrativo estuda somente os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo;
B) A Separao dos Poderes prevista no art. 2 da Constituio impede a prtica de atos administrativos pelo Poder Judicirio;
C) A Constituio Federal elenca os princpios bsicos da Administrao Pblica, que, podem eventualmente ser afastados por estados e municpios, em face de ser o Brasil um estado federal;
D) Os poderes Legislativo e Judicirio podem, eventualmente, praticar atos administrativos;
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
10
ADMINISTRATIVO DIREITO
E) O direito administrativo moderno limita-se ao estudo dos servios pblicos.
02. Para o setor privado predomina a autonomia da
vontade, sendo lcito fazer-se o que a lei no probe, mas no mbito do Poder Pblico todo ato administrativo pressupe a existncia de permisso legal, o que est sintetizado no princpio da
A) finalidade e coordenao para os Poderes
Executivo e Legislativo. B) moralidade, presente nos trs Poderes
Pblicos em qualquer nvel. C) legalidade, vlido para os trs Poderes
Polticos em todos os nveis. D) impessoalidade e razoabilidade dos Poderes
Judicirio e Executivo. E) publicidade e eficincia do Poderes
Legislativo e Judicirio. 03. Entre os princpios bsicos da Administrao
Pblica est o de autotutela que consiste no
A) controle necessrio por imposio constitucional, efetuado pelo Poder Judicirio, em todos os nveis dos trs Poderes.
B) controle externo atribudo a cada cidado, com relao aos trs Poderes, atravs do mandado de segurana e da ao popular.
C) trabalho de fiscalizao que o Tribunal de Contas realiza sobre os atos dos trs Poderes do Estado.
D) exerccio das atribuies parlamentares de cada Legislatura, com relao aos atos dos Poderes Pblicos Municipais.
E) controle interno exercido sobre todos os atos administrativos, no mbito de cada um dos trs Poderes Polticos, em qualquer nvel.
04. O Princpio da Inafastabilidade do Poder
Judicirio: A) Impede a existncia de contencioso
administrativo B) Condiciona o acesso ao Poder Judicirio ao
esgotamento das vias administrativas C) o sistema adotado em nosso pas, apesar
da existncia de cortes administrativas D) imprescindvel ao exerccio do Poder de
Polcia E) N.D.A.
05. Sobre o Princpio da Eficincia:
A) Pode eventualmente prevalecer sobre o princpio da Legalidade, afastando algumas fases da licitao, por exemplo
B) Afasta a necessidade de motivao do ato administrativo
C) Implica na extino dos recursos administrativos
D) Objetiva dar maior celeridade Administrao Pblica, desde que obedecidas as formalidades inafastveis do ato administrativo, previstas em lei
E) N. D. A. 06. Princpio administrativo que autoriza a
fiscalizao por parte dos entes estatais quanto realizao dos fins para os quais foram criados os entes da administrao indireta (controle finalstico) oprincpio da:
A) Autotutela B) Tutela C) Moralidade D) Motivao E) Legalidade
07. A Impessoalidade:
A) Impede algumas excees indispensabilidade de licitao
B) Impede a contratao direta de determinada pessoa sem concurso pblico para cargo de provimento efetivo, em condies normais
C) Impede a existncia de cargos de confiana D) Impede o uso privativo de bens por pblicos
por particulares E) N. D. A.
08. A Constituio Federal prev expressamente
como princpios da Administrao Pblica (Promotor de Justia/SP 1997):
A) impessoalidade, moralidade, publicidade e
supremacia do interesse pblico; B) moralidade, publicidade, supremacia do
interesse pblico e legalidade; C) publicidade, supremacia do interesse
pblico, legalidade e impessoalidade; D) legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade; E) supremacia do interesse pblico, legalidade,
impessoalidade e moralidade.
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
11
ADMINISTRATIVO DIREITO
09. A Administrao Pblica no est apenas proibida de agir contra legem ou extra legem, mas s pode atuar secundum legem. Eis a consagrao do princpio do(a) (Promotor de Justia do Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios 1997):
A) discricionariedade; B) moralidade; C) restritividade ou da legalidade estrita; D) condicionamento da administrao
10. Sobre os conceitos de Administrao Pblica,
correto afirmar (Procurador da Fazenda Nacional 1998 ESAF):
A) em seu sentido material, a Administrao
Pblica manifesta-se exclusivamente no Poder Executivo;
B) o conjunto de rgos e entidades integrantes da Administrao compreendido no conceito funcional de Administrao Pblica;
C) a Administrao Pblica, em seu sentido objetivo, no se manifesta no Poder Legislativo;
D) no sentido orgnico, a Administrao Pblica confunde-se com a atividade administrativa;
E) a Administrao Pblica materialmente expressa uma das funes tripartites do Estado.
GABARITO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D C E C D B B D C E
Anotaes
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPTULO 03 ORGANIZAO DA
ADMINISTRAO PBLICA
3.1. REAS DE ATUAO ESTATAL
A Constituio Federal, em seus dispositivos, admite a possibilidade do Estado prestar servios pblicos (art. 175 da Constituio Federal) ou exercer atividades econmicas (art. 173 da Constituio Federal). A prestao de servios pblicos, evidentemente, consiste a rea de atuao prpria do Estado, posto que a organizao estatal existe essencialmente para a realizao do interesse pblico, finalidade esta que atingida tambm pelo fornecimento de servios pblicos aos administrados.
O exerccio de atividades econmicas ocorrer de forma excepcional, posto que em pases capitalistas, a esfera econmica deve ser exercida essencialmente pelos particulares. A prpria Constituio Federal exige, em seu art. 173, relevante interesse coletivo ou razes de segurana nacional, que justifiquem a atuao estatal na economia.
A prestao de servios pblicos poder ser feita de forma centralizada atravs dos rgos pblicos, despersonalizados, bem como de forma descentralizada, transferindo a execuo dos servios pblicos aos entes de administrao pblica indireta (ART. 37, XIX, CF) ou aos particulares (concessionrios e permissionrios de servios pblicos).
Os concessionrios de servios pblicos no integram o estado, ou seja, o fato de prestarem servios pblicos no os colocam como entes da administrao pblica indireta, razo pela qual continuam regidos por normas de direito privado na sua organizao, aplicando-se, no entanto, normas pblicas quanto ao objeto (prestao de servios pblicos), tais como: licitao para transferir a execuo de servio pblico, fixao da tarifa cobrada, controle do servio pelas agncias reguladoras. Cuida-se de aplicao de legislao privada e pblica, regendo-se por este regime misto.
Na esfera econmica, o estado atua atravs de empresas pblicas e sociedades de economia mista, posto que a Constituio Federal expressamente admite no art. 173, 1, inciso II, a flexibilizao do regime pblico a estas empresas estatais que atuam na economia, determinando a sujeio ao regime jurdico prprio das empresas privadas em relao s obrigaes civis, comerciais,
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
12
ADMINISTRATIVO DIREITO
trabalhistas e tributrias. A atuao na esfera econmica s possvel, com a flexibilizao do regime pblico. No entanto, fundamental ressaltar que estas empresas no esto sujeitas a um regime exclusivamente privado. O prprio dispositivo constitucional supra citado determina a aplicao da licitao a estas empresas (art. 173, 1, inciso III, CF). Referidas empresas tambm so obrigadas a realizar concurso pblico (art. 37, inciso II, CF) e o Tribunal de Contas da Unio exerce fiscalizao sobre as suas contas (arts. 70 e 71, incisos II e III, CF). Estas empresas esto sujeitas a um regime hbrido (pblico e privado). Organizam-se segundo regras pblicas (concurso pblico, licitao, controle pelos Tribunais de Contas), aplicando-se, no entanto, regras privadas quanto ao objeto econmico (art. 173, inciso II, CF).
3.2. ORGANIZAO ADMINISTRATIVA ESTATAL
A organizao interna da Administrao Pblica constitui um dos principais objetos de estudo do Direito Administrativo. Estabelecendo a Constituio a base da organizao do estado, preocupa-se o Direito Administrativo com a organizao e funcionamento dirio dos componentes do estado. Sendo o Brasil uma repblica federativa, os diferentes entes polticos (Unio Federal, Estados, Distrito Federal e Municpios) se organizam de forma diferenciada, com algumas semelhanas, porm com muitas diferenas. natural que os estados do Acre, do Cear e de So Paulo tenham estruturas administrativas diferenciadas, em funo das realidades distintas dos mesmos sob o aspecto econmico, populacional, social, poltico, cultural e geogrfico
A administrao pblica divide-se em administrao pblica direta e indireta. A administrao pblica direta formada pelos entes polticos (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios) e seus respectivos rgos pblicos.
A administrao pblica indireta, por sua vez, composta por entes dotados de personalidade jurdica, quais sejam: autarquia, fundao, empresa pblica e sociedade de economia mista (art. 37, XIX, CF), alm dos consrcios pblicos, com personalidade jurdica de direito pblico (Lei n. 11107/05).
Os rgos pblicos caracterizam-se pela inexistncia de personalidade jurdica prpria. So despersonalizados e subordinados ao ente central, ou
seja, os rgos pblicos so disciplinados de forma hierarquizada. Atualmente, entende-se que o rgo integra o prprio ente estatal (Teoria do rgo). A Unio Federal a soma de seus rgos pblicos. Fala-se em desconcentrao administrativa quando ocorre a criao de rgos pblicos. As classificaes de rgos pblicos foram sistematizadas por Hely Lopes Meirelles:
1 Classificao: Quanto posio Hierrquica: rgo Independente, Autnomo, Superior e Subalterno. O rgo Independente so aqueles que se encontram no grau mais elevado da hierarquia administrativa. No se subordina a nenhum outro rgo administrativo. Originam-se da Constituio Federal, representando a cpula dos Poderes Estatais, tais como: Chefias do Poder Executivo, Casas Legislativas, Tribunais do Poder Judicirio, dentre outros. O rgo Autnomo, por sua vez, vem um degrau abaixo do rgo Independente, gozando de autonomia administrativa e financeira, que no absoluta em funo de encontrar-se logo abaixo do rgo Independente, tais como: Ministrios, Secretarias de Estado e de Municpio. Os rgos superiores no gozam de autonomia administrativa e financeira. No entanto, os mesmos tm poder decisrio, sendo subordinados aos rgos Autnomos. Geralmente so os rgos que esto mais prximos dos particulares, tais como Receita Federal, Polcia Federal, Procuradorias, etc. Estes rgos tm uma atuao muito tcnica. Os rgos Subalternos, quando existem, so rgos sem nenhum poder decisrio, ou seja, se limitam a cumprir ordens. No decidem nada. So rgos meramente executrios. Ex.: Protocolos, etc
2 Classificao: Quanto estrutura: rgo Simples (Unitrio) e rgo Composto. Os rgos Simples so aqueles formados por um s centro de competncia, ao passo que os rgos Compostos so formados por vrios rgos subordinados, tais como os Ministrios
3 Classificao: Quanto composio: rgos Singulares (Unipessoais) e Colegiados (Pluripessoais). Os rgos Singulares so aqueles rgos em que uma s pessoa tem poder de deciso, ou seja, uma s pessoa fala em nome do rgo. Ex.: Presidncia da Repblica. Os rgos Colegiados, por sua vez, externam a sua vontade atravs de vrias pessoas, ou seja, diversas pessoas tm o poder constitucional ou legal para falar em nome do rgo pblico respectivo. Ex.: Tribunal Administrativo.
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
13
ADMINISTRATIVO DIREITO
Os entes da administrao indireta, dotados de personalidade jurdica prpria, no so subordinados ao ente central. So vinculados ao ente federativo respectivo. A relao entre eles no de subordinao, mas, de coordenao, de vinculao. O controle feito pelo ente central liga-se ao cumprimento das finalidades que justificaram a criao do respectivo ente (controle finalstico ou princpio da Tutela), ou seja, os entes da administrao indireta gozam de autonomia administrativa, razo pela qual a interferncia do ente poltico sobre um ente da administrao indireta s ocorrer em caso de afastamento da finalidade legal para a qual ele foi criado. Este controle finalstico essencial para verificar se referida entidade administrativa est cumprindo a finalidade legal para a qual ela foi criada.
A autarquia, pessoa jurdica de direito pblico, apresenta-se como o ente mais prximo do ente central. Goza das mesmas prerrogativas dos entes federativos. Seus atos so atos administrativos e, conseqentemente, so presumivelmente legais; os prazos processuais so diferenciados (art. 188 do Cdigo de Processo Civil); so beneficiadas pela imunidade recproca (art. 150, VI, a c/c art. 150, 2, CF), bem como sujeio ao pagamento de seus dbitos atravs de precatrio judicial (art. 100, CF). Seus bens so impenhorveis em funo de estarem sempre afetados ao interesse pblico.
O ente autrquico, pessoa distinta do ente central, em funo de ser dotado de personalidade jurdica prpria, tem patrimnio prprio e criado para o exerccio de funes tpicas do Estado. Ex.: INSS (Instituo Nacional do Seguro Social), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis), INCRA (Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria), UFC (Universidade Federal do Cear), etc.
O Decreto-lei 200/67 assim define: autarquia o servio autnomo criado por lei, com personalidade jurdica, patrimnio e receita prprios, para executar atividades da Administrao Pblica que requeiram, para seu melhor funcionamento, gesto administrativa e financeira descentralizadas
Criada por lei (art. 37 XIX, CF), est a autarquia sujeita a um regime pblico, tais como: licitao, concurso pblico, controle finalstico exercido pelo ente central e controle externo exercido pelos Tribunais de Contas. So exemplos de autarquias: o
INSS, o IBAMA, o Banco Central, o DNOCS, as Agncias Reguladoras, o IJF dentre outras.
Existem algumas autarquias que sujeitam-se a um regime especial, ou seja, mesmo sujeitas ao regime jurdico prprio das autarquias, gozam de algumas prerrogativas, aplicando-se s mesmas regras especficas, que, geralmente, lhes conferem maiores prerrogativas, tais como o processo de escolha dos seus dirigentes, como ocorre com o Banco Central, a Universidade Federal do Cear (UFC), chamadas de autarquias sujeitas a um regime especial, a estabilidade maior dos seus dirigentes.
Nesse grupo de autarquias, podem ser includas as Agncias Reguladoras. Em funo da opo dos ltimos governos de delegar a prestao de servios pblicos a particulares (concesso e permisso de servios pblicos), surge a necessidade de descentralizar o gerenciamento dessa nova forma de prestao dos servios pblicos, feita por particulares.
A agncia reguladora resulta da descentralizao do estado, posto que as atividades de fiscalizao, administrao, licitao e regulao dos servios pblicos executados por particulares so transferidas do estado para a agncia reguladora. A funo dessas agncias alcana hoje at mesmo o exerccio de atividades econmicas.
Embora no exista lei alguma disciplinando de forma uniforme referidas agncias, posto que cada uma delas foi criada por uma lei especfica, so organizadas sob a forma de autarquias. Podem ser citadas como exemplos a ANEEL (Lei 9472/97), a ANATEL (Lei 9472/97), a ANP (Lei 9478/97). A Lei 9986/00 disciplina algumas normas gerais comuns s agncias reguladoras no mbito federal, assim como a Lei 10871/04.
As fundaes pblicas (Lei n 7596/87) tambm integram a administrao pblica indireta. So criadas para a execuo de atividades prprias do ente central. A doutrina administrativa diverge a respeito de sua natureza jurdica, prevalecendo o entendimento de que poderiam ser pessoas jurdicas de direito privado e de direito pblico. Exemplo: FUNAI, FUNASA, IBGE, dentre outras. As fundaes estatais, juntamente com as autarquias podem se qualificar como agncias executivas (Lei n. 9649/98 e Decreto n. 2487/98), beneficiando-se com a duplicao dos limites de dispensa de licitao, como dispe o nico do art. 24 da Lei n. 8666/93.
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
14
ADMINISTRATIVO DIREITO
As empresas pblicas e sociedades de economia mista tambm integram a Administrao Pblica Indireta, sendo pessoas jurdicas de Direito Privado, posto que a lei especfica apenas autoriza a criao das mesmas (art. 37, XIX, CF), sendo necessrio o arquivamento dos seus atos constitutivos para que adquiram personalidade jurdica prpria. Seus empregados so celetistas A diferena entre elas reside basicamente na composio do capital (100% pblico na empresa pblica e misto pblico e privado na sociedade de economia mista) e na organizao societria, posto que a sociedade de economia mista somente pode organizar-se sob a forma de sociedade annima e a empresa pblica pode organizar-se de outras formas, do ponto de vista societrio (S/A, LTDA, etc). Deve-se ressaltar ainda que h diferena entre as duas em relao ao foro competente para julgar aes judiciais contra as mesmas, posto que a Constituio Federal reserva o foro federal (Justia Federal) apenas em relao s empresas pblicas federais (art. 109, I, CF), no alcanando as sociedades de economia mista federais, que litigam na justia estadual. Nesse sentido, inmeras smulas do STF (Smulas n. 508 e 556) e do STJ (Smula n. 42), transcritas no final deste captulo. Esta distino no existe entre as empresas pblicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais, posto que sujeitam-se Justia Estadual. Exemplos de Empresa Pblica: ECT (Empresa de Correios e Telgrafos), CEF (Caixa Econmica Federal). Exemplos de Sociedade de Economia Mista: Petrobrs, Banco do Brasil.
A Lei n. 11107/05 disciplina a criao de Consrcios Pblicos, que resultam da convergncia de interesses dos entes federativos (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios) para a execuo de servios pblicos comuns aos mesmos. Referidos consrcios podem ser pessoas jurdicas de direito privado e pessoas jurdicas de direito pblico, sendo que neste ltimo caso (direito Pblico) integram a Administrao Indireta de todos os entes consorciados, apresentando-se como um novo ente estatal ao lado de autarquias, fundaes, empresas pblicas e sociedades de economia mista. Os consrcios pblicos de direito privado, que para existirem, devero atender os requisitos da lei civil, no integram a administrao pblica indireta dos entes consorciados, devendo, no entanto, cumprir regras pblicas no que diz respeito aos contratos e licitao, aos concursos pblicos e controle de gastos (prestao de contas), nos termos do art. 6, 2 da Lei n. 11.107/05.
H de se ressaltar que ao lado da administrao direta ou centralizada, formada pelos rgos pblicos e da administrao indireta, formada pelas entidades estatais, existem as entidades do terceiro setor ou paraestatais, tambm chamadas de entidades que atuam em colaborao com o Estado ou ainda pessoas pblicas no estatais, ressaltando o fato de ser uma entidade no integrante do Estado, mas que visa realizar um fim pblico.
As entidades paraestatais no integram a administrao pblica. So parceiros do estado na realizao do interesse pblico, atuando em servios no exclusivos do estado, como sade (art. 1999, CF). No so pessoas estatais. Auxiliam o estado, mediante parceria, na consecuo do interesse pblico. Podem ser citados como exemplo os Servios Sociais Autnomos (SESC, SESI, SENAI, etc.), as Organizaes Sociais (Lei n 9637/98) e as Organizaes da Sociedade Civil de Interesse Pblico (Lei n 9790/99).
SMULAS
Smula n. 508, STF: Compete Justia Estadual, em ambas as instncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A
Smula n. 556, STF: competente a Justia comum para julgar as causas em que parte sociedade de economia mista.
Smula n. 42, STJ: Compete Justia Comum Estadual processar e julgar as causas cveis em que parte sociedade de economia mista e os crimes em seu detrimento.
Smula n. 516, STF: O Servio Social da Indstria SESI est sujeito jurisdio da Justia Estadual.
Smula n. 517, STF: As sociedades de economia mista s tem foro na Justia Federal, quando a Unio intervm como assistente ou opoente.
Smula n. 97, STJ: Compete Justia do Trabalho processar e julgar reclamao de servidor pblico relativamente a vantagens trabalhistas anteriores instituio do regime jurdico nico.
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
15
ADMINISTRATIVO DIREITO
JURISPRUDNCIA
A Assemblia Legislativa Estadual, a par de ser rgo com autonomia financeira expressa no oramento do Estado, goza, legalmente, de independncia organizacional. titular de direitos subjetivos, o que lhe confere a chamada personalidade judiciria, que a autoriza a defender os seus interesses em juzo. Tem, pois, capacidade processual (TJ-BA, ApCv n. 24.417-7, 4 Cm. Civ., julg. 03/09/1997)
A criao de subsidirias de estatais no depende de lei especfica, posto que: o requisito da autorizao legislativa (CF, art. 37, XX) acha-se cumprido, no sendo necessria a edio de lei especial para cada caso. (ADIN n. 1649-DF (MC), Pleno, Rel. Min. Maurcio Corra - Informativo STF n. 201, set/2000). O objeto da discusso era a interpretao dos arts. 64 e 65 da Lei n. 9478/97, que autorizam a PETROBRS criao de subsidirias.
Autarquias interestaduais: No h a possibilidade de criao de autarquia interestadual mediante a convergncia de diversas unidades federadas. (Ao Cvel Originria n. 503-RS, Rel. Min. Moreira Alves Informativo STF n. 247, out/2001).
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 58 e pargrafos da Lei n. 9649/98 (ADIN n. 1717-DF, Pleno, Rel. Min. Sidney Sanches Informativo STF n. 163 set/99. Este art. 58 afirmava que os conselhos profissionais seriam pessoas jurdicas de direito privado. Em funo do julgamento do STF voltaram a ter a natureza de autarquias, chamadas comumente de autarquias profissionais.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (ECT), empresa pblica federal, est abrangida pela imunidade tributria recproca prevista no art. 150, VI, a, da CF, por se tratar de prestadora de servio pblico exclusivo do Estado (RE 407.099-RS, 2 turma, Rel. Min. Carlos Velloso Informativo STF n. 353, jun/04).
O Supremo Tribunal Federal determinou que: nem toda fundao instituda pelo Poder Pblico fundao de direito privado. As fundaes, institudas pelo Poder Pblico, que assumem a gesto de servio estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, so fundaes de direito pblico, e, portanto, pessoas jurdicas de direito pblico. Tais fundaes so espcies do gnero autarquia, aplicando-se a elas a
vedao a que alude o pargrafo 2 do art. 99 da Constituio Federal. (RE n. 101.126-RJ, Min. Moreira Alves). A referncia ao art.99 refere-se Constituio de 1967, com a EC n. 01/69.
Fundao Pessoa Jurdica de Direito Pblico Efeitos. Fundao instituda pelo Poder Pblico, atravs de lei, com o fim de prestar assistncia social coletividade, exerce atividade eminentemente pblica, pelo que no regida pelo inc. I do art. 16 do Cdigo Civil, tratando-se, na verdade, de pessoa jurdica de direito pblico, fazendo jus s vantagens insertas no art. 188 do CPC. (Resp n. 148.521-PE, 2 Turma, DJ 14/09/1998, Rel. Min. Adhemar Maciel).
EXERCCIOS
01. A Administrao Pblica, como tal prevista na Constituio Federal (art. 37) e na legislao pertinente (Decreto-Lei no 200/67, com alteraes supervenientes), alm dos rgos estatais e de diversos tipos de entidades abrange, tambm,
A) as concessionrias de servio pblico em
geral B) as universidades federais que so fundaes
pblicas C) as organizaes sindicais D) os chamados servios sociais autnomos
(Senai, Senac etc.) E) os partidos polticos
02. As autarquias e as empresas pblicas, como integrantes da Administrao Federal Indireta, equiparam-se entre si pelo fato de que ambas so
A) pessoas administrativas, com personalidade
jurdica prpria B) pessoas administrativas, sem personalidade
jurdica prpria C) pessoas jurdicas de direito pblico interno D) pessoas jurdicas de direito privado E) pessoas ou entidades polticas estatais
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
16
ADMINISTRATIVO DIREITO
03. Acerca dos mecanismos de organizao administrativa, julgue os seguintes itens (V ou F). 1) Sabendo que o Servio Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), que tem a natureza de empresa pblica, foi criado porque a Unio concluiu que Ihe conviria criar uma pessoa jurdica especializada para atuar na rea de informtica, correto afirmar que a Unio praticou, nesse caso, descentralizao administrativa.
2) Tendo o Departamento de Polcia Federal (DPF) criado, nos estados da Federao, Superintendncias Regionais (SRs/DPF), correto afirmar que o DPF praticou a desconcentrao administrativa.
3) O Ministrio Pblico Federal rgo da Unio sem personalidade jurdica; possui, portanto, natureza autrquica.
4) As pessoas jurdicas integrantes da administrao pblica indireta constituem um produto do mecanismo da desconcentrao administrativa.
5) Tanto na descentralizao quanto na desconcentrao, mantm-se relao de hierarquia entre o Estado e os rgos e pessoas jurdicas dela surgida.
04. Os rgos pblicos so (V ou F):
A) despersonalizados B) integrantes da Administrao Pblica C) eventualmente, dotados de capacidade
processual D) eventualmente, dotados de personalidade
jurdica E) resultado da descentralizao administrativa
05) Uma ao proposta contra empresa pblica
federal:
A) tramita na Justia Federal B) tramita no mesmo juzo das aes propostas
contra a sociedade de economia mista federal C) tramita na justia estadual D) varia de acordo com o objeto de sua atuao,
tramitando na justia estadual, se exercer atividade econmica
E) varia de acordo com o objeto de sua atuao, tramitando na justia federal, se prestar servios pblicos
06. A descentralizao administrativa:
A) resulta na entrega de funes estatais entes despersonalizados
B) sinnimo de desconcentrao C) objetiva uma melhor prestao dos servios
pblicos D) s pode ocorrer entre entes polticos E) implica na entrega de funes s autarquias e
aos seus rgos 07. So Pessoas Jurdicas de Direito Pblico, exceto:
A) Empresa Pblica B) Fundao Autrquica C) Autarquia D) Unio Federal E) Distrito Federal
08. Em relao s empresas estatais que realizam
atividade econmica, pode-se afirmar que:
A) a Constituio no exige justificao alguma para o Estado atuar na economia
B) em regra, a elas so aplicveis as hipteses de imunidade tributria previstas na Constituio
C) submetem-se integralmente s normas de direito privado
D) submetem-se integralmente s normas de direito publico
E) N. D. A. 09. Acerca dos rgos pblicos e da organizao
administrativa, julgue os seguintes itens (UNB Delegado da Polcia Federal/1998):
A) os ministrios, na rbita federal, so centros
de competncia constitudos por diversos rgos subalternos; os juzos de primeiro grau, exceto os da Justia Militar, so rgos estatais titulados por uma s pessoa; o Conselho de Recursos da Previdncia Social rgo cujas decises so tomadas pelo voto do conjunto de seus membros. Esses so exemplos, respectivamente, de rgo colegiado, simples e composto;
B) a doutrina administrativa mais recente firmou o entendimento de que todas as fundaes institudas ou mantidas pelo Poder Pblico tm natureza de autarquia;
C) assim como as sociedades de economia mista, as empresas pblicas e as autarquias, as
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
17
ADMINISTRATIVO DIREITO
fundaes pblicas s podem ser criadas por lei especfica;
D) a Fundao Nacional do ndio (FUNAI) e a Fundao Nacional de Sade (FNS) so exemplos de entes que desempenham servio pblico; elas, assim como as demais fundaes pblicas, submetem-se ao princpio da exigibilidade da licitao;
E) as empresas pblicas e as sociedades de economia mista no se regem integralmente pelas normas de direito privado.
GABARITO 01 02 03 04 05 06 07 08 09
B A * * A C A E * 03. V, V, F, F, F 04. V, V, V, F, F 09. F, F, F, V, V
Anotaes
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPTULO 04 PODERES
ADMINISTRATIVOS
A Administrao Pblica, em funo da sua misso de realizar o interesse pblico, investida de inmeros poderes administrativos, indispensveis a sua atuao. Estes poderes conferem ao Estado as prerrogativas necessrias ao cumprimento do fim pblico. Referidos poderes so: poder vinculado, discricionrio, regulamentar, hierrquico, disciplinar, de polcia.
O Estado, no entanto, em algumas circunstncias, abusa dos mesmos, incorrendo em abuso de poder. Seus agentes, em algumas circunstncias, afastam-se da legalidade. O abuso de poder manifesta-se de duas formas: excesso de poder e desvio de finalidade (desvio de poder).
Incorre em excesso de poder o agente pblico que ultrapassa os limites da legalidade, extrapolando os limites de sua competncia administrativa. A legalidade estrita exige do administrador submisso integral aos ditames da lei. A sua competncia sempre pr-definida. Exorbitando dos limites legais de competncia, incorre em excesso de poder.
No desvio de finalidade, a Administrao Pblica utiliza seus poderes administrativos para atingir um fim diverso do fim legal, ou seja, utiliza o Estado seus poderes para realizar uma finalidade particular ou outro fim pblico reservado a outro ato administrativo.
Os poderes administrativos so: Poder Vinculado, Poder Discricionrio, Poder Hierrquico, Poder Disciplinar, Poder Regulamentar e o Poder de polcia.
Poder Vinculado e Poder Discricionrios no so poderes materiais, ou seja, apresentam-se como qualidades dos outros poderes. No so substantivos. So atributos (qualidades) dos outros poderes. No Poder Vinculado, a Administrao Pblica no tem opo legal, devendo seguir o nico caminho que a lei reserva. No existe opo legal. No Poder Discricionrio, a legislao assegura ao agente pblico vrias opes legais, devendo o mesmo fazer a escolha, dentre as escolhas possveis. A discricionariedade apresenta-se como uma liberdade
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
18
ADMINISTRATIVO DIREITO
legal, ou seja, o servidor pblico tem o direito de fazer uma opo legal.
O Poder Hierrquico assegura ao estado pleno controle da sua estrutura administrativa, que toda hierarquizada. Os rgos, internamente, so dispostos segundo uma estrutura hierarquizada. Ademais, h uma estrutura, tambm hierarquizada, entre os rgos pblicos. Este poder torna possvel a efetivao dos mecanismos de controle interno. A hierarquia estatal outorga ao superior hierrquico a prerrogativa de anular atos ilegais, bem como a de revogar atos inconvenientes praticados por servidores subordinados. Ademais, decorre do poder hierrquico a prerrogativa de delegar competncia a servidores subordinados, bem como de avocar referidas competncias. A delegao de competncia apresenta-se como a regra. Excepcionalmente, no entanto, a lei n. 9784/99 prev como indelegveis a edio de atos de carter normativo, a deciso de recursos administrativos e as matrias de competncia exclusiva do rgo ou autoridade.
O Poder Disciplinar consiste na prerrogativa conferida Administrao Pblica de processar e punir seus prprios servidores pela prtica de infraes administrativas. Os agentes pblicos podem incorrer na prtica de infraes disciplinares (administrativas), alm de uma eventual responsabilidade civil e criminal. Esta responsabilidade administrativa apurada na prpria esfera administrativa, sendo possvel a aplicao de penas pela prpria Administrao Pblica. A lei n. 8112/90 elenca no seu art. 127 as penas que podem ser aplicadas ao servidor pblico que so: advertncia, suspenso, multa, demisso, cassao da aposentadoria ou disponibilidade, destituio do cargo em comisso e destituio da funo comissionada.
O Poder Regulamentar, tambm chamado de Poder Normativo, consiste na prerrogativa que tem o Estado de editar normas gerais e abstratas, esclarecendo o contedo de algumas normas legais obscuras. Este poder, no entanto, infralegal, posto que no pode invadir matrias reservadas lei. A Constituio Federal, no seu art. 84, IV, atribui ao Presidente da Repblica o poder de expedir decretos para a fiel execuo das leis. So os decretos de execuo, tambm chamados de decretos regulamentares. Ademais, afirma ainda o texto constitucional que o Congresso Nacional tem o poder de sustar atos normativos que exorbitem do poder
regulamentar (art. 49, V, Constituio Federal). Uma questo que vem dividindo a doutrina administrativa ptria est associada a existncia ou no de decreto autnomo no Brasil, posto que a Emenda Constitucional n. 32/01 alterou o art. 84, inciso VI da Constituio Federal, determinando que decreto poder disciplinar acerca da organizao administrativa, desde que no implique na criao ou extino de rgos pblicos, nem aumento da despesa prevista em lei, bem como poder tambm extinguir funes ou cargos pblicos, quando vagos. O Brasil passou a ter decreto autnomo, porque tais matrias, reservadas lei, podem agora ser disciplinadas por decreto, como defendem alguns autores. Outros, no entanto, afirmam que a lei, mesmo em relao a estas matrias, continua a ser imprescindvel, permitindo-se agora a delegao ao Poder Executivo, ou seja, matrias que antes eram indelegveis, passaram a ser delegveis. A lei, no entanto, continua a ser necessria.
O Poder de Polcia est conceituado no art. 78 do Cdigo Tributrio Nacional que assim dispe: Considera-se poder de polcia atividade da administrao pblica que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prtica de ato ou absteno de fato, em razo de interesse pblico concernente segurana, higiene, ordem, aos costumes, disciplina da produo e do mercado, ao exerccio de atividades econmicas dependentes de concesso ou autorizao do Poder Pblico, tranqilidade pblica ou ao respeito propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Esta definio est posta no Cdigo Tributrio Nacional porque o exerccio do Poder de Polcia consiste em uma das hipteses de incidncia do tributo taxa (art. 145, inciso III da Constituio Federal e art. 77 do Cdigo Tributrio Nacional). Em linhas gerais, pode-se dizer que o Poder de Polcia o poder que tem o Estado de restringir a esfera individual em favor do interesse pblico nos mais variados setores de atuao humana. Consiste na prpria essncia do Estado. , com certeza, o poder mais presente na nossa rotina diria. No se deve confundir com a polcia judiciria, posto que esta atua em relao ao indivduo, coibindo a prtica de ilcitos penais, auxiliando o Poder Judicirio na persecuo penal, enquanto aquela atua sobre os bens, direitos e atividades.
A doutrina, geralmente, aponta trs caractersticas bsicas do Poder de Polcia. A primeira delas a discricionariedade, posto que o Estado escolhe a forma de atuao, bem como o momento
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/13/Gil
19
ADMINISTRATIVO DIREITO
da fiscalizao. No entanto, em muitas situaes, o Poder de Polcia vinculado, posto que o agente pblico, diante de uma determinada infrao (de trnsito, por exemplo) pode no ter opes legais, devendo seguir o nico caminho que a lei determina. Desta forma, em alguns casos ser discricionrio e em outros, ser discricionrio. A auto-executoriedade prevista tambm como outra caracterstica do Poder de Polcia. Consiste na desnecessidade de interferncia prvia do Poder Judicirio para a implementao dos atos de polcia. O interesse pblico no pode esperar por uma deciso judicial para que possa ser realizado, prescindindo de qualquer deciso judicial. A coercibilidade apresenta-se como outra caracterstica do poder de polcia, outorgando ao Estado a prerrogativa de usar a fora para a implementao dos atos de polcia, em caso de haver resistncia do particular em cumprir as ordens estatais. O uso da fora deve ser feito com prudncia, sem excessos, na medida do indispensvel ao cumprimento das determinaes estatais. Pode-se dizer que a auto-executoriedade poder ser viabilizada pela coercibilidade. Sobre o Poder de Polcia, segue a transcrio de trecho de uma deciso do Superior Tribunal de Justia (STJ), cujo relator foi o Ministro Luiz Fux, acerca do rodzio de carros em So Paulo, que apresenta-se claramente como manifestao do Poder de Polcia que assim dispe: ....Outrossim, no caso, h de se considerar essa restrio circulao de veculos em determinados dias como poder de polcia do municpio, com a finalidade de promover o bem pblico em geral, o qual limita e regulamenta o uso de liberdade individual para assegurar essa prpria liberdade e os direitos essenciais ao homem (1 Turma, julgado em 9/10/2007 Informativo n 335)
EXERCCIOS 01) No atribuio da Administrao Pblica
decorrente do poder hierrquico: A) editar atos regulamentares B) aplicar sanes disciplinares C) avocar e/ou delegar atribuies D) controlar as atividades dos rgos
subordinados E) anular atos ilegais praticados por rgos
inferiores 02) Caso o Poder Executivo exorbite no exerccio de
seu poder regulamentar, a sustao do ato normativo exorbitante compete. A) ao Congresso Nacional.
B) ao Senado Federal C) Cmara dos Deputados. D) ao Tribunal de Contas da Unio. E) ao Ministrio da Justia.
03) A remoo de ofcio de servidor pblico como
punio por algum ato por ele praticado caracteriza vcio quanto ao seguinte elemento do ato administrativo: A) motivo B) forma C) finalidade D) objeto E) competncia
04) Um ato administrativo estar caracterizando
desvio de poder, por faltar-lhe o elemento relativo finalidade de interesse pblico, quando quem o praticou violou o princpio bsico da A) economicidade B) eficincia C) impessoalidade D) legalidade E) moralidade
05) O poder que limita direito, interesse ou
liberdade, regulando a prtica de ato ou a absteno de fato, em razo de interesse pblico concernente segurana, higiene, ordem, aos costumes, disciplina da produo e do mercado, ao exerccio de atividades econmicas dependentes de concesso ou autorizao do Poder Pblico, tranqilidade pblica ou ao respeito propriedade e aos direitos individuais ou coletivos interesse ou liberdade, caracteriza-se como poder A) hierrquico B) disciplinar C) policia D) discricionrio E) vinculado
GABARITO 01 02 03 04 05
A A C D C
-
Prof. Giuliano Menezes OS: 0097/9/12/Gil
20
ADMINISTRATIVO DIREITO
CAPTULO 05 ATO
ADMINISTRATIVO
A administrao pblica, exercendo funo administrativa, normalmente externa a sua vontade atravs de atos administrativos. Referidos atos quando praticados vinculam o Estado, gerando, inclusive responsabilidade por eventuais prejuzos, quando causarem algum prejuzo a terceiro.
O ato administrativo, em funo das
prerrogativas estatais, goza de alguns atributos, tais como: Presuno de Legitimidade, Imperatividade e Auto-Executoriedade. A presuno de legitimidade decorre do princpio da Legalidade, posto que, a atuao do estado presumivelmente de acordo com a lei. O Estado s pode atuar quando a lei previamente lhe autoriza que o faa. Esta presuno, no entanto, no absoluta, posto que, o particular, prejudicado com o ato administrativo, pode desconstituir a presuno de legalidade do ato administrativo, atravs de recursos administrativos ou atravs de ao judicial. A presuno de legalidade relativa, ou seja, trata-se de uma presuno juris tantum que pode ser desfeita com prova em contrrio.
O ato administrativo imperativo pelo fato de
ser o particular obrigado a cumprir as determinaes impostas pelo Estado independentemente da sua vontade, ou seja, a sua vontade irrelevante para o surgimento da sua obrigao diante do Estado. A Administrao Pblica, objetivando a realizao de fins estatais, precisa frequentemente impor obrigaes aos particulares, no sendo razovel a exigncia de concordncia do particular, a fim de que seja obrigado a cumprir determinada imposio estatal. A aplicao de uma multa por uma autarquia de trnsito no depende da vontade do particular para existir. Um decreto de desapropriao vai constituir o particular em obrigao mesmo que o desapropriado no concorde com a medida estatal.
A auto-executoriedade confere ao Estado a
prerrogativa de praticar o ato administrativo independentemente de autorizao do Poder Judicirio. O ato administrativo auto-executvel, prescindindo de uma interveno judicial. A urgncia da realizao do interesse pblico no pode est condicionada a uma deciso judicial antecipa