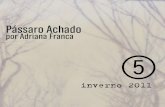Direito Achado Na Rua
description
Transcript of Direito Achado Na Rua

O DIREITO ACHADO NA RUA
RESUMO
Os movimentos sociais têm muita importância no processo contínuo da reinterpretação,
reinvenção e contemplação das normas, tanto constitucionais quanto as infraconstitucionais.
Costuma-se canalizar, nestes movimentos sociais, as demandas dos grupos que se sentem excluídos, feridos, levando a discussão pública temas até então irrefletidos. Assim é o Direito
Achado na Rua, expressão criada pelo jusfilósofo Roberto Lyra Filho, fundamental contribuinte
com o permanente processo, através de sua linha de pesquisa sediada na Universidade de
Brasília, de (re) interpretação do Direito, movimentando a dialética social e as vertentes
jurídicas alicerçadas no conservadorismo extremo além da cultural (seja ela política, educacional, filosófica, etc.), fazendo contribuir e enxergar que o Direito não é algo pronto e
acabado, mas um ‘vir a ser em-sendo’, reflexionando a atuação jurídica sobre dos novos
sujeitos coletivos de direito e das experiências por eles desenvolvidas. Busca-se resgatar o
direito à todos os povos, mesmo sendo ele (o direito pleiteado) contra, à favor ou para além das
normas já institucionalizadas. O respectivo tema envereda-se contra o seu único e próprio modo de produção de normas, de infraestrutura e consequentemente de classes na sociedade brasileira e que pouco distribui igualdade e/ou liberdade.
Palavras Chaves: Movimentos Sociais, dialética do direito, sujeitos coletivos de direito.
1 INTRODUÇÃO
O Direito Achado na Rua foi expressão criada pelo jurista brasileiro LYRA FILHO (1982) onde
defende que o Direito não surge somente do Estado, onde este é diretamente ligado à classe dominante.
Diante desta dialética, o professor SOUSA JÚNIOR (2008) caracteriza o direito àquele que
surge da sociedade, dos espaços públicos e das ruas, protagonizado em locais públicos, reinventando o próprio Direito para uma nova cultura de cidadania e participação democrática.
Destarte, o Direito Achado na Rua, conforme aduz SOUSA JÚNIOR (2008), reconhece o papel do Estado como monopólio da declaração de direitos, porém, pode o Direito ser muito mais
abrangente, emergindo da sociedade e não esgotando-se da anunciação legal que o Estado
produz, ou seja, continua havendo direito para além da própria lei que o mesmo dita.
2 O DIREITO ACHADO NA RUA E SEU ENTENDIMENTO ATUAL
Após mais de trinta anos da publicação do livro “O que é Direito” do autor LYRA FILHO (1982), este faz-nos pensar que o Direito é mais que um conceito derivado do positivismo, sistema
dotado de sanção e coação, mas sim de um modelo avançado de legítima organização social
da liberdade, conforme processo social da História. Conforme LYRA FILHO (1982):
O processo social, a História, é um processo de libertação constante (se não fosse, estávamos, até hoje, parados, numa só estrutura, sem progredir); mas, é claro, há avanços e recuos, quebras do caminho, que não importam, pois o rio acaba voltando ao leito, seguindo em frente e rompendo as represas. Dentro do processo histórico, o aspecto jurídico representa a articulação dos princípios básicos da Justiça Social atualizada, segundo padrões de reorganização da liberdade que se desenvolvem nas lutas sociais do homem. Quando falamos em Justiça, entretanto, não nos estamos referindo àquela imagem ideológica

da Justiça ideal, metafísica, abstrata, vaga, que a classe e grupos dominantes invocam para tentar justificar as normas, os costumes, as leis, os códigos da sua dominação (LYRA FILHO, 1982, p.53).
Parafraseando MIRANDA (2007), a “rua” aqui é concebida como uma metáfora para
representar os espaços sociais onde lutas por justiças, liberdades, igualdade e reconhecimento
é travada cotidianamente. E para resgatar a dignidade política do direito e sua legitimidade, é preciso buscar nesses espaços sociais os significados para os enunciados normativos, o
estímulo para ir além desses enunciados, e a inspiração para criar normas, confrontar as
antigas e validar as existentes.
O Direito Achado na Rua tem como principal alicerce, além do protagonismo dos movimentos
sociais, a busca da liberdade, da qual, segundo SOUSA JÚNIOR (2008), é um processo que se faz ao longo do tempo, não sendo dom ou destino. “A liberdade não existe em si, senão da
prática de raiz efetivamente livres, das quais o Direito é comumente a sua expressão, pois ela é
a sua afirmação histórica” (SOUSA JÚNIOR, 2008, p.125).
Se Boaventura de Sousa Santos nos oferece os caminhos metodológicos para resgatar a voz dos movimentos, grupos e culturas que foram insistentemente silenciados pela modernidade, Roberto Lyra Filho nos mostra os caminhos teóricos para que essas vozes possam ressoar no direito. Nos seus textos, o autor defende um direito da libertação, que seja a legítima organização da liberdade, livre dos dogmas que o torna estático, e que seja reflexo dos anseios de grupos oprimidos e espoliados. Nesse sentido, as lutas sociais se convertem em pólos irradiares do direito, havendo um rompimento com a ideologia tradicional e positivista, que restringe o direito às leis estatais e reconhece apenas o Estado como legitimo criador do direito. Roberto Lyra Filho propõe um alargamento do próprio conceito de direito, substituindo a teoria monista do direito (segundo a qual este emana do Estado) por uma teoria pluralista do direito (na qual ele representa fruto das lutas sociais) (MIRANDA, 2007, p.29).
“Define-se bem esse modelo pluralista, ao conceituá-lo como aquele que localiza na sociedade
civil organizada centros de poder e de produção do direito, mas, inserido este numa dimensão dialética social e histórica, evitando recorte sincrônico e antropológico” (CORTÊS apud
MIRANDA, 2007, p.29).
O Direito Achado na Rua é um pensamento jurídico, comprometido com uma concepção de Direito e Justiça, opondo-se ao modelo sustentado pelo neoliberal (conservador, individual,
patrimonialista e uma justiça voltada para satisfação de interesses econômicos) e que, também, vem enfrentando o conjunto que propulsiona a exclusão social, salienta CARLET
(2010).
Para Marilena Chauí, as sociedades verdadeiramente democráticas consideram os conflitos e as reivindicações sociais como legítimos, buscando instituí-los como direitos e exigindo que sejam reconhecidos e respeitados, o que significa que estas sociedades devem garantir a abertura ‘do campo social à criação de direitos reais, à ampliação de direitos existentes e à criação de novos direitos’. É por isso que Alexandre Bernardino Costa também já referiu que a práxis que atualiza o Direito se faz para além das instituições estatais, pois ‘se constrói e reconstrói nos seio da sociedade, nas lutas dos movimentos sociais, nos espaços públicos onde cidadãos dotados de autonomia pública e privada vivem sua auto legislação: na rua ( CARLET, 2010, p.87).

É através da Sociologia Jurídica que pode-se abarcar tal assunto, pois é dela que pode-se
examinar o Direito, como elemento geral do processo sociológico, em qualquer estrutura dada,
de tal sorte que se tem o Direito como instrumento, ora de controle, ora de mudanças sociais,
salienta SOUSA JÚNIOR (2008).
Roberto Lyra Filho foi o responsável pela criação de uma teoria crítica brasileira do direito, cuja matriz é o humanismo dialético, posteriormente transformado da NAIR – Nova Escola Jurídica Brasileira. Humanismo porque coloca o homem no centro das transformações necessárias para vencer os determinismos. Ou, como define José Geraldo de Sousa Júnior, porque procura restituir a confiança (do homem) de seu poder de quebrar algemas que o aprisionam nas opressões e espoliações que a alienam na História, para se fazer sujeito ativo, capaz de transformar o seu destino e conduzir a sua própria experiência na direção de novos espaços libertadores. Dialético porque são lutas sociais entre oprimidos e opressores, espoliado e espoliadores que geram a síntese necessária que assegura legitimidade ao Direito. Com isso, Lyra Filho buscava encontrar uma refundamentação dos direitos humanos, conforme o processo concreto da humana libertação (MIRANDA, 2007, p. 28).
Diante disto, através do estudo da Sociologia Jurídica, abarcando especificamente o Direito
Achado na Rua, que se pôde identificar um elemento essencial para a transformação do
ordenamento jurídico, que são os novos movimentos sociais dirigidos pelos sujeitos coletivos de direito, (SOUSA JÚNIOR, 2008).
A partir da constatação derivada dos estudos acerca dos chamados novos movimentos sociais, desenvolveu-se a percepção, primeiramente elaborada pela literatura sociológica, de que o conjunto das formas de mobilização e organização das classes populares e das configurações de classes constituídas nesses movimentos instaurava, efetivamente, práticas políticas novas em condições de abrir espaços inéditos e de revelar novos atores na cena política capazes de criar direitos (SOUSA JÚNIOR, 2008, p.146).
Em regra geral, “sujeitos coletivos de direito surgem operando um processo pela qual carência social contida na reivindicação dos movimentos é por eles percebida como negação de um
direito, o que provoca uma luta para conquistá-lo” (SOUSA JÚNIOR, 2008, p. 147).“Nestes espaços, a cidadania é ativa, portanto abarcando, consequentemente, criação dos direitos, da
garantia dos direitos, da intervenção e participação direta no espaço da decisão política”
(CHAUÍ apud SOUSA JÚNIOR, 2008, p.149). Pois, o Direito Achado na Rua, debate-se tanto em se ter acesso à justiça e ao direito, tendo como fonte material para o Direito o próprio povo
e de seu protagonismo a partir da rua – evidente metáfora de esfera pública, conforme SOUSA JÚNIOR (2008).
No contexto do capitalismo periférico latino – americano, o diálogo entre autores como Roberto Lyra Filho, Roberto Aguiar e José Geraldo de Sousa Júnior, que adotam a concepção de O Direito Achado na Rua, possui um tratamento desmitificador do pensamento jurídico, na perspectiva da abertura de um campo de possibilidades na interpretação das normas jurídicas fundado em uma concepção crítica do direito (COSTA; ASSIS, 2010, p.5898)
O seu tema não é debatido apenas na academia, entre intelectuais, mas em dimensões
públicas, tendo um auditório muito mais ampliado, do pensamento empírico, engendrando
manifestações e uma acertada circulação de opiniões, salienta SOUSA JÚNIOR (2008). “O
Direito Achado na Rua abre alternativas ao direito oficial que permitem ‘outros modos de

conhecer as regras jurídicas’, pois parte da perspectiva de que o direito, em uma realidade
plural e complexa, é uma prática social que ocorre no processo histórico” – (COSTA; ASSIS
2010)
O projeto teórico – prático O Direito Achado na Rua, criado na UnB, está inserido no eixo do pluralismo crítico, ora discutido, em uma perspectiva emancipatória, por desenvolver uma crítica jurídica de perspectiva dialética a partir do método histórico – crítico, apresentando uma proposta de compreensão do direito ‘enquanto modelo de uma legítima organização social de liberdade’ (COSTA; ASSIS, 2010, p.5898)
Porquanto, o desenvolvimento do direito não está somente na legislação, doutrinas,
jurisprudências e normas, mas na própria sociedade, que deseja e reivindica o direito e,
infelizmente, os estudos no direito são feitos a partir da lei, normas, sistemas jurídicos, como se fossem “órfãos” do contexto histórico, culturas sociais e econômicos, na qual estes lhe dão
origem, preleciona MIRANDA (2007).
A lei sempre emana do Estado e permanece em uma análise, ligada a classe dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos que regem a sociedade politicamente organizada fica sob o controle daqueles que comandam o processo econômico. (...) Embora as leis apresentem contradições que não nos permitem rejeitá-las sem exame, como pura expressão dos interesses daquela classe, também não se pode afirmar que toda legislação seja autêntico, legítimo e indiscutível (...). A legislação sempre abrange em maior ou menor grau Direito e Antidireito: isto é, Direito propriamente dito, reto e correto, e negação do direito, entortado pelos interesses classísticos e caprichos continuístas do poder estabelecido (LYRA FILHO, 1982, p.8).
Por isso mesmo deve-se desvelar o papel que o Direito pode desempenhar, enxergando-o não
somente como meio de controle social e regulação para a manutenção da ‘paz e segurança’, mas, sobretudo voltado para as transformações sociais e à libertação em consonância com o
direito autêntico, (CARLET, 2010, p.24).
Muito tem-se registrado que o Estado, além de não legislar um direito legítimo adequadamente,
usa-se da legislação como uma simbologia, conforme NEVES (2011). Isto é um problema que
se enfrenta em atuais Estados Democráticos de Direito que criam legislações-álibis, criando assim uma imagem favorável ao Estado que concerne suposta resolução de problema social e
fórmula de compromisso dilatório, ratifica NEVES (2011), onde “o direito é usado meramente para dominação e injustiças, não se engendrando assim um direito” (DALARI apud LYRA
FILHO, 1982, p.14).
3 ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDÊNCIAIS
O Direito Achado na Rua, caracteriza-se por aludir a ideia do Direito que emerge,
transformadora dos espaços públicos – a rua – onde, propriamente, dá-se a formação da sociabilidade e que permitem abrir consciência para novos sujeitos para uma cultura de
cidadania e participação democrática, (COSTA et al, 2009).
É um movimento dialético - crítico, que trabalha com a reconceituação do direito, pelo desenvolvimento de práticas jurídicas renovadas, do aprofundamento de discussão sobre a
cidadania e a paz. Com isto, origina-se a configuração de uma categoria dinamizadora da
teoria do direito – o sujeito coletivo de direito – servindo à orientação de diversos organismos
de defesa de direitos constituídos pelos movimentos sociais no seio da sociedade civil,
(SOUSA JÚNIOR, 2008).

O livro “O que é Direito” do doutrinador LYRA FILHO (1982), aborda o “Direito no eixo do
pluralismo crítico, numa perspectiva emancipatória, por desenvolver uma crítica jurídica de
perspectiva dialética a partir do método histórico – crítico, apresentando uma proposta de
compreensão do direito enquanto modelo de legítima organização social” (COSTA; ASSIS,
2010). E dentro deste contexto passou a designar uma linha de pesquisa chamada Direito Achado na Rua inicialmente dirigida pelo então falecido LYRA FILHO (1982) e que hoje é
liderado SOUSA JÚNIOR (2008), sediado na Universidade de Brasília com 05 volumes já
publicados, sendo eles, respectivamente:
O Direito Achado na Rua – Introdução Crítica ao Direito (Vol. 1) nasceu na própria rua, da
solicitação de advogados e advogadas populares que atuavam para os mais diversos movimentos e entidades de defesa de direitos humanos. Assim, a produção deste primeiro
volume teve como propósito ser objeto e produto de reflexão da práxis social constituída na
experiência comum de luta por justiça e por direitos, (APOSTOLOVA et al, 2012);
O Direito Achado na Rua – Introdução Crítica ao Direito do Trabalho (Vol.2) veio a atender
aqueles que se defrontavam com os desafios do mundo do trabalho em meio a uma sociedade capitalista, (APOSTOLOVA et al 2012);
O Direito Achado na Rua – Introdução Crítica ao Direito Agrário (Vol. 3) aprofundou os
problemas do principal aspecto da sociedade capitalista em como está sendo o uso da terra, da
propriedade, expondo uma experiência de reflexão partilhada não apenas com os principais atores e movimentos que descortinam o horizonte de justiça para a redefinição da propriedade
fundiária no Brasil, mas com todos que têm buscado na prática e na teoria, encontrar sentido e razão para a ação política que deriva dessa experiência, (APOSTOLOVA et al, 2012);
Em seu quarto módulo, o livro Direito Achado na Rua: Introdução Crítica ao Direito à Saúde,
trás o estudo das articulações dos movimentos sociais em detrimento do direito à saúde, sobretudo nos anos de 1980, principalmente com o advento da Constituinte de 1987-1988, que
contribuiu para a ampliação do direito à saúde através de lutas dos movimentos sociais pela reforma sanitária (APOSTOLOVA, et al, 2012). Nesse diapasão, constrói-se a ideia de um
sistema de saúde no Brasil (e que depois fora traduzida para a Constituição Federal do Brasil),
na representação do Sistema Único de Saúde (SUS), baseado na descentralização das ações e serviços de saúde, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral e
universal com prioridade para as atividades preventivas e participação social para a definição e o controle das ações do sistema, (COSTA et al, 2009);
No quinto volume O Direito Achado na Rua – Introdução Crítica ao Direito das Mulheres abarca
sobre um projeto sediado no Distrito Federal há sete anos chamado Direitos Humanos e Gêneros: Promotoras Legais Populares, na qual mobilizam professores (as), advogados (as),
integrantes de entidades não governamentais, agentes do Ministério Público e de outros setores do Estado para que participem como interlocutores em um curso de educação jurídica
popular voltada para mulheres de perfis econômico, sociais e culturais diferenciados,
(APOSTOLOVA et al, 2012).
E dentro desta linha de pesquisa, foi elaborada uma tese de doutorado, defendida na
Universidade de Brasília, pelo ex – Reitor da UnB e Doutor José Geraldo de Sousa Júnior, para obtenção de título de Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, através do
respectivo trabalho intitulado “Direito como Liberdade: O Direito Achado na Rua – Experiências
Populares Emancipatórias de Criação do Direito”, (SOUSA JÚNIOR, 2008).
Esta tese foi resultado de um trabalho simultaneamente político e teórico, trazendo consigo todo o conhecimento desenvolvido pela linha de pesquisa Direito Achado na Rua. É cediço

ressaltar que esta mesma foi organizada para capacitar assessorias jurídicas de movimentos
sociais para que possam ajudar no reconhecimento, através da atuação jurídica, dos novos
sujeitos coletivos de direito e das experiências por eles realizadas para a criação do direito.
Esta defesa também teve por objetivo identificar o espaço político no qual se desenvolvem as
práticas sociais que enunciem direitos ainda que contra legem, definindo a natureza jurídica do sujeito coletivo capaz de elaborar um projeto político de transformação social e, ainda,
elaborando a sua representação teórica como sujeito coletivo de direito e enquadrando os
dados derivados destas práticas sociais criadoras de direitos e estabelecendo novas
categoriais, salienta SOUSA JÚNIOR (2008).
Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número 144-7/DF proposta pela Associação de Magistrados Brasileiros ao Supremo Tribunal Federal (STF), dispõem
sobre a inelegibilidade daqueles que sofrem processo penal visando a moralização do
processo eleitoral brasileiro, pretendendo assim a possibilidade dos juízes eleitorais vetarem
candidaturas de réus em processos penais ainda não transitado em julgado. Em 06 de agosto
de 2008, os ministros da Suprema Corte, em sua maioria, votou pela improcedência da ação, evidenciando assim um descontentamento social, (CRISTINA DA SILVA; OLIVEIRA, 2011,
p.36).
A sociedade civil brasileira inteirava-se da ADPF nº 144-7/DF e pressionava mediante
manifestações por opinião de que seria uma mudança positiva, impossibilitando a candidatura de pessoas com “ficha suja” e moralizar o processo eleitoral no Brasil. Destarte, o Presidente
do STF Gilmar Mendes, em audiência da referida ADPF no dia 06 de agosto de 2008, juntamente com alguns dos ministros da Suprema Corte, votou pela improcedência da ação,
não deixando-se acatar pela decisão contrária da maioria que reivindicam pela condenação dos
réus do processo (STF, 2008), dizendo que o “Direito deve ser achado na lei e não nas ruas”, Mendes (2008).
4 DOS DIREITOS ACHADOS NAS RUAS
O direito não é algo “perfeito e acabado”, conforme anuncia SOUSA JÚNIOR (2008) e LYRA
FILHO (1982), sendo ele fundamentadamente complexo e dinâmico e que deve-se partir para
uma visão dialética, como uma forma global, de modo a compreender os conflitos sociais e as contradições internas advindas de uma dada legislação existente, engendrando assim na
perspicácia do processo de efetivação, na ampliação e criação de novos e legítimos direitos, conforme CARLET (2010).
(...) para que o Direito desempenhe esse papel é preciso um radical “des-pensar do direito”, quer dizer, reinventá-lo de modo adequar-se às reivindicações dos grupos sociais e das organizações que lutam por alternativas à globalização neoliberal. Nessas condições, (...), o Direito poderia assumir uma componente significativa para o aprofundamento da globalização contra-hegemônica (CARLET, 2010, p.22).
Destarte, perceber-se-á que a sedimentação dos sujeitos coletivos de direito deu-se por
advento da redemocratização do Brasil com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988
fertilizando um ambiente democrático reanimando a cidadania, facultando ao pleiteante o ingresso no Judiciário, que anteriormente à promulgação desta nova Carta Magna era apenas
um departamento técnico-especializado, objetivando o reconhecimento dos direitos na qual o legislador deu causa ao chamado constitucionalização abrangente (BARROSO, 2009), ou
constitucionalização simbólica aos auspícios de NEVES (2011), por meio da judicialização ou o
ativismo judicial, conforme BARROSO (2009).

A Carta brasileira é analítica, ambiciosa, desconfiada do legislador. Como intuitivo, constitucionalizar uma matéria significa transformar Política em Direito. Na medida em que uma questão – seja um direito individual, uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial. Por exemplo: se a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a exigência desses dois direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou políticas públicas praticadas nessas duas áreas (BARROSO, 2009. p.4).
A judicialização dignifica-se ao emergir questão de larga repercussão política ou social e que
resolvem-se por órgãos do Poder Judiciário e não pelas instâncias tradicionais (Congresso
Nacional e Poder Executivo), envolvendo uma transferência de poder para juízes e tribunais
com alteração na linguagem, argumentação e modo de participação sociedade, (BARROSO,
2009).
Ativismo judicial é uma atitude, em modo específico e proativo de interpretar a Constituição,
expedindo o seu sentido e alcance, associando-se a uma participação ampla e intensa na
concretização dos valores e fins constitucionais, com maior atuação e interferência no espaço
do Legislativo e Executivo. Instala-se em situações de retração do Poder Legislativo, de certo deslocamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais
sejam atendidas de maneira efetiva, certifica BARROSO (2009).
O ambiente democrático reavivou a cidadania, proporcionando melhor informações e
consciência de direitos, assim como a expansão institucional do Ministério Público para além
da atuação estritamente penal, como também fortaleceu presença crescente da Defensoria Pública. Resumindo: a redemocratização expandiu o Poder Judiciário, aumentando assim a
demanda da sociedade por justiça, (BARROSO, 2009).
É relevante observar do quão importante está sendo o exercício do Ministério Público no Brasil,
fundamentando a sua legitimidade para a defesa dos interesses metaindividuais no corpo
social através da participação social e do regime democrático de Direito, não tendo como perspectiva a Teoria Clássica de Direitos Humanos, mas sim de uma Teoria Crítica, baseada
nos escritos do jusfilósofo espanhol Joaquín Herrera Flores, para a construção do Direito, salienta ROJAS (2012).
(...) os direitos humanos não são direitos e sim produtos culturais, resultados de processos culturais de luta das pessoas pelos bens da vida sem que isso se dê de maneira hierarquizada. Assim ocorre porque os acesso aos bens – materiais ou imateriais – são desiguais na realidade. O objetivo buscado pela Teoria Crítica dos Direitos Humanos é a garantia da dignidade das pessoas. Essa teoria parte da constatação de que valorativamente tudo é convencional e não transcendental ou essência. Por isso, a universalização dos direitos humanos é um processo cultura (ROJAS, 2012, p. 38).
Outrossim, o Direito Achado na Rua evidencia-se por usar de métodos, além do científico-
doutrinário, no Judiciário – podendo ser identificada pelo processo de judicialização ou ativismo judicial análogo às ideias de BARROSO (2009) – quanto no Legislativo (participação popular),
ambos por intermédio dos representantes dos sujeitos coletivos de direitos ou por eles
mesmos, afim de contraporem a retórica ideal positivista frente à teoria crítica e totalizadora do
Direito desenvolvida por meio da dialética existente nos espaços sociais (rua), (LYRA FILHO, 1982).

4.1 DIREITO ACHADO NA RUA: DIREITO PELA TERRA
Diante da idéia apresentada anteriormente, é possível frisar e demonstrar alguns direitos que
foram conquistados à partir de estratégias políticas e/ou judiciárias, assim como pelas “brechas
da lei”, tendo como protagonismo a sociedade civil organizada ou instituições jurídicas que se
contemplam a lutar pelos direitos dos mais necessitados (pobres), tornando assim uma possível (e legítima) interferência no fenômeno jurídico legal. Uma destas possibilidades, em
que se exercita-se a dialética crítica do Direito Achado na Rua, está a advocacia popular que
tem possibilitado o acesso ao direito aos movimentos sociais de luta pela terra. Verificou-se,
isto, na tese de mestrado defendida na Universidade de Brasília pela pesquisadora CARLET
(2010):
que a advocacia popular tem produzido impactos importantes no campo social, jurídico e institucional notadamente no que se refere a decisões do Poder Judiciário mais avançadas e sensíveis à causa social e a um paradigma interpretativo da lei que privilegia o direito coletivo e os direito humanos fundamentais (CARLET, 2010, p. 6).
Um dos principais cernes para caracterizar a advocacia popular está interligado aos
destinatários desta prática, ou seja, pertencem (estes destinatários) a uma coletividade,
ultrapassando o indivíduo, grupo, família, carência, ou; em alguns casos a da miséria, certifica
Carlet (2010, p. 10). Segundo a autora:
Os destinatários da advocacia popular são, portanto, grupos organizados coletivamente, vítimas das graves injustiças sociais, e que veem na atuação conjunta e organizada um instrumento de transformação social e de concretização de direitos. São uma coletividade em situação de pobreza, organizada em torno da proteção e efetivação de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, especialmente de pão, casa e trabalho digno (CARLET, 2010, p. 65).
Insta salientar que o núcleo orientador do trabalho do advogado popular está fundamentado
num compromisso com os anseios populares, com as causas sociais ou ainda interesses coletivos demandados, afirma CARLET (2010).
Por isso mesmo, Sousa Júnior vem afirmando o que ele chama de ‘elemento pedagógico da assessoria jurídica popular’. Para ele, este elemento encontra-se traduzido tanto na intermediação do diálogo que esta prática realiza entre diferente atores (academia, operadores do direito e ativistas), quanto na tarefa de não realizar-se isoladamente, nem de modo subordinado. Não por acaso, Sousa Júnior identifica neste elemento as condições para uma ‘prática social emancipatória’. (CARLET, 2010, p.70).
Ao lado desta atuação da advocacia popular, encontra-se um pensamento crítico e concepção de Direito e Justiça que é o Direito Achado na Rua, inspirado nas ideias de LYRA FILHO (1982)
e SOUSA JÚNIOR (2008), ensinando-nos que o Direito não é algo “perfeito e acabado”.
A advocacia popular tem sido testemunha deste processo de efetivação, ampliação e criação de direitos, notadamente no que tange às lutas pela reforma agrária promovidas pelos movimentos sociais de luta pela terra, uma vez que – diante da escandalosa estrutura fundiária – tem utilizado como principal estratégia política para a realização desta reforma, ocupações onde há grande concentração de terras que não cumprem sua função social. Assim, buscam chamar a atenção da sociedade e dos poderes públicos para pobreza,

as desigualdades sociais e as violações de direitos humanos das quais são vítimas (CARLET, 2010, p.87).
Destarte, as pretensões que buscam a redoma da labuta da advocacia popular estão,
paralelamente, traduzidas nos direitos humanos fundamentais como os da liberdade, moradia, terra, alimentação, trabalho, educação, saúde e etc., explica CARLET (2010). No caso da
citação supracitada, a Constituição Federal Brasileira de 1988 é considerada como principal
instrumento de defesa, sendo alguma delas:
As normas e os princípios constitucionais mais explorados em seu cotidiano, referem-se ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); ao princípio da prevalência de uma sociedade livre, justa e solidária e o de erradicar a pobreza, a marginalização e a redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III); ao cumprimento da função social da propriedade (art. 5º, XXIII), aos direitos sociais (art.6º); às garantias constitucionais no âmbito penal (art. 5º, XXXIX, LIV, LXV, LXVIII e art. 93, IX) e à política de reforma agrária (arts.184 e 186) (CARLET, 2010, p.94).
Exemplo que elucida resultado da prática da advocacia popular com a teoria crítica do Direito
Achado na Rua, na qual possibilita resultados a uma determinada sociedade civil organizada
(ou juridicamente organizada, mas com fulcro às causas sociais e marginais) no âmbito das
ações possessórias com a finalidade de legitimar a posse às famílias que coletivamente ocupam um determinado terreno:
Em 1998, 600 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que até então encontravam-se acampadas nas margens da rodovia BR – 285, ocuparam a Agropecuária Primavera (também conhecida como Fazenda Primavera, imóvel rural situado no Estado do Rio Grande do Sul. Diante da ocupação, a empresa ajuizou uma ação de reintegração de posse para a retirada imediata dos ocupantes. A decisão judicial de primeira instância concedeu a liminar de reintegração em favor da empresa. Para contesta tal decisão, foi ajuizado o recurso de Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cujo despacho do desembargador de plantão acabou por suspender a execução da reintegração de posse nos seguintes termos: “Como estamos em sede de proteção judicial a posse, temos que, quando o inciso III do artigo 282 do CPC fala em fundamento jurídico, na verdade está a se referir ao requisito da função social que a Constituição Federal traz para possibilitar o exercício do direito da propriedade. Em outras palavras, não basta afirmar na petição inicial como fundamento jurídico apenas a propriedade, pois ‘jurídico’ é o ‘fundamento’ que – de acordo com a Constituição Federal – se assenta também na função social da propriedade. Fora disso, se estará – indevidamente – sonegando, impedindo, silenciando e afastando a incidência da Constituição Federal no processo judicial. A Constituição Federal obriga o juiz, a enfrentar, ainda que sem requerimento da parte, o tema pertinente a função social da propriedade.
(...) Com efeito, a Constituição Federal, ao garantir o direito de propriedade e possessório que lhe é inerente, em seu artigo 5º, incisos XXII e XXIII, condicionou seu exercício ao atendimento de uma garantia maior, qual seja, a de que este exercício do poder dominial em toda sua amplitude fica limitado ao atendimento de sua função social. Respeitante à terra, mãe provedora de todos nós, já que a extração de nossa subsistência a ela se liga diretamente, deve

atender não apenas ao sentido funcional direto, de ser produtiva, senão, também, a um sentido oblíquo, considerado o tempo e o lugar em que os fatos se dão, de garantir o abrigo seguro, a casa, a moradia, o sustento do povo, que um exame mais teleológico é seu verdadeiro senhor” (CARLET, 2010, p. 97-98).
Entretanto, este caso da Fazenda Primavera, notabilizou-se o acesso à justiça e ao direito,
engendrando a desapropriação do imóvel para fins de reforma agrária, ao modo que centenas
de pessoas foram assentadas e tiveram seus direitos sociais garantidos, conforme elucidou na
ilação, como moradia, alimentação, educação e trabalho, salienta CARLET (2010).
4.2 DIREITO ACHADO NA RUA: DIREITO A ALIMENTAÇÃO
Outro direito conquistado e garantido por meio da luta promovida pelos movimentos sociais,
assemelhando-se ao trabalho da advocacia em prol da reforma agrária, foi o reconhecimento
que todos os brasileiros tivessem o direito de alimentarem-se adequadamente. Para a
obtenção deste direito, fora preciso intensos debates públicos e da dramatização de situações
de exclusões na esfera pública, fazendo compreender da igualdade entre os sujeitos de direitos pelo direito de todos se verem livres da fome, ratifica ROCHA (2008). “Este trabalho
compreende a alimentação como a possibilidade de todos os indivíduos verem-se imersos em
relações sociais que lhes garantam o gozo de alimentos saudáveis, prazerosos, que respeitem
a diversidade cultural e sejam ambientalmente sustentáveis” (ROCHA, 2008, p.10).
A luta pelos direitos achados nas ruas opõem-se a teleologia, crendo que o processo histórico
pela luta dos direitos não dá-se à maneira linear e sim contextual, ou seja, valores e direitos nas ribaltas interpretativas do seu contexto histórico, desde os rincões de sua origem até na
normatividade plena, onde ter-se-á o direito material, (LYRA FILHO, 1982).
Compreendendo todo o contexto histórico sem fragmentá-lo, Josué de Castro desnaturalizou o problema da fome, desconstruindo este tabu para a civilização, pois até a década de 40 do
século XX havia escassos escritos sobre essa mazela, salienta ROCHA (2008). O autor é o maior símbolo do movimento emergente que questionava a fome, enfrentando sensos-comuns
e rompendo a lógica economicista que era dominante, pois a qualidade de vida deveria atingir a
todos, ressalta ROCHA (2008).
A ausência de discussões públicas sobre o tema teve consequência direta no texto constitucional: não há nenhuma menção ao direito à alimentação adequada. Era fundamental romper com os preconceitos que envolviam o tema, para que a luta por reconhecimento obtivesse êxito. Era necessário convencer os próprios movimentos sociais de que o combate à fome podia se realizar de forma não assistencialista (ROCHA, 2008, p.40).
A partir da ideia exposta anteriormente, sendo adequadamente dramatizado tal problema (fome) na esfera pública e levada à reflexão coletiva, torna-se possível tirar a mazela da
invisibilidade e ensinando as gerações posteriores que era um grave problema a ser enfrentado em uma sociedade. “Os estudos de Josué de Castro possibilitaram que a fome fosse conduzida
à discussão pública como um problema social, que gerava exclusão. A descoberta da fome foi
o passo inicial em direção ao reconhecimento da alimentação como um direito” (ROCHA, 2008, p.35).
Reflexões públicas estão diretamente associadas a criação e resignificação de conceitos, que possibilitarão a comunicação. A linguagem é construída intersubjetivamente e traz em si uma carga semântica como resultado do processo histórico. As reflexões democráticas resignificaram conceitos como

fome e segurança alimentar, ampliando seus horizontes, o que permitiu avanço das discussões públicas (ROCHA, 2008, p.35-36).
O direito à alimentação tornou-se possível devido ao surgimento de uma interpretação
adequada (não fragmentada e sim contextualizada) em seu determinado momento histórico ganhando forças quando enraizado nos movimentos sociais, onde o cidadão emancipou-se
sendo merecedor de igual respeito e consideração. Insta salientar que Josué de Castro, além
de cientista, era membro e importante porta voz dos movimentos sociais, como deputado
federal e como presidente da Organização das Nações Unidas e para a Agricultura e
Alimentação (FAO), (ROCHA, 2008).
O direito a alimentação é fruto das lutas sociais, da demanda de grupos excluídos, que permitiram que a fome fosse questionada publicamente e seu enfrentamento se tornasse uma obrigação social. Somente após um longo processo de aprendizado histórico e de lutas por direitos foi possível afirmar que privações alimentares desrespeitam o princípio de igual tratamento que norteia o direito (ROCHA, 2008, p.15).
Segundo ROCHA (2008), a segurança alimentar não tivera nenhuma relevância na Assembleia Constituinte de 1987, mas aos poucos o movimento pelo direito a alimentação obtivera
algumas vitórias, tanto pela conscientização dos movimentos sociais, quanto políticas
legislativas e executivas.
Coube aos movimentos sociais dramatizar suas demandas na esfera pública e lutar politicamente valendo-se da linguagem de reconhecimento proporcionada pelo direito. Como passo dessa disputa foi aprovada, em 2006, a LOSAN, que institui o direito à alimentação como princípio fundamental. A formalização desse direito não é o fim da luta por reconhecimento, mas importante etapa. O Estado brasileiro reconheceu que para todos sejam tratados com igual respeito e consideração, devem estar imersos em relações sociais que proporcionem a alimentação adequada (ROCHA, 2008, p.142).
Para ROCHA (2008), a identificação do direito a alimentação como preceito fundamental, fora preciso diversos fóruns de participação popular, sendo quatro deles: a Relatoria Nacional pelo
Direito a Alimentação, a Rede de Educação Cidadã/TALHER, o Conselho de Segurança
Alimentar e a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
A Relatoria Nacional pelo Direito a Alimentação tem por fulcro verificar denúncias de violações
à segurança alimentar em todo país; constatando as lesões a direitos, conduzem-nas às autoridades locais, como vereadores e Ministério Público e etc, exigindo a reparação, (ROCHA,
2008, p. 143).
A Rede de Educação Cidadã/TALHER, por sua vez, trabalha com os destinatários das políticas públicas por meio da educação popular, com alvitre em despertar a consciência de direitos,
proporcionando maior participação social, fazendo com que o sujeito de direito consciente de direitos e valor social, conforme Rocha (2008, p. 143).
O CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar) é composto por 2/3 de representantes da
sociedade civil e 1/3 por representantes governamentais. Sendo assim, sua estrutura almeja propiciar e respeitar a diversidade regional e cultural, possuindo vagas específicas para
diversos grupos tradicionalmente excluídos, como: comunidades quilombolas, ribeirinhas,
indígenas e etc. Engendra-se, com isso, maior propositura de interlocução entre os grupos e as
esferas centrais do poder, tendo maiores possibilidades de influenciar governo, mídia e a
esfera pública, salienta ROCHA (2008).

A Conferência Nacional de Segurança Alimentar reúne representantes da sociedade civil e
governo de todo o país. A III Conferência reuniu quase 2000 delegados, sendo que todas as
etapas envolveram mais de 70 mil pessoas. O evento em si foi o momento final de um amplo
processo de diálogo e luta por direitos, (ROCHA, 2008).
Fóruns de debates, assim como a formação dos conselhos, permitiram maior discussão sobre o direito alimentação e a possibilidade de deliberações, argumenta ROCHA (2008). A
capitalização dos mecanismos institucionais e aprimoramento democrático possibilitaram a
sensibilização do poder administrativo às reivindicações surgidas nas esferas públicas
(podemos entender pública no sentido metafórico rua), LYRA FILHO (1982).
Destarte, foram importantes os movimentos sociais conforme toda sua organização exposta, pois não permitiram que o sofrimento vivido por milhões de brasileiros fosse esquecido. Coube,
evidentemente, a eles o papel de tornar esta fome um tema presente. Conquanto, houve um
aprendizado histórico de toda sociedade brasileira, que permitiu o reconhecimento do direito a
todos os brasileiros a se alimentarem adequadamente, salienta ROCHA (2008).
O direito humano à alimentação adequada está despontando no ordenamento jurídico brasileiro com força e vigor. Sua formação começou com a luta pela implantação de políticas públicas de combate à insegurança alimentar. Essa luta teve também o objetivo de fixar uma natureza autônoma desse direito, expurgado de ‘uma visão assistencialista e compensatória, com perspectiva de enfrentamento das situações de emergência de combate à fome e à miséria, sem mexer na base estrutural do sistema econômico e político’. Daí, primeiro se criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSA); depois veio a Lei 11.346, de 15.09.2006, que instituiu Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada (art.1º). O artigo 3º da lei define a segurança alimentar e nutricional como a ‘realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis’. Daí se tira o conceito de direito humano à alimentação adequada (SILVA, 2012, p.310).
Diante às ilações podemos identificar todo um processo histórico pela luta e surgimento do
direito a alimentação, assim como salienta a teoria proposta do Direito Achado na Rua. Pois foi timidamente e intenso a sua criação ao expô-lo à discussão nos espaços públicos tendo como
seu personagem o sujeito coletivo de direito que reivindicaram, ou seja, aquele que requereu o
direito à alimentação, apresentando-o às autoridades do poder público como uma necessidade implícita ao ser humano, sintonizando e obedecendo às regras e princípios básicos da
Constituição Federal de 1988: o princípio da dignidade da pessoa humana, (ROCHA, 2008).
Tendo, entretanto, todo o movimento e processo histórico advindo das ruas para que a
alimentação de qualidade seja um direito fundamental, pôde-se então ratificá-lo e reconhecê-lo
e que hoje é exposto na Emenda Constitucional número 64, de 4 de fevereiro de 2010,
alterando o teor da cabeça do artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (EC, 64/10), passando a ser: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer,

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”, BRASIL (1988).
4.3 DIREITO ACHADO NA RUA: DIREITO HOMOAFETIVO
Em primeiro ato, faz-se interessante dissertar sobre o movimento homossexual, sua criação e
manutenção. Moderadamente, reconstruiremos historicamente o movimento homossexual brasileiro sob a ótica teórica proposta do Direito Achado na Rua, analisando o seu papel como
sujeito coletivo de direito nas pretensões de ampliar a cidadania, do direito de ser homossexual
e com ela adquirir direitos e deveres.
CONDE (2004) arguiu que o movimento social pode alterar a relação entre indivíduo e Estado e
interferir direta e concretamente no exercício da cidadania. Isto pode-se perceber pelo movimento pelos direitos da população LGBT que abrange gays, lésbicas, bissexuais, travestis
e transexuais, expandindo-se de forma progressiva e coerente no Brasil desde o fim da
ditadura militar em 1985, com a eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de regime
repressivo, descreve GUINOSA (2013). Lado outro, CONDE (2004) disserta que o movimento
homossexual começou a expandir-se por volta de 1978, período em que a ditadura militar no Brasil se arrefecia com um plano gradual para o retorno à democracia, no qual possibilitaria e
garantiria o exercício das reivindicações que logo seria conhecida por estar interligada ao
Estado Democrático de Direito: o direito a cidadania.
Dois acontecimentos inscrevem profundamente a história do movimento homossexual no final da década de 1970, – também permeando o fim da ditadura militar –, que são a fundação do primeiro grupo homossexual no país, o Somos, e a criação do jornal Lampião da Esquina, por uma equipe de intelectuais, artistas e jornalistas. Podemos pensar, através da imagem da capa do Lampião da Esquina, de julho de 1979, no papel cumprido pelo Lampião da Esquina, na constituição dos ativistas homossexuais. É interessante destacar a interlocução entre o Somos, o jornal e o movimento operário e sindical. Neste aspecto, também houve a institucionalização da luta homossexual dentro de um partido; no caso, o Partido dos Trabalhadores (FERNANDES, 2007, p. 53).
A justa necessidade de concretizar tal movimento social provém da existência de que há neles personagens descontentes com a maneira pelo qual são percebidos e tratados pela esfera
pública e instituições (privadas ou não) e inclusive pela sociedade, parafraseando CONDE (2004).
É nítido que este movimento surgiu para proteção dos seus direitos de expressar o amor de
maneira que é a eles adequada e, além disto, a competência para questionar os mecanismos repressivos utilizados pela ótica dominante heteronormativa, fragilizando a legitimidade dos
seus argumentos, e exigindo do Estado, de seus poderes constituídos, uma resposta à ofensa aos direitos humanos fundamentais relativos à individualidade e à liberdade dos homossexuais
(CONDE, 2004, p.56).
Ao trazer a discussão da sexualidade para o domínio público, assim como o fizeram o feminismo e os movimentos de liberação sexual da década de 1960, o movimento homossexual apresenta uma antinomia e exige que ela seja assumida pelo Estado laico de direito, distante dos dogmas religiosos e das noções preconcebidas – a sexualidade é política, e a individualidade constitui um direito humano fundamental. Em outras palavras, o movimento não admite que o desrespeito ao direito humano fundamental de exercer livremente a

orientação sexual seja tratado pelo Estado como assunto limitado à esfera privada (CONDE, 2004, p.14).
É importante aduzir que o exercício do sujeito coletivo de direito deve-se à importante
possibilidade de exercer a cidadania plenamente adquirida pelos brasileiros após o término da Ditadura Militar no Brasil, que vigorou entre os períodos de 1964 até 1985, através da
promulgação da Constituição Brasileira de 1988, salienta CONDE (2004).
“Vários são os personagens desse movimento e diversas são suas identidades e demandas.
Sob o mesmo guarda-chuva pretendem amparar-se, além dos gays e das lésbicas, travestis,
transexuais masculinos e femininos e os bissexuais” (CONDE, 2004, p.41).
O movimento homossexual no Brasil está calcado na defesa fundamental de sua identidade
(CONDE, 2004), onde os participantes do movimento homossexual devem ser encarados como
atores sociais, pois a construção de uma identidade coletiva desempenha um papel
determinante na formação do movimento e nas estratégias por ele utilizadas, conforme CONDE
(2004, p. 63).
(...) o movimento se iniciou como um projeto de promoção da autoestima de homossexuais e, paulatinamente, se fortaleceu, ganhando adesões e passando a merecer respeito de uma maior parte da população, seja em decorrência de posicionamentos da comunidade científica, seja por uma abordagem menos preconceituosa dos meios de comunicação (CONDE, 2004, p. 63).
O movimento homossexual foi importante porque deu sustentáculo ao pleito de pleno acesso à cidadania dos homossexuais, travestis e transgêneros, percebendo os valores que lhes são
garantidos constitucionalmente na Constituição Federal do Brasil de 1988, invocando em seu
favor valores e orientações gerais da sociedade, salienta CONDE (2004). O sujeito coletivo de direito homossexual é cultural e também moral, pois, além de mover suas ações com o intuito
de afirmar e defender os seus direitos e liberdades, ele apresenta caráter mais afirmativo que contestatório e também desprendido de instrumentos políticos e de aparelhos ideológicos,
posto que se objetiva na liberdade e na defesa de sua identidade, aduz Conde (2004, p. 64).
Mas para isto, foi preciso que o referido movimento homossexual fosse às ruas e apresentar-se à sociedade, e para o mundo, como tal:
A partir da década de 1970, no Brasil, acontece a consolidação deste movimento. Na primeira década do milênio, o movimento homossexual passa a ser possuidor da manifestação pelo direito à livre orientação sexual com o maior número de pessoas no mundo. A Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em junho de 2005, se vê tomada por mais de dois milhões de pessoas que participavam da Parada do Orgulho GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros). Assim, o Brasil passa a ser um dos principais representantes das reivindicações do movimento homossexual na agenda mundial. Era inclusive brasileira a resolução apresentada na Organização das Nações Unidas (ONU), que trata dos temas da orientação sexual e identidade de gênero. No dia 01 (primeiro) de dezembro de 2006, tivemos a declaração apresentada pela Noruega em nome de diversos países – dentre eles Alemanha, Timor-Leste, Grécia, Canadá – que abordava as violações dos direitos humanos por orientação sexual e identidade de gênero (FERNANDES, 2007, p.48).
“Desde os anos 90, houve um aumento no número de grupos institucionalizados do movimento
homossexual. Em 1995, foi fundada a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros

(ABGLT), com 31 grupos homossexuais filiados, e hoje conta com a maioria dos grupos
existentes no país” (FERNANDES, 2007, p. 55). E sendo assim, a ABGLT conta com mais de
160 organizações locais, que atuam na defesa, promoção e garantias de direitos, estando
estruturadas em todas as capitais, muitas cidades médias e vem crescendo no interior dos
estados brasileiros, conforme Fernandes (2007, p. 55).
A partir disso, é preciso entender que o coletivo que compõe o movimento homossexual é
aquele que busca a transformação da sociedade e foi a partir da década de 70 que vem
consolidando-se. Mais tarde, na primeira década do milênio, o sujeito coletivo de direito
homossexual passa a ser possuidor pelo direito à livre orientação sexual com o maior número
de pessoas no mundo. A Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em junho de 2005, foi ocupada por mais de dois milhões de pessoas que participavam da Parada do Orgulho GLBT
(gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros). Assim, o Brasil passa a ser um dos principais
representantes das reivindicações do movimento homossexual na agenda mundial. Fora
inclusive brasileira a resolução apresentada na Organização das Nações Unidas (ONU), que
trata dos temas da orientação sexual e identidade de gênero e esta resolução da ONU é parte de um conjunto de bandeiras de luta prioritárias, salienta FERNANDES (2007).
No que se refere às ações para dar visibilidade à luta do movimento, as Paradas do Orgulho Homossexual, no ano de 2005, ocorreram em aproximadamente 70 cidades brasileiras, mobilizando mais de 4 milhões de pessoas. Apesar das paradas terem um formato semelhante, as características regionais e locais apresentam-se diferenciadas, garantindo que as especificidades locais se posicionem. Com isto, elas têm contribuído para o aumento da abrangência de ação das entidades homossexuais, ampliando a capilaridade do debate sobre a política sexual e recrutando novos ativistas (FERNANDES, 2007, p.63).
Importante elucidar que, no processo de democratização do Brasil, houve a construção de uma
nova Constituição, nomeada Constituição Cidadã, e durante a Assembleia Constituinte de 87, a luta foi pela garantia da não discriminação por orientação sexual, representado pelo Triangulo
Rosa, para incluir a orientação sexual no capítulo referente às garantias e aos direitos individuais na Constituição Federal. Entretanto, tal pretensão resultou-se frustrada pelos
impasses e divergências o que acabou por não incluir os direitos e garantias individuais de
gays e lésbicas na Constituição Federal, prevalecendo assim o pensamento conservador, preleciona FERNANDES (2007).
Tal derrota não acuou o movimento, muito menos que não buscassem novos fundamentos para sedimentar o movimento homossexual. Além disto, a Constituição Federal de 1988 deu-
lhes amparos para o exercício da cidadania, assim como foi e é exercido de forma
veementemente protagonizadora ao ponto de conquistarem seus direitos politicamente e judicialmente, argumenta FERNANDES (2007).
O discurso moderno de cidadania pressupõe uma relação do indivíduo com o Estado nacional a que juridicamente se vincula e que o estabelece como livre e igual aos demais homens, perante a lei. Pode-se argumentar que essa relação atualmente não se limita ao Estado nacional, diante da nova forma de organização social advinda da globalização das atividades econômicas que ‘penetra em todos os níveis da sociedade’ e, que caracteriza a ‘sociedade em redes’ (CONDE, 2004, p. 22).
A igualdade formal garantida constitucionalmente de que “todos são iguais perante a lei”
permitiu que o exercício da cidadania ampliasse, permitindo a inserções das lutas coletivas que

denunciam as desigualdades materiais além de derrubar a crença de que somente a igualdade
formal seja capaz de garantir o acesso de todos os indivíduos ao exercício à cidadania,
(CONDE, 2004, p. 22).
A Constituição promulgada em 1988 apelidada por uns de constituição cidadã, por ter trazido inovações aos direitos políticos, civis e sociais, e por outros, de colcha de retalhos por conter em seu texto medidas para agradar interesses oponentes, inegavelmente trouxe avanços consideráveis em todos os campos da cidadania. Seu artigo 1, inciso II da Constituição Federal Brasileira de 1988, contempla a cidadania como fundamento da República Federativa do Brasil, que tem como objetivo, dentre outros, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (CONDE, 2004, p.36-37).
A noção básica de dignidade humana era até então restrita a pessoas ou grupos em razão de origem, sexo, condição social e situação patrimonial, caminhando e convivendo, então, a partir
das condições impostas por estes que exerciam algum tipo de dominação do poder
governamental. A depender do tempo e do contexto histórico, as injustiças em não reconhecer
o direito alternativo foram marcando as sociedades, permanecendo-lhes ao retrocesso jurídico e social resultando na exclusão social, salienta DULTRA (2010).
É o exercício da autodeterminação do sujeito coletivo de direito que torna-se possível galgar vitórias tanto no âmbito político quanto judicial, da qual o Estado Democrático de Direito é
conduzido pelo pulso dessa pluralidade social fazendo com que seja afastada a concepção de
igualdade regida pelos patriarcas, (SOUSA JÚNIOR, 2008).
O consectário desse pensamento é a revisão conceitual dos direitos humanos, que saem da categoria de pautas programáticas para se constituírem em bandeiras e princípios decorrentes de lutas históricas, que devem ser defendidos e ampliados pelo exercício vigilante e permanente da cidadania organizada a ser fundamentada em valores que sobrepassam as interpretações restritas das normas positivas. O Direito não está posto, o Direito é um perpétuo in fieri, ligado aos embates dos grupos e das classes sociais e à concretização da dignidade traduzida pelos direitos humanos (AGUIAR apud DULTRA, 2010, p.40).
Mesmo sem leis, os homoafetivos foram bater às portas do Judiciário. Os pequenos avanços vêm da jurisprudência. Em um primeiro momento, as uniões homoafetivas foram reconhecidas
como sociedades de fato. Mas a mudança começou pelo Rio Grande do Sul, a partir do ano de
2001, definindo a competência para as varas de família; as uniões de pessoas do mesmo sexo passaram a ser identificada como entidade familiar, conforme salienta DIAS (2010).
Após anos de movimento organizado, de protestos, de lutas, o STF (Supremo Tribunal Federal) no ano de 2011, com julgamento unânime, foram reconhecidas as uniões homoafetivas como
entidade familiar, proferindo a decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade
4.277/DF, sendo seu requerente a Procuradoria - Geral da República e o seu relator o Ministro Ayres Brito, tendo caráter vinculante e eficácia contra todos. Ou seja, ninguém, nem a justiça e
nem qualquer órgão da administração pública federal, estadual ou municipal pode negar a união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, preleciona DIAS (2012).
(...), a questão foi resolvida no plano do Poder Judiciário. No julgamento das citadas ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF, em 5 de maio de 2011, o STF entendeu

pela aplicação, por analogia, das mesmas regras da união estável para união homoafetiva (TARTUCE, 2012, p.1159).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito não somente está nas leis, mas também fora da mesma, nas “ruas”, lado à
manifestações sociais adequadamente organizadas pelo sujeito coletivo de direito que
pretende ao que está vedado ou ausente na anunciação legal, mas que visa almejá-lo em prol
de sua própria existência (como cidadãos) e segurança jurídica.
A inserção de direitos na lei não necessariamente resultará na existência material da cidadania. Nem mesmo o seu silêncio significa ausência de direitos. Em alguns julgados conforme
supracitados, percebe-se que os Tribunais no Brasil, principalmente o Supremo Tribunal
Federal, vem preenchendo um protagonismo que além de ratificar direitos, reconhecem-no sob
a ótica dos princípios inerentes à Constituição Cidadã de 1988 aos sujeitos coletivos de
direitos, que no delongar do processo histórico-social afirmam sua existência evitando sua exclusão da sociedade.
A opção pelo Legislativo aparentou-se mais cansativa, burocrática e desenvolvida pelo poder
público conforme o interesse político governamental de cada legislatura. Dessarte, percebe-se
que um dos caminhos percorridos para almejar o (re) conhecimento dos direitos engendram-se pelo viés do Judiciário, cristalizando seu entendimento perante determinada norma
constitucional ou infraconstitucional concomitante a um fato ou caso, outorgando competência material para o exercício da cidadania àqueles que foram obstruídos pela insuficiência ou
vedação legal, quando julgado procedente. E isto torna-se possível quando as organizações
sociais dos sujeitos coletivos de direitos elaboram sua própria história, e com isto fundamentam a legitimidade do próprio direito.
Portanto, defronte ao exposto, conclui-se que é praticável e possível o surgimento de Direitos tendo como fonte a “rua”, considerando como seu personagem principal o sujeito coletivo de
direito por meio do ativismo judicial e a participação popular conforme certifica-se do processo
de criação do Direito Homoafetivo, à Alimentação e à Terra. Todas estas reafirmaram sua existência através de um processo histórico longínquo e intenso e que serviu de
fundamentação para proteção e pleiteio do direito almejado no Poder Público. Isto posto, o Direito surge nominalmente pela dialética social e processo histórico dos novos sujeitos
coletivos que eclodem da sociedade e que estão em constante transformação, proporcionando
novas possibilidades de reinterpretar a matéria jurídica.
Leia mais: http://jus.com.br/artigos/30356/v#ixzz3kEhLUkA3