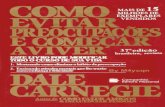Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) · Capa: Elisa Medeiros e Marcos...
Transcript of Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) · Capa: Elisa Medeiros e Marcos...


Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Encontro de Internacionalização do CONPEDI (1. : 2015 : Barcelona, ES) I Encontro de Internacionalização do CONPEDI / organizadores: Antonio
Carlos Diniz Murta, Norma Sueli Padilha. – Barcelona : Ediciones Laborum, 2015. V. 12
Inclui bibliografia ISBN (Internacional): 978-84-92602-86-5 Depósito legal : MU 859-2015 Tema: Atores do desenvolvimento econômico, político e social diante do Direito
do século XXI
1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Congressos. 2. Direito administrativo. 3. Direito tributário 4. Direito ambiental 5. Sustentabilidade. I. Murta, Antonio Carlos Diniz. II. Padilha, Norma Sueli. III. Título.
CDU: 34
Copyright © 2015 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
Todos os direitos reservados e protegidos.Nenhuma parte deste livro, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.
Produção Editorial: Equipe ConpediDiagramação: Marcos JundurianCapa: Elisa Medeiros e Marcos Jundurian
Impressão:Nova Letra Gráfica e Editora Ltda.CNPJ. nº 83.061.234/0001-76
Editora: Ediciones Laborum, S.L – CIF B – 30585343Deposito legal de la colección: MU 859-2015
1º Impressão – 2015
EDICIONES LABORUM, S. L.CIF B-30585343
Avda. Gutiérrez Mellado, 9 - 3º -21- Edif. CentrofamaTeléfono 968 88 21 81 – Fax 968 88 70 40
e-mail: [email protected]
Catalogação na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071
E56p

3
Diretoria - Conpedi
Presidente
Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UFRN
Vice-presidente Sul
Prof. Dr. José Alcebiades de Oliveira Junior - UFRGS
Vice-presidente Sudeste
Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM
Vice-presidente Nordeste
Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu - UNIFOR
Vice-presidente Norte/Centro
Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes - IDP
Secretário Executivo
Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC
Secretário Adjunto
Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto - Mackenzie
Conselho Fiscal
Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG /PUC PR
Prof. Dr. Roberto Correia da Silva Gomes Caldas - PUC SP
Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches - UNINOVE
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS (suplente)
Prof. Dr. Paulo Roberto Lyrio Pimenta - UFBA (suplente)
Representante Discente
Mestrando Caio Augusto Souza Lara - UFMG (titular)
Secretarias
(Diretor de Informática)
Prof. Dr. Aires José Rover - UFSC
(Diretor de Relações com a Graduação)
Prof. Dr. Alexandre Walmott Borgs - UFU

4
(Diretor de Relações Internacionais)
Prof. Dr. Antonio Carlos Diniz Murta - FUMEC
(Diretora de Apoio Institucional)
Profa. Dra. Clerilei Aparecida Bier - UDESC
(Diretor de Educação Jurídica)
Prof. Dr. Eid Badr - UEA / ESBAM / OAB-AM
(Diretoras de Eventos)
Profa. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen - UFES
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - UNICURITIBA
(Diretor de Apoio Interinstitucional)
Prof. Dr. Vladmir Oliveira da Silveira - UNINOVE
Rua Desembargador Vitor Lima, 260, sala 508Cep.: 88040-400
Florianópolis – Santa Catarina - SCwww.conpedi.org.br

5
Apresentação
Este livro condensa os artigos aprovados, apresentados e debatidos no Iº ENCONTRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – CONPEDI, realizado entre os dias 08, 09 e 10 de outubro de 2014, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona – Espanha. O evento teve como tema os “Actores del Desarrollo económico, político y social frente al Derecho del siglo XXI”. Para o evento foram submetidos e avaliados mais de quinhentos artigos de pesquisadores do Brasil e da Europa. Após as avaliações foram aprovados em torno de trezentos artigos para apresentação e publicação.
O principal objetivo do evento foi o de dar início ao processo de internacionalização e fundamentalmente, o de construir espaços para a inserção internacional e divulgação de pesquisas realizadas pelos Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Direito do Brasil, associados ao CONPEDI. A realização deste primeiro evento procurou estimular o debate e o diálogo sobre questões atuais do Direito envolvendo a realidade brasileira e espanhola.
Os artigos apresentados analisaram o papel dos “Actores del Desarrollo económico, político y social frente al Derecho del siglo XXI” praticamente em todas as áreas do Direito. Considerando a amplitude do tema, as diversas abordagens e buscando uma aproximação entre as áreas de conhecimento optou-se pela organização de seis grupos de trabalhos (GTs), que foram constituídos da seguinte forma: a) Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Derecho Internacional; b) Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho do Consumidor e Nuevas Tecnologías; c) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; d) Derecho Administrativo, Derecho Tributario e Derecho Ambiental; e) Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho e História del Derecho; f) Derecho Penal, Criminología e Seguridad Pública.
Além da promoção do intercambio entre as Instituições e profissionais da área do Direito do Brasil e Europa, a possiblidade de ampliar e difundir a produção cientifica no âmbito internacional e a melhoria dos indicadores dos Programas de Pós-graduação brasileiros, com a realização do primeiro evento internacional

6
a atual Diretoria do CONPEDI também cumpre com um de seus compromissos assumidos quando eleitos. A transcendência da realização deste primeiro evento internacional para os pesquisadores brasileiros da área do Direito se reflete no resultado final obtido. A publicação de 15 livros, através da Ediciones Laborum da Espanha em parceria com o CONPEDI, com todos os artigos apresentados e debatidos nos GTs representa uma expressiva conquista que trará importantes resultados para os programas de Pós-graduação brasileiros e, fundamentalmente, para a área do Direito.
Barcelona/Florianópolis, março de 2015.
Os Organizadores

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 7
Sumário
A Constitucionalização do Direito Fundamental de Acesso à Água Potável: Uma Proposta para o Brasil e para a EspanhaZulmar Fachin e Deise Marcelino da Silva ............................................ 9
A Extrafiscalidade Tributária Aplicada na Proteção do Meio Am-biente Artificial Urbano e a Função Promocional Segundo Norberto Bobbio Bruno Soeiro Vieira e Nelson Saule Júnior ............................................. 33
A Incorporação da Sustentabilidade no Setor Energético como Desa-fio Democrático das Instituições para o Desenvolvimento Típico do Século XXIJosé Osório do Nascimento Neto e Emerson Gabardo .............................. 65
A Lei Tributária no Brasil: Um Processo em Permanente ConstruçãoHélio Sílvio Ourém Campos ................................................................. 97
A Participação do Cidadão na Gestão dos Recursos Hídricos: Estudo Entre Brasil e EspanhaBeatriz Souza Costa e Maraluce Custódio .............................................. 131
A Política Nacional Sobre Mudança do Clima e a Responsabilidade Comum, Porém DiferenciadaFernanda Brusa Molino e Luciana Cordeiro de Souza .......................... 169
A Proteção da Propiedade Intelectual e Cultural dos Indígenas na América do Sul: O Papel do MercosulAnna Walléria Guerra Uchôa e Valmir César Pozzetti ........................... 195
A Redução da Discricionariedade Administrativa Frente ao Princí-pio da Sustentabilidade Urbana: Novos Desafios para a Elaboração de Políticas PúblicasAngela Cassia Costaldello e Karin Kässmayer ......................................... 219

8 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A Vedação de Retrocesso Socioambiental e a Sociedade de RiscoJosé Adércio Leite Sampaio e Romeu Thomé ........................................... 237
Amazônia Brasileira – Breves Mitos e RealidadesJosé Roberto Anselmo e Maria Priscila Soares Berro ................................ 271
Aperfeiçoamento das Regiões Metropolitanas no Brasil com Base no Pluralismo Jurídico e na Superação da Legalidade EstritaMiguel Etinger de Araujo Junior e Marlene Kempfer .............................. 307
As Novas Tecnologias: Princípio da Não Regressão e o Paradigma da SustentabilidadeMaria Claudia S. Antunes de Souza e Kamilla Pavan ........................... 335
Comércio Virtual e Estabelecimento Tributário: Entre o Direito Bra-sileiro e a OCDEJonathan Barros Vita e Maria de Fátima Ribeiro ................................... 373
Competência Administrativa em Matéria Ambiental no Brasil e o Novo Regime Instituído pela Lei Complementar N. 140/2011Marcelo Buzaglo Dantas ....................................................................... 399
Decadência do Direito da Administração Pública Anular Ato Administrativo: Uma Análise a Partir da Discussão Administrativa e Judicial Sobre a Declaração de Anistia Política aos Cabos da FAB Licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964Aline Sueli de Salles Santos ................................................................... 425
Qualidade de Vida: Em Busca de um Conceito Jurídico no Orde- namento BrasileiroJosé Fernando Vidal de Souza ............................................................... 463

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 9
a constitucionalização do direito fundamental de acesso à água potável:
uma proposta para o brasil e para a espanha
Zulmar Fachin1
Deise Marcelino da Silva2
Resumo
O trabalho sustenta uma tese inovadora segundo a qual o direito fundamental de acesso à água potável deve receber proteção das Constituições do Brasil e da Espanha. Parte da premissa de que os direitos fundamentais são uma construção histórico-sociológica, nascendo e se consolidando no decorrer dos tempos e como resultado de lutas sociais. Reconhece que a realidade sociológica interfere nos corpos normativos, criando e alterando normas jurídicas. Nesse sentido, mostra que as circunstâncias concretas partejaram os direitos fundamentais da primeira dimensão (civis e políticos), de segunda dimensão (econômicos, sociais e culturais), de terceira dimensão (meio ambiente, paz, comunicação, desenvolvimento), de quarta dimensão (pluralismo, democracia, informação e os novos direitos) e de quinta dimensão (paz, em novo aspecto). Nessa perspectiva de evolução histórica, levando em consideração a grave crise hídrica que aflige boa parte da Humanidade – em especial, as classes sociais menos favorecidas –, o trabalho sustenta que o acesso à água potável deve ser considerado um direito fundamental de sexta dimensão e, como tal, receber expressa proteção constitucional. A positivação de direito fundamental na Constituição de um País tem vantagens. Primeiro, ele passa a receber tratamento prioritário em relação
1 Doutor em Direito Constitucional (UFPR). Professor de Direito Constitucional na Graduação e no Mestrado. Membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente do IDCC - Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. Professor.
2 Bacharel em Direito (UCDB - Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil). Mestre em Ciências Jurídicas (UNICESUMAR - Centro Universitário de Maringá, Paraná, Brasil). Doutoranda em Direito Ambiental Internacional (UNISANTOS - Universidade Católica de Santos, São Paulo, Brasil). Professora.

10 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
aos direitos não fundamentais. Segundo, eliminam-se as discussões acerca de sua fundamentalidade. Terceiro, passa a ter mais força vinculante, obrigando os poderes públicos, os poderes privados, a sociedade e os particulares. O trabalho, de natureza jurídico-sociológica, apresenta uma proposta concreta de redação de dispositivo legal a ser inserido na Constituição do Brasil e na Constituição da Espanha, prevendo o acesso à água potável como direito fundamental.
Palavras-chave
Água potável; Direito fundamental; Constitucionalização.
Resumen
El trabajo sustenta una tesis innovadora, la cual el derecho fundamental de acceso al agua potable debe recibir la protección de las Constituciones de Brasil y España. Parte de la premisa que los derechos fundamentales son una construcción histórico-sociológica, nasciendo y consolidándose con el paso del tiempo y como resultado de las luchas sociales. Reconoce que la realidad sociológica interfiere con los cuerpos normativos, creando y cambiando normas jurídicas. En este sentido, muestran que las circunstancias reales apoyaron los derechos fundamentales de la primera dimensión (civiles y políticos), de segunda dimensión (económicos, sociales y culturales), de tercera dimensión (medio ambiente, paz, comunicación, desarrollo), de cuarta dimensión (pluralismo, democracia, información y los nuevos derechos) y de quinta dimensión ( paz, en nuevo aspecto). En la perspectiva del desarrollo histórico, teniendo en cuenta la crisis severa hídrica que afecta a gran parte de la Humanidad - en particular, las clases sociales más bajas - el trabajo mantiene que el acceso al agua potable debe ser considerado un derecho fundamental de sexta dimensión y, como tal, recibir protección constitucional. La positivización de derecho fundamental en la Constitución de un País tiene ventajas. Primero, recibirá un trato prioritario en comparación con los derechos no fundamentales. Segundo , eliminan las discusiones sobre su fundamentalidad. Tercero, llega a tener más fuerza vinculante, obligando a las autoridades públicas, las autoridades privadas, la sociedad y los individuos. El trabajo de calidad jurídica y sociológica, presenta una propuesta concreta de redacción de dispositivo legal para ser insertado en la Constitución de Brasil y la Constitución de España, facilitando el acceso al agua potable como un derecho fundamental.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 11
Palabras clave
Agua potable; Derecho fundamental; Constitucionalización.
1. introdução
Os direitos fundamentais têm sido considerados um produto da História3. Essa característica é revelada pela trajetória que tais direitos desenharam ao longo dos tempos. As situações concretas da vida do homem na sociedade geraram a necessidade de positivação de direitos fundamentais, com o objetivo de satisfazer tais carências humanas.
Ao longo da História, foram elaborados documentos jurídico-normativos, voltados à proteção e concretização de direitos fundamentais em favor da pessoa humana. Ainda na Idade Média, surgiu a Magna Carta (1215). Na Modernidade – porém, antes do século XVIII –, foram editadas a Petição de Direitos (1628), a Lei do Habeas Corpus (1679) e a Declaração de Direitos (1689). Todos esses documentos jurídicos foram publicados na Inglaterra.
No século XVIII, foram publicadas duas declarações de direitos funda-mentais, produzidas pela burguesia, exercendo grande influência no pensamento jurídico Ocidental: a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia (1776), formalizando o rompimento das Treze Colônias com a Inglaterra, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que propunha soterrar o absolutismo na França, ambas partejando novas ideias que viriam a predominar nos dois séculos seguintes no mundo Ocidental.
O século XX, que permitiu guerras e destruições de vidas humanas, ensejou o nascimento de diversos documentos jurídico-normativos a positivar novos di-reitos fundamentais. A Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918), que formalizou o nascimento da União Soviética, inseriu os direitos fundamentais sociais na agenda jurídica.
Contudo, o documento jurídico-normativo que mais causou impacto no século XX foi a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948). Alicerçado,
3 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação Histórica dos Direitos Humano. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 1; FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 235.

12 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
basicamente, em dois valores fundamentais da vida humana – liberdade e igualdade –, tal documento exerceu e continua a exercer profunda influência nas Constituições promulgadas a partir da segunda metade do século XX. Mais adiante, em 1966, a Assembleia Geral da ONU publicou dois documentos: o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, preocupado com o princípio da igualdade, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, priorizando o princípio da liberdade4
O século XX ensejou, ainda, a publicação de outros documentos jurídico-nor-mativos, tais como a Declaração de Teerã (1968), preocupada com a efetivação dos direitos fundamentais; a Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), inspirada pela tríade democracia, desenvolvimento e direitos fundamentais; e o Estatuto de Roma (1998), o qual criou o Tribunal Penal Internacional.
Registre-se que os documentos acima referidos, sobretudo aqueles elaborados no percurso do século XX, foram acrescentando novos direitos fundamentais aos já existentes. Essa trajetória realizada no decorrer do tempo revela, com certa clareza, que os direitos fundamentais são marcados pela historicidade. Isso permite o estudo de tais direitos em várias dimensões.
2. dimensões dos direitos fundamentais
Essa evolução histórica, materializada em documentos jurídico-normativos de relevante importância, permitiu a identificação de fases evolutivas dos direitos fundamentais. Passou-se a falar, então, em gerações de direitos fundamentais.
A terminologia mais usual – gerações – passou a ser criticada pela doutrina, pois tinha o inconveniente de sugerir a ideia de que uma nova geração substitui a anterior, desaparecendo aquela em virtude do nascimento de uma nova.
O problema terminológico precisava ser superado. Era necessário compre- ender, com clareza, que o surgimento de novos direitos (compondo nova dimensão) não significava o desaparecimento de direitos já consolidados (dimen-sões anteriores). Em outras palavras, em situações assim, não estava ocorrendo
4 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 220-221.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 13
substituição, mas acréscimo de direitos fundamentais. A doutrina, então, passou a falar em dimensões, para substituir o vocábulo gerações.
No decorrer desse trabalho, será utilizada a terminologia dimensões, por se entender que ela é mais apropriada e não suscita desvios de interpretação.
2.1. primeira dimensão dos direitos fundamentais
As primeiras manifestações de direitos fundamentais tinham como valor cen-tral a liberdade individual. Preocupavam-se em proteger o indivíduo contra o poder arbitrário do governante. Lembra Paulo Bonavides que esses direitos, voltados para a liberdade individual, têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado. Traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e têm na subjetividade o seu traço mais característico. Em outras palavras, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado5.
Os primeiros exemplos desses direitos podem ser encontrados em documen-tos jurídicos publicados em tempos distantes: Magna Carta (1215), Petição de Direitos (1679) e a Lei do Habeas Corpus (1679). Contudo, esses direitos relativos à liberdade estiveram presentes nas chamadas declarações burguesas publicadas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França.
A Declaração de Direitos, publicada na Inglaterra, em 1689, é a primeira das declarações de direitos fundamentais feitas pela burguesia. Ela representa o embrião do Estado de Direito, visto que consta em seu texto a obrigatoriedade de o rei submeter-se aos ditames legais. Em outras palavras, a partir dela, tanto os súditos quanto o rei deveriam agir de acordo com a lei. Fábio Konder Comparato reconhece a importância atual desse documento, afirmando que “A transforma-ção social provocada pelo Bill of Rights não pode deixar de ser reconhecida (...). O Bill of Rights, enquanto lei fundamental, permanece ainda hoje como um dos mais importantes textos constitucionais do Reino Unido”6.
A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia foi publicada, em 1776, nos Estados Unidos da América. Preocupava-se, basicamente, com a liberdade
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 24 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 563-564.
6 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 79.

14 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
e tinha como objetivo estabelecer as condições de bem-estar do povo norte-americano que, a partir daquele momento, passara a se constituir em um Estado independente.
A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, publicada, em 1789, na França, tinha como essência a trilogia liberdade-igualdade-fraternidade. Embora os ideólogos dessa declaração de direitos falassem em igualdade, foi a liberdade o bem jurídico que mais interessou à burguesia que havia chegado ao poder.
Registre-se que as declarações de direitos fundamentais publicadas nos Esta-dos Unidos e na França são referências históricas comuns para os estudiosos. Tal fato justifica-se em virtude da elevada importância que têm esses documentos. Ao reconhecer a importância histórica de tais documentos, Antonio Perez Luño constata que, a partir desse contexto histórico, as declarações de direitos se incorporaram ao constitucionalismo, sendo que “A maior parte das Constituições desse período respondem a uma marcada ideologia individualista7”.
As declarações burguesas de direitos asseguravam direitos relativos à liberdade, tais como propriedade privada, liberdade de locomoção, direito de votar e ser votado, liberdade de reunião, liberdade de manifestação de pensamento, irretroatividade da lei e juiz natural. São exemplos de direitos civis e políticos pertencentes à primeira dimensão de direitos fundamentais.
Registre-se que, no século XX, novos documentos foram publicados na or-dem internacional com o propósito de proteger os direitos fundamentais de primeira dimensão. Um exemplo é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado pela ONU, em 16 de dezembro de 1966 e incorporado ao Direito brasileiro em 1992.
Nota-se que em tais documentos, cuja preocupação central era a liberdade em suas diversas formas, a igualdade não ocupou espaço destacado. Contudo, isso viria a ocorrer no século XX.
2.2. segunda dimensão dos direitos fundamentais
Os direitos fundamentais de segunda dimensão consolidaram-se no século XX. Eles têm como valor central a igualdade, traduzindo-se em direitos eco-
7 LUÑO, Antonio Perez. Los Derechos Fundamentales. 6 ed. Madrid: Tecnos, 1995, p. 38-39.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 15
nômicos, sociais e culturais. Tais direitos podem ser exemplificados por direito ao trabalho remunerado, direito de acesso à educação, direito de acesso à saúde, direito à higiene nas condições de trabalho e o descanso semanal.
Se os direitos de primeira dimensão tinham como valor central a liberdade e eram direitos de resistência contra o poder arbitrário do governante, os direitos de segunda dimensão têm como ponto central a igualdade e exigem a atuação do poder estatal. Já não é apenas a liberdade de locomoção, mas também a liberdade de usufruir dos benefícios do progresso e do desenvolvimento econômicos e culturais. Nesse novo contexto, para ser alcançada, a liberdade exige a intervenção do Estado afim de que as pessoas possam ter acesso a um mínimo de bens para sua própria subsistência. Lembra Ingo Wolfgang Sarlet que, agora, “Não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado”8.
Tais direitos são protegidos pelo Pacto Internacional dos Direitos Econô-micos, Sociais e Culturais, aprovado pela ONU em 19 de dezembro de 1966 e incorporado no Direito brasileiro em 1992. Tem-se entendido que, ao contrário dos direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser efetivados progressivamente.
Os direitos fundamentais de segunda dimensão não substituem os de primeira dimensão. Ao contrário, apresentam-se como acréscimos àqueles direitos já existentes. Isso irá ocorrer ao longo do tempo, em que novas necessidades geram novos direitos fundamentais. Estes, uma vez formalizados pelo Estado, são assegurados como novas conquistas que se incorporam ao patrimônio das pessoas. E uma vez consolidados, não irão obstruir o nascimento de outros direitos fundamentais.
2.3. terceira dimensão dos direitos fundamentais
A terceira dimensão dos direitos fundamentais, cujo valor nuclear é a soli-dariedade, surgiu no contexto do século XX, especificamente após a Segunda
8 SARLET, Ingo Wolfgman. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 55.

16 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Grande Guerra. São direitos cuja titularidade pertence a uma pluralidade de pessoas. Dizem respeito à paz, ao desenvolvimento, à comunicação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao patrimônio comum da humanidade9.
Assim como os demais, os direitos de terceira dimensão, também surgiram em determinadas circunstâncias sociais. Nasceram para atender a novas carências humanas. Nesse sentido, escreve Norberto Bobbio:
Os direitos de terceira geração, como o de viver num ambiente não poluído, não poderiam ter sido sequer imaginados quando foram propostos os de segunda geração, do mesmo modo como estes últimos (por exemplo, o direito à instrução ou à assistência) não eram sequer concebíveis quando foram promulgadas as primeiras declarações setecentistas. Essas exigências nascem somente quando nascem determinados carecimentos. Novos carecimentos nascem em função da mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-las10.
Pode-se observar na lição do autor que os direitos fundamentais surgem em determinadas circunstâncias, ampliando o rol já existente. São as carências humanas que geram novas necessidades humanas e essas precisam ser supridas.
Por outro lado, lembra André Ramos Tavares que esses direitos “se caracte-rizam pela sua titularidade coletiva ou difusa, como o direito do consumidor e o direito ambiental. Também costumam ser denominados como direitos de solidariedade ou fraternidade”11.
Os direitos humanos fundamentais consagrados na terceira esfera de direi- tos fundamentais podem ser vistos como escudos protetores em favor de garantias coletivas e difusas. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um exemplo de destaque, pois, se refere a algo que, se degradado, gera impactos imprevisíveis, podendo ser em escala local e até mundial12.
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 24 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 569.
10 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 6-7.
11 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 471.
12 CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2008, p. 80.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 17
2.4. quarta dimensão dos direitos fundamentais
Alguns doutrinadores falam na quarta dimensão dos direitos fundamentais, exemplificados por Paulo Bonavides como os direitos à informação, ao pluralismo e à democracia. Afirma esse autor que “Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência”13.
Já Norberto Bobbio14, também admitindo a quarta dimensão, exemplifica com outros direitos. Afirma que “já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do pa-trimônio genético de cada indivíduo”.
Nota-se, então, que essa dimensão de direitos fundamentais é admitida pela doutrina, embora esta divirja ao exemplificar quais são esses direitos.
2.5. quinta dimensão dos direitos fundamentais
Recentemente, Paulo Bonavides passou a admitir uma quinta dimensão de direitos fundamentais, consubstanciada no direito fundamental à paz. Enaltecendo a idéia de concórdia, afirma que esta gera a “necessidade de criar e promulgar aquele novo direito fundamental: o direito à paz enquanto direito de quinta geração”15. Ele justifica sua tese em razões históricas e nas circunstâncias atuais:
Estuário de aspirações coletivas de muitos séculos, a paz é o corolário de todas as justificações em que a razão humana, sob o pálio da lei e da justiça, fundamenta o ato de reger a sociedade, de modo a punir o terrorista, julgar o criminoso de guerra, encarcerar o torturador, manter invioláveis as bases do pacto social, estabelecer e conservar, por intangíveis, as regras, princípios e cláusulas da comunidade política16.
13 BONAVIDES, Op. cit., p. 571.14 BOBBIO, Op. cit., p. 6.15 BONAVIDES, Op. cit., p. 590.16 Idem.

18 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
José Adércio Leite Sampaio17 também admite a existência de uma quinta dimensão dos direitos fundamentais, a qual, todavia, difere significativamente da concepção de Paulo Bonavides. Tais direitos fundamentais, segundo ele, dizem respeito ao cuidado, à compaixão e ao amor por todas as formas de vida, pois concebem o indivíduo como parte do cosmos e carente de sentimentos de amor e cuidado (tese de Majid Tehrarian).
Contudo, podem ser também direitos de resposta à dominação biofísica que impõe comportamentos estereotipados de beleza, gerando, em conseqüência, preconceito em relação a raças ou a padrões reputados inferiores ou imperfeitos, a partir de uma perspectiva física e não intelectual (tese de Abu Marzouki).
2.6. sexta dimensão dos direitos fundamentais
Afirma-se, agora, a existência de uma sexta dimensão de direitos fundamen-tais18. A água potável, componente do meio ambiente ecologicamente equili-brado, merece ser destacada e alçada a um plano que justifique o nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais.
Entende-se por água potável aquela conveniente para o consumo humano. Isenta de quantidades apreciáveis de sais minerais ou de microorganismos nocivos, diz-se daquela que, conserva seu potencial para o consumo, de modo a não causar prejuízos ao organismo. Potável é a qualidade da água que pode ser consumida por pessoas e animais sem riscos de adquirirem doenças por contaminação. Ela pode ser oferecida à população urbana ou rural com ou sem tratamento prévio depen-dendo da origem do manancial. O tratamento de água visa reduzir a concentração de poluentes até o ponto em que não apresentem riscos para a saúde pública.
A Organização Mundial da Saúde estabeleceu padrões de potabilidade da água para o consumo humano. Neste contexto, o Ministério da Saúde considera potável a água utilizada para consumo humano e cujos parâmetros microbiológi-cos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde (Portaria n° 518, de 25 de março de 2004, art. 4°).
17 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.302.
18 FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino. Acesso à Água Potável: direito fundamental de sexta dimensão. Campinas/SP: Millennium Editora, 2 ed., p. 74, 2012.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 19
O acesso à água potável é um direito fundamental. Nessa condição, ele neces-sita receber expressa proteção jurídica. Tal proteção deve estar primeiramente na Constituição Federal, porquanto esta é o locus específico para abranger tais direitos. Registre-se que a Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, não inseriu o direito de acesso à água potável expressamente no catálogo específico dos direitos e garantias fundamentais (arts. 5° a 17). Contudo, esta omissão não impede que o mencionado direito seja compreendido como fundamental.
Os documentos internacionais concebem o acesso à água potável como direito humano fundamental. É o que pode ser encontrado no Relatório de Desenvolvimento Humano (2006), publicado pela ONU: “A água, a essência da vida e um direito humano básico, encontra-se no cerne de uma crise diária que afeta vários milhões das pessoas mais vulneráveis do mundo - uma crise que ameaça a vida e destrói os meios de subsistência a uma escala arrasadora19”.
A aceitação de que o acesso à água potável é um direito fundamental fica bem assentada, quando o mesmo documento exorta os governos dos Países a atuarem decididamente na concretização do direito fundamental de acesso à água potável.
Converter a água num direito humano - e fazer com que seja cumprido. Todos os governos deveriam ir além dos vagos princípios constitucionais para a preservação do direito humano à água na legislação em vigor. Para ser cumprido, o direito humano deve corresponder a uma habilitação a um abastecimento de água seguro, acessível e a um preço razoável. A habilitação apropriada deverá variar por país e circunstâncias familiares. Mas implica, no mínimo, uma meta de pelo menos 20 litros de água potável por dia para cada cidadão - e sem qualquer custo para as pessoas com falta de meios para o seu pagamento. Devem ser estabelecidos indicadores de referência claros para o progresso em direcção à meta, com a responsabilização dos governos nacionais e locais e também dos fornecedores de água. Se os fornecedores privados têm um papel a desempenhar no abastecimento de água, alargar o direito humano à água é uma obrigação dos governos20.
19 Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH/2006. PNUD Brasil. p. 10. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/rdh/>. Acesso em: 01 jan. 2014.
20 Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH/2006. PNUD Brasil. p. 18. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/rdh/>. Acesso em: 01 jan.2014.

20 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Observe-se que o Relatório de Desenvolvimento Humano (2006) concebe o acesso à água potável como direito fundamental e, em seguida, conclama a todos os governos para que atuem no propósito de concretizá-lo.
Nessa linha, as Constituições promulgadas mais recentemente revelam tendência de previsão expressa do acesso à água potável como direito fundamen-tal. Podem ser mencionadas as Constituições da Bolívia e do Equador.
A Constituição da Bolívia, promulgada em outubro de 2008, afirma que o acesso à água potável, assim como o saneamento básico, é um direito humano, sendo proibida sua privatização ou concessão, estando sujeito a licenciamento e a sistema de registro, nos termos da lei (art. 20, inciso III).
Já a Constituição do Equador, promulgada em 2009, afirma expressamente que o direito de acesso à água potável é um direito humano fundamental e irrenunciável. Tal direito é declarado como patrimônio nacional estratégico de uso público, inalienável, imprescindível, ininbargável e essencial à vida (art. 12).
Registre-se que o acesso à água potável deve ser considerado um direito fundamental não apenas feto fato (relevante) de estar expresso nas Constituições, como ocorre na Bolívia e no Equador. Na verdade, ele está expressamente previsto como direito fundamental nas Constituições desses Países justamente porque é um direito fundamental. Aliás, esse é um processo comum a vários direitos fundamentais: passam a ser considerados fundamentais e, em seguida, são formalizados como tal na Constituição. Para não ir muito longe, basta citar o exemplo do meio ambiente, que poderia ser considerado um direito fundamental mesmo antes de entrar para o texto da Constituição brasileira de 1988.
Não se ignora que, dentre os principais problemas ambientais existentes no mundo, o mais preocupante (ou pelo menos um deles) é a escassez de água potável. Adverte Boaventura de Sousa Santos que a “A desertificação e a falta de água são os problemas que mais vão afectar os países do Terceiro Mundo na próxima década. Um quinto da humanidade já não tem hoje acesso à água potável”21.
O estudioso cientificamente comprometido – sempre atento ao passado e pronto a descortinar o futuro – precisa ser fiel intérprete do seu tempo. E as
21 SANTOS, Boaventura de Souza. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2001, p 24.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 21
circunstâncias concretas do tempo atual justificam a construção de uma nova dimensão de direitos fundamentais. A escassez de água potável no mundo gera uma grave crise, a comprometer a subsistência da vida no Planeta. Em outras palavras, a escassez de água potável é um problema crucial. Logo, essa carência gera a necessidade de novo direito fundamental. Em outro dizer, tais circunstâncias têm a força suficiente para partejar novos direitos fundamentais, visto que estes nascem gradativamente, no curso natural da História, mas como resultado de lutas travadas pelo esforço humano.
Nessa perspectiva, Norberto Bobbio reconhece que os direitos fundamen- tais – direitos do homem histórico – fazem parte de um processo jamais concluído. Segundo o autor,
Não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de liberdade e de poderes22.
Advirta-se que o nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamen-tais – no caso, representado pela água potável – não significa superação nem enfraquecimento dos direitos fundamentais consolidados em outras dimensões, mas o seu fortalecimento. Tais direitos, partejados por circunstâncias concretas, marcadas pelas necessidades humanas, passam a compor o patrimônio cultural e histórico da Humanidade. O que se tem, então, não é substituição, mas, acréscimo de direitos fundamentais.
Registre-se, nesse ponto, a inexorável influência da teoria histórica, a qual procura explicar como esses direitos surgem e se consolidam com o passar do tempo. Atento a este fenômeno, Fustel de Coulanges constata que:
O pretérito jamais morre completamente para o homem. O homem pode certamente olvidá-lo, mas o guarda sempre dentro
22 BOBBIO, 1992, p. 33.

22 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de si. De fato, tal como se mostra em cada época, o homem é o produto e o resumo de todas as épocas anteriores. E se o homem sondar sua alma, poderá aí encontrar e distinguir essas diferentes épocas e o que cada uma delas lhe legou23.
O direito fundamental à água potável, como direito de sexta dimensão, significa um acréscimo ao acervo de direitos fundamentais, nascidos, a cada passo, no longo caminhar da Humanidade. Esse direito fundamental, necessário à existência humana e a outras formas de vida, necessita de tratamento prioritário das instituições sociais e estatais, bem como por parte de cada pessoa humana.
Compreendido como direito fundamental – compondo, agora, uma nova dimensão –, o acesso à água potável exige mudanças de atitudes do Estado e da sociedade.
O Estado legislador fica comprometido a elaborar leis que priorizem a proteção e a promoção do direito fundamental, exigindo-se que sua atuação esteja vinculada à juridicidade desse direito. No que tange ao Estado administrador, este deve estabelecer políticas públicas, levando em consideração que se está diante de um direito fundamental. Já o Estado, prestador de serviços jurisdicionais, ao apreciar os conflitos sociais levados à sua apreciação, deve decidir de modo a concretizar o direito fundamental.
A sociedade, por outro lado, também passa a reconhecer a maior importância do bem jurídico a ser protegido e preservado. As pessoas, em suas condutas na vida cotidiana, passam a distinguir este direito dos que, embora importantes, não são fundamentais.
Em síntese, o acesso à água potável, considerado direito fundamental de sexta dimensão, passa a receber do Estado e também da sociedade o tratamento adequado a permitir que seja preservado em benefício de todas as pessoas, quer das presentes, quer das futuras gerações. A juridicidade do direito fica mais forte, vinculando todos os poderes estatais e também o agir de cada pessoa.
23 COULANGES, 1998, p. 15.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 23
3. características dos direitos fundamentais
3.1. indivisibilidade
Os direitos fundamentais são indivisíveis. Não se pode conceber direitos civis e políticos dissociados dos direitos sociais econômicos e culturais. O discurso da divisão nasceu a partir da edição, por parte da ONU, em 1966, de dois Pactos Internacionais: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, relativo à liberdade, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais concernente à igualdade. Contudo, essa dicotomia tem sido superada pelo esforço da doutrina. Neste sentido, a lição de Fábio Konder Comparato:
Os direitos humanos constantes em ambos os pactos, todavia, formam um conjunto uno e indivisível. A liberdade individual é ilusória, sem um mínimo de igualdade social; e a igualdade social imposta com sacrifício dos direitos civis e políticos acaba engendrando, mui rapidamente, novos privilégios econômicos e sociais. É o princípio da solidariedade que constitui o fecho de abáboda de todo o sistema de direitos humanos24.
A indivisibilidade dos direitos fundamentais foi sendo defendida pela dou-trina. Mesmo que a ONU tenha publicado, separadamente, dois documentos normativos, o objetivo não era criar duas categorias de direitos fundamentais. Esclarece Flávia Piovesan:
Inobstante a elaboração de dois Pactos diversos, a indivisibilidade e a unidade dos direitos humanos era reafirmada pela ONU, sob a fundamentação de que, sem direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos civis e políticos só poderiam existir no plano nominal e, por sua vez, sem direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais também apenas existiriam no plano formal25.
Tal característica dos direitos fundamentais (indivisibilidade) foi debatida na I Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Teerã, e formali-
24 COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 305.
25 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 166.

24 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
zada na Declaração de Teerã26, publicada em 13 de maio de 1968, ao final da-quele encontro.
A propósito, escreve Antônio Augusto Cançado Trindade:
O diviso de águas, nesse sentido, foi a I Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Teerã em 1968, dois anos após a adoção dos dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos das Nações Unidas. A Conferência proclamou a indivisibilidade dos direitos humanos, afirmando que a realização plena dos direitos civis e políticos será impossível sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais27.
Pode-se afirmar que uma sociedade precisa preservar tanto a liberdade (direi-tos civis e políticos) quanto à igualdade (direitos econômicos, sociais e culturais). Tais valores são imprescindíveis para a convivência humana.
3.2. positividade
Os direitos fundamentais encontram-se positivados na Constituição Federal. Admite-se, contudo, direitos fundamentais fora da Constituição. Daí poder-se falar, respectivamente, em direitos fundamentais formalmente constitucionais e direitos fundamentais materialmente constitucionais. Em princípio, os direitos fundamentais estão na Constituição, pois ali é seu lugar específico.
Nesse sentido, observa Gomes Canotilho que “Os direitos consagrados e re- conhecidos pela constituição designam-se, por vezes, direitos fundamentais formalmente constitucionais, porque eles são enunciados e protegidos por nor-mas com valor constitucional formal”28, ou seja, são normas que têm revestimento constitucional.
26 Declaração de Teerã, art. 13: “Como os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais resulta impossível. A realização de um progresso duradouro na aplicação dos direitos humanos depende de boas e eficientes políticas internacionais de desenvolvimento econômico e social”.
27 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: SAFE, 1997, v. I, p. 359.
28 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2002, p. 403.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 25
Quando um direito fundamental está escrito na Constituição, eliminam-se as discussões para saber se se trata de direito fundamental ou não. É direito fundamental pelo simples fato de a Constituição dizer que é. Todavia, não estando previsto na Constituição, é natural que se discuta se tal direito é fundamental ou não. Refletindo sobre esse problema, Gomes Canotilho aponta o caminho a ser seguido pelo intérprete:
Problema é o de saber como distinguir, dentre os direitos sem assento constitucional, aqueles com dignidade suficiente para serem considerados fundamentais. A orientação tendencial de princípio é a que considera como direitos extraconstitucionais materialmente fundamentais os direitos equiparáveis pelo seu objeto e importância aos diversos tipos de direitos formalmente constitucionais29.
Em outras palavras, um direito deve ser considerado fundamental quando for essencial à vida das pessoas. No presente caso, pode-se afirmar que o acesso à água potável é um direito fundamental, dada à sua imprescindibilidade para a subsistência humana.
3.3. complementaridade
Pode-se afirmar que direitos fundamentais vivem em situação de com-plementaridade. Significa que uns servem de meio para a concretização de outros, mas que também podem necessitar de outros para serem usufruídos. Há, portanto, situação de reciprocidade entre direitos fundamentais. Para Francisco Bala- guer Callejón, os direitos fundamentais são complementares “porque se apóiam uns nos outros; não são compartimentos estanques, mas se inter-relacionam mutuamente, de tal forma que o gozo de um deles pressupõe o desfruto de outro”30.
Nesse sentido, exemplificativamente, pode-se afirmar que os direitos fun-damentais políticos somente poderão ser usufruídos, se, antes, seu titular tiver tido acesso à informação, que se trata de outro direito fundamental. Da mesma
29 Idem.30 CALLEJÓN, Francisco Balaguer. Derecho Constitucional. Madri: Tacnos, 1999, p. 37.

26 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
forma, o direito fundamental à produção da prova no processo judicial somente pode ser exercido se a pessoa tiver, antes, garantido o acesso à Justiça.
No caso específico deste estudo, a água potável é um pressuposto para o exercício de outros direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida. Dizendo de modo inverso, o direito fundamental à vida somente poderá ser garantido, se as pessoas tiverem acesso à água potável.
3.4. vinculatividade
Os direitos fundamentais, pertencentes a qualquer das dimensões acima referidas, têm poder de vinculação. Não significam, portanto, meras declarações às quais seus destinatários podem ou não seguir. Eles vinculam todos os poderes estatais e, inclusive, os particulares.
Tais direitos vinculam o legislador em dois sentidos. Primeiramente, criando mecanismos jurídicos com o objetivo de estabelecer limites à atuação do poder estatal. As normas jurídicas editadas pelo Estado devem conter limitações à sua própria atuação. Em outras palavras, o poder estatal precisa estar limitado por disposições normativas por ele próprio editadas. Em segundo lugar, ele deve atuar no sentido de elaborar normas jurídicas que assegurem direito subjetivo ao titular do direito fundamental e imponham deveres jurídicos às demais pessoas e aos poderes públicos. Gomes Canotilho identifica com clareza os dois sentidos da vinculação do legislador aos direitos fundamentais:
A cláusula de vinculação tem uma dimensão proibitiva: veda às entidades legiferantes a possibilidade de criarem actos legislativos contrários às normas e princípios constitucionais, isto é, proíbe a emanação de leis inconstitucionais lesivas de direitos, liberdades e garantias. As normas consagradoras de direitos, liberdades e garantias constituem, nesta perspectiva, normas negativas de competência porque estabelecem limites ao exercício de competência das entidades públicas legiferantes (...). A vinculação dos órgãos legislativos significa também o dever de estes conformarem as relações da vida, as relações entre o Estado e os cidadãos e as relações entre os indivíduos, segundo as medidas e directivas materiais consubstanciadas nas normas garantidoras de direitos, liberdades e garantias. Nesse sentido, o legislador deve

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 27
‘realizar’ os direitos, liberdades e garantias, optimizando a sua normatividade e actualidade31.
Os direitos fundamentais vinculam, também, o Poder Executivo. Os gestores desse poder devem atuar no sentido de colocar em prática as disposições normativas que protegem direitos fundamentais. As políticas públicas devem voltar-se à concretização dos direitos que essenciais à convivência social.
Na lição de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, a Administração Pública, mesmo no exercício de atividade discricionária, não pode deixar de se submeter ao sistema de direitos fundamentais:
A vinculação da Administração às normas de direitos fun-damentais torna nulos os atos praticados com ofensa ao sistema desses direitos. De outra parte, a Administração deve interpretar e aplicar as leis segundo os direitos fundamentais. A atividade discricionária da Administração não pode deixar de respeitar os limites que lhe acenam os direitos fundamentais. Em especial, os direitos fundamentais devem ser considerados na interpretação e aplicação, pelo administrador público, de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados32.
Não seria demais acrescentar que essa vinculação deve existir em relação aos direitos fundamentais relativos a qualquer das dimensões acima abordadas. Isso incide sobre os direitos civis, políticos, sociais econômicos, culturais e ambientais, aí considerado o direito fundamental de aceso à água potável.
Os direitos fundamentais vinculam, ainda, o Poder Judiciário. Os órgãos des- se poder têm que estar comprometidos com a efetivação dos direitos fundamen-tais. Nesse campo, especificamente, os últimos anos têm suscitado intensa atuação do Poder Judiciário na efetivação de uma pluralidade de direitos fundamentais, nomeadamente aos direitos de acesso à saúde e de acesso à educação.
31 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 440.
32 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 237.

28 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Registre-se que os direitos fundamentais têm eficácia vinculativa não apenas em relação aos poderes públicos, mas, também, entre particulares. Se, por um lado, vinculam os poderes estatais, por outro, vinculam também os particulares, produzindo entre estes a chamada eficácia horizontal.
Nesse sentido, a lição de José Carlos Vieira de Andrade:
Por vezes, há relações de poder privado, semelhantes às “relações especiais de poder” típicas do direito administrativo. Outras vezes, são os grupos ou organizações que exercem poderes sobre os seus membros. Em certos casos, as entidades privadas dispõem de um poder econômico ou social suscetível de conformar aspectos relevantes da vida dos indivíduos não-membros, chegando mesmo a dispor de poderes normativos (mais ou menos vastos), tolerados ou institucionalizados33.
Nota-se, então, que a eficácia dos direitos fundamentais não se dá na relação indivíduo-Estado, mas entre dois entes particulares. Em matéria ambiental e, especificamente, no que tange ao tema desse estudo, pode-se verificar, em casos concretos, a eficácia horizontal do direito fundamental de acesso à água potável.
Imagine-se a hipótese de privatização das águas, política que tem sido adotado por alguns Países (África do Sul e Inglaterra) e mesmo por Estados e Municípios. As relações existentes entre fornecedor e consumidor de água são constituídas entre particulares. Logo, a eficácia do direito fundamental de acesso à água potável ocorre no plano horizontal.
4. o direito fundamental de acesso à água e sua cons-titucionalização
Afirmou-se que o acesso à água potável é um direito fundamental (item n. 2.6). Nessa condição, ele necessita receber proteção jurídica expressa em benefício de cada pessoa. Tal proteção jurídica deve estar primeiramente na Constituição Federal, porquanto esta é o local específico para abranger tais direitos. Registre-se
33 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos, Liberdades e Garantias no âmbito das Relações Privadas. In: Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 287.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 29
que a Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, não previu expressamente proteção ao direito de acesso à água potável no catálogo específico dos direitos e garantias fundamentais (arts. 5º a 17).
Os documentos internacionais concebem o acesso à água potável como direito humano fundamental. É o que pode ser encontrado no Relatório de Desenvolvimento Humano (2006), do Programa das Nações Unidas para o Desen-volvimento, publicado pela ONU: “A água, a essência da vida e um direito humano básico, encontra-se no cerne de uma crise diária que afecta vários milhões das pessoas mais vulneráveis do mundo - uma crise que ameaça a vida e destrói os meios de subsistência a uma escala arrasadora”34.
Observe-se que o referido Relatório concebe o acesso à água potável como direito fundamental e, em seguida, conclama a todos os governos para que atuem no propósito de concretizá-lo: “Converter a água num direito humano - e fazer com que seja cumprido. Todos os governos deveriam ir além dos vagos princípios constitucionais para a preservação do direito humano à água na legislação em vigor”35.
Nessa linha, as Constituições promulgadas mais recentemente revelam ten-dência de previsão expressa do acesso à água potável como direito fundamental. Podem ser mencionadas as Constituições da Bolívia e do Equador.
A Constituição da Bolívia, promulgada em outubro de 2008, afirma que o acesso à água potável, assim como o saneamento básico, é um direito humano, sendo proibida sua privatização ou concessão, estando sujeito a licenciamento e sistema de registro, nos termos da lei (art. 20, inciso III).
Já a Constituição do Equador, promulgada em 2009, afirma expressamente que o direito de acesso à água potável é um direito humano fundamental e irrenunciável. Tal direito é declarado como patrimônio nacional estratégico de uso público, inalienável, imprescindível, ininbargável e essencial à vida (art. 12).
Registre-se que o acesso à água potável deve ser considerado um direito fundamental não apenas feto fato (relevante) de estar expresso nas Constitui-ções, como ocorre na Bolívia e no Equador. Na verdade, ele está expressamente
34 RDH/2006, Relatório de Desenvolvimento Humano. PNUD Brasil. p. 10. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/rdh/>. Acesso em: 01.01.2014.
35 Idem.

30 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
previsto como direito fundamental nas Constituições desses Países justamente porque é um direito fundamental. Aliás, esse é um processo comum a vários direitos fundamentais: passam a ser considerados fundamentais e, em seguida, são formalizados como tal na Constituição.
Registre-se que as Constituições do Brasil e da Espanha preocuparam-se em proteger o meio ambiente.
A Constituição da Espanha, promulgada em 1978, protegeu expressamente o meio ambiente, assegurando a todos o direito de desfrutar de um ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa, bem como o dever de preservar. Previu, ainda, que as autoridades públicas devem assegurar o uso racional de todos os recursos naturais, a fim de proteger e melhorar a qualidade de vida e preservar e restaurar o meio ambiente, contando com uma solidariedade coletiva indispensável (art. 45).
Note-se que a Constituição da Espanha, bem antes do que a do Brasil e a de Portugal, por exemplo, protegeu o meio ambiente.
A Constituição do Brasil, de 05 de outubro de 1988, deu ampla proteção ao meio ambiente, assegurando a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida para às presentes e futuras gerações (art. 225).
Pode-se afirmar que a Constituição da Espanha e a Constituição do Brasil não contêm norma expressa a proteger o direito de acesso à água potável.
O trabalho sustenta a tese segundo a qual o direito de acesso à água potável deve ser positivado na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição da Espanha. Para a materialização da tese, sugere-se a inserção do direito fundamental em ambas as Constituições, nos seguintes termos: “Todos têm direito de acesso à água potável, devendo o Estado criar condições necessárias à sua efetiva concretização”.
5. conclusões
1. Os direitos fundamentais são históricos. Surgem de acordo com as circunstâncias sociais e as necessidades das pessoas. Tal fenômeno se verifica também em relação ao direito fundamental de acesso à água potável.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 31
2. Está assente na doutrina a existência de quatro dimensões dos direitos fundamentais, tendo-se advogado a existência de uma quinta dimensão. O presente trabalho sustenta a existência de uma sexta dimensão dos direitos fundamentais, consubstanciada no direito de acesso à água potável.
3. Os direitos fundamentais têm diversas características. Uma delas é a positividade. Isto significa que os direitos fundamentais devem ser positivados em um lugar específico: na Constituição.
4. O direito de acesso à água potável deve estar positivado na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição da Espanha. Essa cons-titucionalização já ocorreu em outros Países, cujas Constituições foram elaboradas recentemente. No Brasil e na Espanha, uma Emenda Constitucional poderá dar o status formal a esse direito fundamental.
6. referências
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos, Liberdades e Garantias no âmbito das Relações Privadas. In: Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 24 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
CALLEJÓN, Francisco Balaguer. Derecho Constitucional. Madri: Tacnos, 1999.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2002.
CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2008.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação Histórica dos Direitos Humano. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

32 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino. Direito Fundamental de Acesso à Água Potável: uma proposta de constitucionalização. In: Florestas, Mudanças Climáticas e Serviços Ecológicos. BENJAMIN, Antonio Herman; IRIGARAY, Carlos Teodoro; LECEU, Eladio; COPPELI, Sílvia (Organizadores). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.
FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino. Acesso à Água Potável: direito fundamental de sexta dimensão. Campinas/SP: Millennium Editora, 2 ed., 2012.
LUÑO, Antonio Perez. Los Derechos Fundamentales. 6 ed. Madrid: Tecnos, 1995.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 166.
PNUD Brasil. Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH/2006. PNUD Brasil. p. 10. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/rdh/>. Acesso em: 01 jan. 2014.
SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
SANTOS, Boaventura de Souza. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2001.
SARLET, Ingo Wolfgman. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: SAFE, v. I, 1997.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 33
a extrafiscalidade tributária aplicada na proteção do meio ambiente artificial
urbano e a função promocional segundo norberto bobbio
Bruno Soeiro Vieira1
Nelson Saule Júnior2
Resumo
Este artigo visa analisar a teoria da função promocional do direito da lavra de Norberto Bobbio e suas técnicas de encorajamento, vinculando-a, como fundamento científico, à discussão da proteção do meio ambiente urbano e às funções sociais da cidade e da propriedade, tal como expresso no caput do Art. 2º da Lei nº 10.257/2001. Destarte, por estar evidenciado o poder-dever estatal de tutelar o meio ambiente em todos os seus gradientes, buscou-se direcionar este estudo à proteção do meio ambiente artificial na Cidade de Belém (PA), pois aquela cidade amazônica possui um rico acervo patrimonial, oriundo de épocas áureas, tal como o período denominado de Belle Èpoque. Portanto, a mencionada proteção deve ser realizada através de todos os instrumentos admitidos no ordenamento jurídico. Todavia, priorizou-se analisar os instrumentos jurídicos constantes na legislação urbanística e tributária daquele município, em especial, as operações de encorajamento, materializadas na figura de dois tipos de isenções tributárias (renúncia extrafiscal) que, em tese, devem incentivar e premiar a conservação dos imóveis que a municipalidade resolveu proteger devido ao notório valor histórico, artístico, cultural e ambiental.
1 Mestre em Direito do Estado pela Universidade da Amazônia (UNAMA), Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), Auditor Fiscal Municipal, Professor das disciplinas Direito Urbanístico, Tributário e Financeiro na Universidade da Amazônia (UNAMA) e Doutorando em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). E-mail: [email protected]
2 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), Professor de Direito do Curso de Graduação e Pós-Graduação, Coordenador do escritório modelo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Coordenador da área Direito à Cidade do Pólis (Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais), Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), Coordenador da Revista Magister Direito Ambiental e Urbano. E-mail: [email protected]

34 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Palavras-chave
Função promocional do direito; Técnicas de encorajamento; Sanção positiva; Extrafiscalidade; Patrimônio histórico-cultural; Cidade sustentável.
Abstract
This article aims to analyze the theory of the promotional role of law tilled by Norberto Bobbio and its techniques of encouragement, linking it as scientific foundation, the discussion of the protection of the urban environment and the social functions of the city and property as expressed the chapeau of Article 2 of Law number 10.257/2001. Thus, to be evidenced by state power and duty to protect the environment in all its gradients, we sought to direct this study to protect the artificial environment in the city of Belém (PA), since this Amazonian city has a rich asset base come from golden eras, such as the period called Belle Epoque. Therefore, the mentioned protection should be carried through all instruments admitted to the legal system. However, the priority was to examine the legal instruments included in town planning and tax laws of that county, in particular, the operations of encouragement, embodied in the figure of two types of tax exemption (extrafiscal waiver) which, in theory, should encourage and reward conservation property that the municipality decided to protect due to notorious historical, artistic, cultural and environmental value.
Key words
Promotional function of law; Techniques of encouragement; Positive sanc-tion; Extrafiscality; Cultural heritage; Sustainable city.
1. introdução
Preliminarmente, faz-se necessário afirmar que toda pesquisa acadêmica tem sua gênese em uma inquietação, uma angústia que reside no interior de cada um dos pesquisadores. Nesta pesquisa não poderia ser diferente.
Assim, após observarmos o valiosíssimo legado arquitetônico e cultural deixado pelas gerações passadas, escolhemos como locus de pesquisa a Cidade de Belém (situada na Amazônia brasileira). É também naquela Cidade que estamos acompanhando o gradativo processo de degradação e abandono dos imóveis situados na sua parte mais antiga.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 35
Com efeito, com fundamento na teoria da função promocional do direito elaborada por Norberto Bobbio, temos o objetivo de avaliar a eficiência da política extrafiscal prevista na legislação urbanística e tributária daquele município.
Demos início a este artigo fazendo referência à cidade de Belém, que outrora foi denominada de “Metrópole da Amazônia” (em virtude da sua importância socioeconômica e da grande quantidade de imóveis de relevante valor histórico e cultural), sua fundação, sua população e como foi constituído o importante acervo histórico, cultural e ambiental deixado pelos seus habitantes do passado.
Na sequência, buscamos analisar a evolução teórica daquele filósofo italiano que partiu de uma concepção do positivismo kelseniano de cunho estritamente estruturalista e concluiu que o direito alberga, além da função estrutural, a função promocional, onde as técnicas de encorajamento cada vez mais estão presentes na dinâmica do Estado contemporâneo.
Posteriormente, discorremos sobre a temática da extrafiscalidade aplicada na proteção ambiental, em especial, do meio ambiente artificial das cidades.
Por fim, fizemos um corte metodológico capaz de restringir nossa avaliação da função promocional do direito aplicada à proteção dos imóveis urbanos localizados no centro histórico e seu entorno, almejando aferir se tal política extrafiscal prevista na legislação municipal está sendo eficiente de modo a contribuir com a proteção do meio ambiente artificial na cidade de Belém.
2. belém e o legado arquitetônico
A cidade de Belém, capital do Estado do Pará, está localizada às margens direita da Baía do Guajará e do Rio Guamá, que, por sua vez, é um dos afluentes do Rio Amazonas e, desde a sua fundação, em 1616, o rio constituiu-se em um elemento norteador da sua localização e de sua expansão.
Segundo dados obtidos no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Belém possui uma população estimada em 2013 de 1.4255.922 habitantes e uma área territorial de 1.059.046 km².3
3 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=150140> Acesso em: 10 jun. 2014.

36 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Sobre a sua fundação, importante deixar demonstrado que a criação urbana antecede sua própria hinterlândia, pois foi concebida para defender o território das pressões de outras potências europeias.4
Com efeito, Belém foi o primeiro núcleo colonial português na Amazônia e teve como ponto inicial de povoamento o atual Forte do Presépio, expandindo-se inicialmente ao longo da orla do Rio Guamá, formando o atual Bairro da Cidade Velha e com a continuidade de sua expansão originou-se o Bairro da Campina (atualmente, Bairro do Comércio).5
Os dois bairros mencionados estão localizados no que se denomina de Centro Histórico de Belém, de acordo com a Lei do Plano Diretor de Belém (Lei nº 8.655/2008), concentrando um expressivo número de exemplares arquitetônicos, alguns suntuosos, que remontam aos séculos XVIII, XIX e ao início século do XX.
Tais bairros e as demais áreas que constituem o centro histórico e seu entorno são frutos do passado histórico e de seus momentos emblemáticos que até hoje reinam na memória e no imaginário de seus cidadãos. Dentre esses momentos que marcaram a construção da cidade de Belém, podemos exaltar dois como sendo os mais importantes. Tais momentos ocorreram na segunda metade do século XVIII (intervenções urbanas promovidas pelo Marquês de Pombal) e no final do século XIX e início do século XX, na denominada Belle Èpoque (período da extração e comércio do látex).
No primeiro momento, Belém ganhou uma arquitetura muito bela e, por vezes, suntuosa, a partir do estilo preferido pelo Marquês de Pombal. O segundo, à custa do alto volume de recursos que transitou pela Amazônia em decorrência do comércio do látex, Belém e Manaus tornaram-se duas das maiores cidades do Brasil, onde o “urbanismo nacional estava sob a influência direta dos conceitos parisienses de intervenção urbana, tendo a frente o Barão Haussman.”6
4 TRINDADE JR., Saint-Clair Cordeiro da. Produção do espaço e do solo urbano de Belém. Belém: UFPA/NAEA/PLADES, 1997. p. 32.
5 LIMA, José Júlio; TEIXEIRA, Luciana G. Janelas para o rio: projetos de intervenção na orla urbana de Belém do Pará. In: VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard (Org.). Intervenções em centro urbanos: objetivos, estratégias e resultados. 2. ed. rev. atual. Barueri, SP: Manole, 2009. p. 199-232.
6 LIMA, José Júlio; TEIXEIRA, Luciana G. Janelas para o rio: projetos de intervenção na orla urbana de Belém do Pará. In: VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 37
No entanto, entendemos que foi o período da Belle Èpoque que proporcionou o maior e mais consistente legado arquitetônico e cultural para a Belém atual, afinal, como dito acima, o volume de recursos que foi gerado com as atividades econômicas vinculadas ao látex foi imenso, conforme a transcrição seguinte relata:
Em fins do século XIX, as cidades cresceram na Amazônia como símbolos da Modernidade e do progresso: o auge da exploração gomífera conduziu ao incremento da infra-estrutura (sic) urbana e ao seu embelezamento, aos moldes franceses. A visão da paisagem de Belém no início do século XX já aponta a conformação de uma metrópole: iluminação a gás, serviço de bonde, rede parcial de água e esgoto, telefones, casas pré-fabricadas em ferro, coretos, postes e relógios de origem francesa, inglesa, alemã e belga. E a configuração moderna se expandia ao longo da estrada de ferro, na regularidade do traçado do bairro do Marco com seus amplos terrenos, ocupados por casas que atingem novos padrões estéticos e ambientais, e o exuberante Bosque Municipal remodelado ao estilo eclético romântico.7
Ressaltamos que, nos dias atuais, o legislador municipal visando dar efetividade ao encargo constitucional de preservar o patrimônio histórico e cultural (já que se trata de um assunto de interesse local), determinou por meio da Lei nº 7.401/98, que um dos objetivos prioritários da política de desenvolvimento urbano do município de Belém deve ser a preservação do patrimônio ambiental e a valorização do patrimônio cultural do município, através de proteção ecológica, paisagística e cultural.
Com efeito, o mundo moderno, hoje predominantemente urbanizado, tem como cenário principal as cidades, ou seja, o espaço urbano; este que foi construído ao longo da história, guarda fragmentos de vida, resquícios de momentos diversos da história social e finda por conter em seu bojo marcas de toda uma vivência e de um processo de construção das cidades.
(Org.). Intervenções em centro urbanos: objetivos, estratégias e resultados. 2. ed. rev. atual. Barueri, SP: Manole, 2009. p. 199-232.
7 MIRANDA, Cybelle Salvador. Cidade Velha e Feliz Lusitânia: cenários do patrimônio cultural de Belém. Tese de Doutorado. UFPA. Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais. Belém: 2006. p. 70.

38 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
É nesse espaço urbano que se encontram as marcas, as rugas de toda uma história, onde um dos aspectos mais evidente está representado nos imóveis localizados nos centros históricos protegidos pelas legislações urbanísticas municipais.
Nesta senda, trazemos à colação o seguinte trecho:
As tensões entre consciência do presente e a nostalgia do passado se expressam na arquitetura, objeto que testemunha as épocas da história e permite ao citadino regressar no tempo ao vivenciar os eventos passados. O percurso dos séculos se cristaliza na cidade, e a preservação do patrimônio edificado conduz à leitura de um tempo-espaço que não volta mais, mas que emerge no imaginário como a busca do ideal, da felicidade.8
Resta claro, portanto, que o município de Belém por possuir um acervo histórico-patrimonial relevante, necessita utilizar todos os instrumentos possíveis no intuito de tutelar este legado ambiental e cultural que foi deixado para as presentes e futuras gerações. Dessa maneira, vislumbramos que o instrumento jurídico-tributário da tributação extrafiscal, concretizado através das isenções do IPTU e da taxa de licenciamento de obras, poderá ser útil à proteção urbanística e ambiental dos imóveis de reconhecido valor histórico, artístico e arquitetônico situados naquele município.
Nessa esteira, a lição de Norberto Bobbio relativa à função promocional do direito e a respectiva técnica de encorajamento poderá servir de suporte teórico à análise aqui elaborada, ratificando ou refutando um modelo extrafiscal de tributação municipal que estimule a proteção e a conservação do importante patrimônio cultural e ambiental existente em Belém.
3. a função promocional do direito
Cientes que o direito é composto por um número infinito de normas jurídicas9 e que as mesmas estão inseridas e estruturadas em um ordenamento, acredita-
8 LIMA, José Júlio; TEIXEIRA, Luciana G. Janelas para o rio: projetos de intervenção na orla urbana de Belém do Pará. In: VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard (Org.). Intervenções em centro urbanos: objetivos, estratégias e resultados. 2. ed. rev. atual. Barueri, SP: Manole, 2009. p. 199-232.
9 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 3 ed. São Paulo: Noeses, 2013. p. 637.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 39
mos, na esteira da lição de Norberto Bobbio, que a nossa vida transcorre no interior de um mundo de normas, onde pensamos ser livres, mas que, em realida-de, estamos envolvidos em uma camada muito grossa de regras de condutas que nos regem desde o nascimento até a morte.10
Todavia, a normatividade (enquanto fenômeno) não se aplica apenas ao indivíduo, em sua vida, ao homem singular, mas também pode ser notada ao interferir e conduzir o cotidiano das sociedades de modo a guiá-las na direção do desenvolvimento social e econômico.
Assim, tentaremos traçar, em poucas linhas, a evolução das funções do direito, partindo da concepção de Hans Kelsen até chegarmos ao entendimento de Norberto Bobbio.
Ressaltamos, por isso, que Bobbio partindo das lições de Kelsen, visou entender o direito e suas funções por um outro prisma, momento no qual o justifilósofo italiano percebeu que a teoria da sanção precisava ser aperfeiçoada de modo a ultrapassar a concepção de Kelsen acerca do direito como uma ordem de coerção (sanção)11.
Assim, para Kelsen o direito consiste em uma ordem coercitiva, onde “toda regra jurídica obriga os seres humanos a observarem certas condutas sob certas circunstâncias”12, onde a partir de tal ordem, caso haja o desrespeito ao previsto em determinada norma jurídica, tal conduta, por ser contrária ao direito posto, precisa ser reprimida, sancionada.
Sobre este tema, Bobbio assevera o seguinte:
Uma norma prescreve o que deve ser. Mas aquilo que deve ser não corresponde sempre ao que é. Se a ação real não corresponde à ação prescrita, afirma-se que a norma foi violada. É da natureza de toda a prescrição ser violada, enquanto exprime não o que é, mas o que deve ser. À violação, dá-se o nome de ilícito. O ilícito consiste em
10 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução: Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Bauru, SP: EDIPRO: 4 ed. Revista, 2008. p. 23-4.
11 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 121.
12 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução: Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 5.

40 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
uma ação quando a norma é um imperativo negativo e em uma omissão quando a norma é um imperativo positivo. No primeiro caso, afirma-se que a norma não foi observada, no segundo, que não foi executada. [ . . . ] A ação que é cumprida sobre a conduta não conforme para anulá-la, ou pelo menos para eliminar suas consequências danosas, é precisamente aquilo que se chama de sanção. A sanção pode ser definida, por este ponto de vista, como o expediente através do qual se busca, em um sistema normativo, salvaguardar a lei da erosão das ações contrárias.13 (grifos do autor)
Apesar de discorrermos nossa análise sobre as funções do direito e, portanto, com ênfase no ordenamento jurídico, por entendermos que o mesmo constitui-se em uma reunião de normas, relevante deixarmos patente o entendimento aqui esboçado acerca das normas jurídicas.
Seguindo a esteira de Paulo de Barros Carvalho14, entendemos que não existem normas jurídicas desprovidas de sanção, mas é importante dizer que tal assertiva dependerá do entendimento acerca do que é norma jurídica e sanção, conforme lição abaixo:
Se considerarmos a expressão “norma jurídica” em sentido amplo (enunciados prescritivos e suas significações ainda não deonticamente estruturadas) a resposta é sim, existe norma jurídica sem sanção, pois nem todos enunciados do direito prescrevem condutas a serem sancionadas caso descumpridas. [...]
E, se considerarmos a expressão “norma jurídica” em sentido estrito, ainda temos outro problema, que é o conceito de “sanção”. [...]
Sob este enfoque todas as normas jurídicas têm sanção, sob pena dos direitos e deveres por elas prescritos não se concretizarem juridicamente.15
Ratificamos o entendimento acima com as palavras de Kelsen que aduz:
13 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução: Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Bauru, SP: EDIPRO: 4 ed. Revista, 2008. p. 152-3.
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 23.
15 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 3 ed. São Paulo: Noeses, 2013. P. 319-21.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 41
Se o Direito não fosse definido como uma ordem de coação mas apenas como ordem posta em conformidade com a norma fundamental e esta fosse formulada com o sentido de que as pessoas se devem conduzir, nas condições fixadas pela primeira Constituição histórica, tal como esta mesma Constituição determina, então, poderiam existir normas jurídicas desprovidas de sanção, isto é, normas jurídicas que, sob determinados pressupostos, prescrevessem uma determinada conduta humana, sem que uma outra norma estatuísse uma sanção para a hipótese de a primeira não ser respeitada.16
Relevante frisar que discorremos nossa análise sobre o positivismo em Kelsen e sua evolução através de Bobbio, pois entendemos que se trata do paradigma que é dominante na ciência jurídica, notadamente, nos países onde é admitido o sistema romano-germânico, ou seja, nos quais há predominância das normas jurídicas positivadas. Tal fato não pode ser negado, todavia, vislumbra-se uma mudança lenta de cenário, em outros termos, podemos ver o surgimento lento e gradual de um novo paradigma das ciências (inclusive na ciência jurídica), este cuja configuração “que se anuncia no horizonte só pode obter-se por via especulativa. Uma especulação fundada nos sinais que a crise do paradigma actual (sic) emite mas nunca por eles determinada.”17
Ademais, observando-se o desenvolvimento teórico do positivismo jurídico promovido por Bobbio descortina-se um novo momento do positivismo, onde há uma marcante influência de outras ciências sociais, em especial, da sociologia, tal como podemos notar na transcrição abaixo:
A sanção positiva em Bobbio parece ter tido inspiração jurídica, mas não se pode negar que o conceito não pertence unicamente ao âmbito do Direito. A sociologia e a filosofia utilizaram-se da sanção positiva amplamente, quando tratam das sanções na sociedade e não só das sanções jurídicas. Porém, é Bobbio quem dá a esse termo um significado forte no mundo do Direito, fazendo com que uma gama de juristas passasse a pensar em uma outra
16 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 59.
17 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 59.

42 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
forma de conceber o Direito, que não precisasse utilizar somente da coação direta.18
Desta feita, enquanto Hans Kelsen não admitia a influência de outras ciências no plano da ciência jurídica, constatamos que Bobbio, mesmo sendo um positivista, admite um diálogo entre as ciências, o que para nós evidencia uma evolução teórico-conceitual do direito por Bobbio que contribui para a construção de um novo paradigma que emerge no seio das sociedades contemporâneas, pois nesse contexto, o denominado pós–positivismo não surge com o ímpeto de promover a desconstrução, mas como uma espécie de “supera-ção do conhecimento convencional. Ele inicia sua trajetória guardando deferên-cia relativa ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e legitimidade.”19
Importante deixar explícito que, a partir da primeira metade do Século XX, regimes totalitários sustentados pelos formalismos e influenciados pelos pensamentos positivistas, começaram a ser questionados com o processo de reconhecimento e adesão aos direitos humanos na dimensão internacional e nacional, resultando numa crise do pensamento moderno do direito positivista.
Assim, vários pensamentos críticos sobre o positivismo jurídico foram desenvolvidos a partir da segunda metade do século XX, como os próprios direitos humanos na sua dimensão pós-moderna, universal e internacional, o uso alternativo do direito, o pluralismo jurídico no pensamento de Boaventura de Sousa Santos e, no Brasil, os movimentos pelo direito alternativo, da nova escola jurídica preconizada por Roberto Lyra Filho20 e o direito achado na rua desenvolvido por José Geraldo de Sousa Júnior21.
Sendo assim, ao destacarmos o pensamento de Norberto Bobbio, fazemos uma reflexão sobre a importância de superar a crise do pensamento do positivis-
18 SALGADO, Gisele Mascarelli. Sanção na teoria do direito de Norberto Bobbio. Curitiba: Juruá, 2010. p. 129.
19 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 121.
20 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito? São Paulo: Brasiliense, 1982.21 SOUSA JUNIOR, José Geraldo. Direito como liberdade: o direito achado na rua. Porto
Alegre: SAFE, 2011.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 43
mo jurídico, contribuindo para um movimento em andamento, um “paradigma emergente”22, que tece críticas ao enclausuramento do modo positivista de pensar o direito, não admitindo o diálogo da ciência jurídica com outras ciências sociais.
Sendo assim, sem perder a noção de um ordenamento positivado, achamos que o direito deve trocar experiência, deve relacionar-se com as demais ciências sociais, notadamente, a sociologia, a economia, a geografia e a filosofia, sob pena de construir modelos e ideias míopes, incapazes de dar respostas convincentes a diversas indagações advindas de um mundo pós-moderno.
Com efeito, após termos pontuado que o positivismo precisa ser repensado sob um prisma pós-moderno, mas reiterando a importância da análise do ordenamento, da norma e de sua sanção, ao direcionarmos o debate da sanção em termos de eficácia, será necessário, sem dúvida, que abordemos os aspectos relativos à função da sanção definida no ordenamento jurídico. Isto porque, vislumbramos que a análise a ser feita acerca da função da sanção deve utilizar não apenas a norma, isolada, enclausurada, mas sim, o ordenamento jurídico, enquanto uma plêiade de normas que se relacionam e guardam relação entre si.
A razão de priorizarmos analisar o ordenamento decorre do fato de que os problemas do direito foram tradicionalmente estudados sob o viés exclusivo da norma jurídica como se fosse um todo23, sem contudo, considerar a norma jurídica enquanto parte de um universo mais vasto que a compreende.
Sobre as sanções e a respectiva eficácia destas, Kelsen adverte que são criadas por uma ordem normativa visando garantir a eficácia da mesma. Destarte, a “eficácia de uma ordem normativa – segundo opinião usual – consiste em que suas normas impõem uma conduta determinada, e efetivamente são observadas, e quando não cumpridas são aplicadas.”24
Nesse sentido, no que tange ao raciocínio sobre a eficácia da sanção, Bobbio procurou uma maneira que evitasse a dicotomia entre ser e dever ser, pois o
22 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 59-62.
23 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Ari Marcelo Solon. São Paulo: EDIPRO, 2011. p. 36.
24 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução: José Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 1986. p. 176.

44 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
justifilósofo italiano entendeu que a função da sanção não estava relacionada a uma norma em particular, mas, ao contrário, tinha relação com o ordenamento jurídico.
Desse modo, com tal entendimento Bobbio aprimorou a concepção de Hans Kelsen de que o direito era um mero regulador da força (um instrumento de repressão institucionalizado) e passou a entender o direito também como um meio, um instrumento de promoção social e econômica. Tal postura denota uma clara reflexão de Bobbio acerca do positivismo jurídico kelseniano, conduzindo a um enriquecimento do mesmo, em virtude da ênfase dada à questão da função promocional do direito.
Dessa maneira, foi a partir da década de 60 do século passado que Bobbio começou a distanciar-se da visão estritamente estrutural do positivismo jurídico, pois para aquele justifilósofo o Estado crescera a ponto de transformar o direito, enquanto ente regulador da sociedade e, por isso, somando-se à típica função repressiva dos comportamentos indesejados (natural de uma visão estrutural) existe a função promocional, manifestada nos incentivos por meio dos quais o Estado estimula e premia comportamentos desejados.
Ilustrando o acima pontuado, relevante trazer à colação o trecho seguinte:
Dando seguimento à profunda transformação que em todos os lugares deu origem ao Welfare State, os órgãos públicos perseguem os novos fins propostos à ação do Estado mediante novas técnicas de controle social. [ . . . ] proponho-me a examinar um dos aspectos mais relevantes – e ainda pouco estudados na própria sede da teoria geral do direito – das novas técnicas de controle social, as quais caracterizam a ação do Estado social dos nossos tempos e a diferenciam profundamente da ação do Estado liberal clássico: o emprego cada vez mais difundido das técnicas de encorajamento em acréscimo, ou em substituição, às técnicas tradicionais de desencorajemento.25
Percebemos que a mudança de rota intelectual de Bobbio acerca das funções do direito foi motivada a partir da leitura das obras de Friedrich Hayek e Herbert Hart, conforme podemos observar no trecho seguinte, textuais:
25 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 2.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 45
Com base na grande alteração proposta por Hart, que está em alargar o conceito do Direito para aquele que não depende necessariamente da sanção, Bobbio pode construir um novo conceito de Direito. A sanção positiva pode ser justificada em um Direito que não depende da sanção negativa, porque o Direito não precisa mais ser um conjunto de normas sancionadoras.
A partir dessas afirmações de Hart quanto às funções do Direito é que Bobbio diz ter se inspirado para criar uma teoria da função do Direito. A teoria de Hart, que liga a sanção e a função, e a teoria de Hayek, que fala da necessidade de construção de um novo Direito para um novo Estado, são as referências de Bobbio para um Direito que não estava somente baseado na estrutura do Direito.26
Vislumbramos, portanto, que Bobbio progrediu com sua análise acerca da teoria geral do direito ao evidenciar que duas funções do direito (protetora e repressora) eram insuficientes, pois com a transformação dos Estados, principalmente após a segunda grande guerra, onde o papel dos mesmos apresentou sensível modificação, tornou-se premente entender que o Estado devia exercer um controle social mais evidente e diferenciado, fortalecendo-se, assim, a ideia de um Estado promocional, onde a “intervenção do poder político na esfera dos interesses econômicos foi aumentando em vez de diminuir”.27
Antes da evolução intelectual de Bobbio acerca das funções do direito, a pergunta-chave era: Como o direito é? Posteriormente, indagou-se: Como o direito funciona?
Sendo assim, segundo o raciocínio de Bobbio, percebemos que a teoria de Hans Kelsen sobre as sanções negativas era insuficiente, pois não valorizou a função promocional do direito através da utilização das sanções positivas, como pode ser notado nas próprias palavras de justifilósofo de Viena, in verbis:
É digno de nota o fato de que entre as duas sanções aqui apresentadas como típicas – a ameaça de desvantagem em caso
26 SALGADO, Gisele Mascarelli. Sanção na teoria do direito de Norberto Bobbio. Curitiba: Juruá, 2010. p. 191.
27 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 10.

46 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de desobediência (punição, no sentido mais amplo do termo) e a promessa de vantagem no caso de obediência (a recompensa) -, a primeira desempenha um papel muito mais importante que a segunda na realidade social.28
Nesse sentido, se pensarmos em teoria da estrutura do direito, será inevitável a vinculação à ideia de sanção negativa, esta conforme acima mencionado, priorizada por Kelsen em seus estudos e destinada a um papel eminentemente coercitivo (repressivo). Por outro lado, caso venhamos a analisar a teoria da função do direito, sem dúvida alguma, precisaremos ressaltar a importância das sanções positivas, isto porque elas podem ser utilizadas como mecanismo estatal de promoção de condutas desejáveis.
Evidenciamos, portanto, que Bobbio construiu um discurso científico que priorizou a análise das funções do direito em detrimento da discussão acerca da estrutura, apesar de notarmos que ele não tenha negado a importância da teoria da estrutura do direito, como ratifica Losano ao afirmar que admitir a função como elemento basilar do direito não implica, todavia, “a rejeição de uma visão estrutural do direito. Trata-se, não de um repúdio, mas sim de um complemento: a explicação estrutural do direito conserva intacta a sua força heurística [. . .]”29
Sendo assim, acerca das espécies de sanção é salutar fazer referência à lição de Bobbio que assevera que na literatura filosófica e sociológica, o termo “sanção” é empregado em sentido amplo30, servindo tanto para as consequências agradáveis quanto para as desagradáveis, onde as primeiras seriam alcançadas através da utilização das sanções positivas (para que algo desejado seja alcançado) e as outras seriam sanções negativas (manejadas visando impedir a ocorrência de condutas indesejadas).
Podemos entender que o Estado promocional está vinculado à ideia de sanção positiva, ou seja, a função promocional do direito tem como objetivo estimular
28 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução: Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 25.
29 LOSANO, Mario. Prefácio à Edição brasileira. In: Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. XLI.
30 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 7.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 47
condutas e atitudes consideradas satisfatórias a toda sociedade. Enquanto isso, as sanções negativas estão adstritas ao aspecto estrutural do direito, objetivando através da coerção reprimir posturas indesejadas.
No sentido de esclarecer o acima exposto, é relevante transcrever o seguinte excerto:
Embora o cientista do Direito não seja um homem alheio à sociedade em que vive, a percepção da nova situação nos leva a considerar o se-guinte:
a) na tradição do Estado protetor e repressor, o jurista, encarando o Di-reito como um conjunto de regras dadas com função sancionadora e negativa, tende a assumir o papel de conservador daquelas regras que ele, então, “sistematiza e interpreta”;
b) já na nova situação do Estado promocional, o jurista, encarando o Di-reito “também” como um conjunto de regras, mas em vista de uma fun-ção implementadora de comportamentos, tende a assumir um papel de modificador e criador.31 (grifos do autor)
Visando ratificar a evolução teórico-científica de Bobbio, reforçamos o acima mencionado com um trecho onde ele é preciso ao aduzir que o direito não está mais limitado a tutelar os atos conformes às próprias normas, mas pretende induzir atos inovadores, fazendo com que a sua função não seja mais apenas protetora, mas também promocional, eis que surge, paralelamente ao emprego quase exclusivo das sanções negativas (enquanto técnica específica da repressão), “um emprego, não importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida a uma técnica de estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da repressão de atos considerados nocivos.”32
Como consequência da evolução intelectual do justifilósofo italiano e re-presentando um aprofundamento de sua análise teórica, temos a concepção das técnicas de desencorajamento e de encorajamento.
31 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Apresentação à Edição brasileira. In: Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Ari Marcelo Solon. São Paulo: EDIPRO, 2011. p. 29.
32 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 24.

48 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
As técnicas de desencorajamento estão ligadas a um modelo de ordenamento jurídico com função repressora e protetora, de maneira a evitar, através de forma negativa, que certas condutas ocorram. Noutra banda, estão as técnicas de encorajamento, relacionadas a um ordenamento jurídico de cunho promocional, afinal, visam estimular (induzir) a ocorrência de determinadas condutas que, em razão de acontecerem, proporcionam os incentivos e as denominadas sanções premiais, termo utilizado por Hans Kelsen (apesar de pouco desenvolvido pelo mesmo).
Ferraz Jr. deixa claro que as técnicas de desencorajamento são fruto de uma visão típica do século XIX, onde o ordenamento jurídico procura tornar certas con-dutas mais “penosas”, tornando outras mais vantajosas, ao passo que as técnicas de encorajamento são típicas dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, onde objetiva-se facilitar que certa conduta possa ocorrer, inclusive, com a concessão de prêmio, cujos exemplos mais notórios são a subvenção e a isenção fiscal.33
A análise desenvolvida acerca da teoria da função promocional da lavra de Norberto Bobbio não é recente e conta com juristas vinculados ao direito tributário como notamos no trecho a seguir, textuais:
Assim, ao lado de disposições punitivas com finalidades intimidativas e repressivas, foram surgindo normas de estímulo e prêmio, com aquelas harmonizadas, tudo visando a assegurar a mais completa adequação dos comportamentos dos contribuintes (e terceiros) às exigências da legislação tributária. Destarte, a tônica das modernas legislações tributárias repousa concomitantemente nas medidas coercitivas e nas suasórias.34
Sobre as medidas de encorajamento, enquanto afirmação de uma tarefa pro-mocional do direito, concordamos com a declaração de Bobbio de que existe um uso cada vez mais frequente de tais técnicas, reflexo de uma evidente transformação na função do sistema normativo em seu todo e na maneira de realizar o controle social. Destarte, há uma evolução de um controle passivo que atua voltado a
33 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Apresentação à Edição brasileira. In: Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Ari Marcelo Solon. São Paulo: EDIPRO, 2011. p. 27.
34 ATALIBA, Geraldo. Espontaneidade no procedimento tributário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: RT, v. 13, n. 13, p. 31-39, 1974.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 49
desfavorecer as ações indesejadas (obstaculizando ao máximo as ações indesejadas) rumo a um controle ativo cujo foco é privilegiar as ações desejadas, através de medidas que as tornem desejáveis, fáceis e vantajosas ao agente.35
Assim, apesar de constarem na legislação urbanística do município de Belém exemplos da técnica de desencorajamento, através da utilização de sanções negativas (v.g. multa, interdição, embargo e demolição36), ressaltamos que privilegiamos neste artigo a análise acerca das técnicas de encorajamento, pois as mesmas são fundamentais ao desenvolvimento desta pesquisa acadêmica.
Desse modo, evidenciamos a existência de duas operações relativas à referida técnica. A primeira diz respeito à sanção positiva, como forma de retribuição de um comportamento já realizado. A outra diz respeito à facilitação, a qual antecede ou acompanha a conduta que o Estado quer induzir.
No mesma toada ensina leciona Rabelo Neto, como segue:
Ao contrário, em um ordenamento promocional, característico de um Estado Social intervencionista e dos Estados atuais, como o brasileiro, a técnica típica das medidas indiretas é o encorajamento, pelo qual se busca tornar o comportamento desejado mais fácil ou, uma vez realizado, produtor de consequências agradáveis, mediante a utilização de duas operações: a sanção positiva propriamente dita, sob a forma de recompensa (prêmio) de um comportamento (prêmio) de um comportamento já realizado; e o incentivo ou facilitação, que precede ou acompanha o comportamento que se pretende encorajar.37
Em relação às duas operações acima descritas, Bobbio exemplifica a fa-cilitação ou incentivo através: da subvenção; de uma contribuição financeira; ou da facilitação de crédito. Por outro lado, sobre a sanção positiva (premial), o justifilósofo exemplifica citando a utilização da consignação de um prêmio ou através de isenção (renúncia extrafiscal).38
35 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 15.
36 Artigos 82 e 85 da Lei nº 7.401/88.37 RABELO NETO, Luiz Octavio. Benefícios fiscais como instrumento das medidas de
ação afirmativa. São Paulo: Letras Jurídicas, 2013. p. 38.38 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução:
Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 18.

50 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Ratificando o acima descrito, “incentivo e prêmio, são formas típicas de manifestação da função promocional do Direito, sendo que o prêmio é uma resposta a uma ação boa, enquanto o incentivo é um expediente para se obter uma ação boa.”39
Neste ponto do desenvolvimento da pesquisa deparamo-nos na interseção clara entre as operações típicas da técnica de encorajamento (facilitação e sanção positiva) desenvolvida por Bobbio (função promocional do direito) e o estudo da tributação extrafiscal urbanística com dimensão ambiental por meio da utilização do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e das taxas, cujo escopo estatal é a proteção dos imóveis que possuem relevante valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural.
Afinal, se o legislador constituinte brasileiro incluiu a proteção do patrimônio histórico dentro do rol das competências concorrentes dos entes federados, evidencia-se que todos devem atuar, inclusive as municipalidades (pois o meio ambiente urbano é um interesse local), através de todos os instrumentos hábeis, objetivando dar concretude a referida tutela, evidentemente, cada qual no âmbito da citada competência concorrente.
Com efeito, entendemos que no âmbito da legislação do município de Belém (Lei nº 7.933/98) está materializada a função promocional do direito através da técnica de encorajamento, através das operações de facilitação (incentivo) e da sanção positiva, como detalharemos em seguida.
4. a extrafiscalidade como meio de promoção à pro-teção do meio ambiente urbano
Os legisladores, durante a Assembleia Nacional Constituinte, ao redigirem o texto da Constituição vigente, almejaram, dentre outras coisas, instituir um modelo de federalismo fiscal cooperativo (solidário), onde todos os entes que compõem a República Federativa do Brasil tivessem autonomia financeira, política e administrativa.
Assim, a Constituição Federal de 1988 promoveu uma repartição de encargos e de rendas (tributária) entre os entes federativos e, nesse cenário, coube aos
39 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo ambiental. Curitiba: Juruá, 2006. p. 37.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 51
municípios (Art. 156), em especial, e ao Distrito Federal (Art. 147), instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e as taxas (Art. 145, II).
No que tange às taxas, esta espécie tributária é de competência comum dos entes federados, os quais, em outros termos, possuem competência para instituí-las e cobrá-las em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
Em relação ao IPTU, necessário dizer que este imposto é utilizado pelas municipalidades precipuamente com a função fiscal, ou seja, almejando captar recursos capazes de garantir a execução das despesas públicas em geral. Em outros termos, a receita do IPTU não está vinculada a qualquer fim específico, pois pode ser utilizada no custeio de qualquer despesa municipal. Todavia, ressaltamos que apesar de o IPTU ser um tributo tipicamente fiscal, pode (no sentido de dever-ser) ser utilizado, também, com finalidade extrafiscal, objetivando regular setores econômicos e estimular ou inibir certas condutas em sociedade.
Ilustramos o nosso entendimento com a lição de José Marcos Domingues, como segue:
A imposição tradicional (tributação fiscal) visa exclusivamente à arrecadação de recursos financeiros (fiscais) para prover o custeio dos serviços públicos.
Já a denominada tributação extrafiscal é aquela dirigida a fins outros que não a captação de dinheiro para o Erário, tais como a redistribuição da renda e da terra, a defesa da indústria nacional, a orientação dos investimentos para setores produtivos ou mais adequados ao interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial etc. Como instrumento indeclinável de atuação estatal, o direito tributário pode e deve, através da extrafiscalidade, influir no comportamento dos entes econômicos, de sorte a incentivar iniciativas positivas e desestimular as nocivas ao Bem Comum.40 (grifos do autor)
40 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 47.

52 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
De acordo com o acima colacionado, relevante frisar que todos os tributos podem ser utilizados com fins fiscais e extrafiscais e em algumas situações poderá haver a conjunção de finalidades, ou seja, na “construção de cada tributo não mais será ignorado o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambos coexistirão agora de um modo consciente e desejado; apenas haverá maior ou menor prevalência deste ou daquele finalismo.”41
Nosso entendimento alinha-se ao exposto até o momento, pois compreen-demos que há um poder-dever das municipalidades que as obrigam a utilizarem os tributos visando à efetivação dos valores e direitos consagrados no texto constitucional. Destarte, se a Constituição Federal, em seu Art. 225, dispõe que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é um dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, concluímos que o Estado (na sua ampla acepção), mas, em especial os municípios, devem exercer o papel de atores de vanguarda que tem o poder-dever de atuar, por intermédio de todos os instrumentos possíveis, na tutela do meio ambiente em todas as suas nuances.
Está no passado, portanto, a concepção do meio ambiente como matéria adstrita exclusivamente aos temas relativos à fauna e à flora. Por isso, relevante evidenciar que consideramos o meio ambiente a partir de três aspectos, conforme o magistério de José Afonso da Silva, in verbis:
I – meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto);II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do Homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou;III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora; enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio [ . . . ]”42 (grifos do autor)
41 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013. p. 629-30.
42 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 21.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 53
Destarte, quando abordamos a proteção dos imóveis situados no centro histórico da cidade de Belém e em seu entorno (protegidos pela legislação urbanística municipal) estamos direcionando nossa análise à questão do meio ambiente urbano, ou seja, nos termos acima transcritos, estamos apreciando a temática do meio ambiente artificial urbano.
Sendo assim, consideramos que a matéria relativa ao meio ambiente e as questões próprias ao urbanismo estão umbilicalmente ligadas, são termos de uma mesma equação, isto porque não se admite pensar o urbanismo sem considerar o meio ambiente sustentável nas cidades.
O texto constitucional reservou especial atenção à política urbana, conforme podemos observar no disposto nos Arts. 182 e 183 da Carta Magna. Na se-quência, veio o legislador infraconstitucional e, para dar maior concretude a tais dispositivos, instituiu o denominado Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), cuja ementa evidencia que tal diploma legal tem por fim regulamentar os citados artigos, bem como, estabelecer diretrizes gerais da política urbana.
Desse modo, da fusão do urbanismo e do meio ambiente revela-se com maior nitidez a dimensão ambiental do direito urbano urbanístico que paulatinamente ganha vitalidade através das normas constitucionais mencionadas em conjunção com as demais normas infraconstitucionais urbanísticas e ambientais, no-tadamente, o Estatuto da Cidade que estabelece diretrizes gerais ou “princípios” na ótica de Paulo de Bessa Antunes43, cujo principal escopo é dar efetividade ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, tais como:
a) a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
b) a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso exces-sivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, a instalação
43 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 671.

54 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente, a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutiliza-ção ou não utilização, a deterioração das áreas urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental;
c) a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e fi-nanceira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urba-no, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; e
d) a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e cons-truído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arque-ológico;
Sendo assim, a teoria da sanção de Norberto Bobbio, através das técnicas de encorajamento e suas operações (facilitação e sanção positiva) é útil como fundamento científico que justifica a aplicação do instrumento jurídico-tributário (tributação ambiental extrafiscal), previsto nas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade (Art. 2º, X), com a finalidade de proteger os imóveis situados em Belém (no centro histórico e seu entorno) e, em última análise, proteger o meio ambiente artificial naquela cidade da Amazônia.
No que tange à gestão dos tributos ambientais extrafiscais, entendemos que a mesma deve ser simples, visando facilitar a aceitação por parte dos contribuintes e reforçar a eficácia da política extrafiscal com um menor custo à administração pública. Para tanto, defendemos que, na impossibilidade da instituição de um tributo com fim exclusivamente ambiental, utilize-se a estrutura dos tributos já existentes, como ensina a doutrina, in verbis:
En este sentido, para la gestión de los tributos ambientales pueden aprovecharse las estructuras existentes de otras figuras tributarias, como ha sugerido la doctrina para el caso de la entrada en vigor del Impuesto europeo sobre CO² y la energía, el cual se podría liquidar y recaudar a través de las estructuras de gestión de los impuestos especiales.44
44 JIMÉNEZ HERNANDEZ, Jorge. El tributo como instrumento de protección ambiental. Granada: Editorial Comares, 1998. p. 201-2.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 55
4.1. função promocional do direito e a tutela do meio ambiente urbano em belém (pará)
Uma das características do Estado Federal é a repartição de competências e tal lógica justifica-se devido à descentralização de tarefas estatais típica desse modelo de Estado.
Assim sendo, torna-se mais razoável a sua compreensão, a partir do momento que entendemos que alguns encargos serão melhores suportados por determinado ente federado. Um exemplo categórico é o serviço de coleta de lixo, onde resta patente que são as municipalidades que possuem melhores condições técnicas para executar o citado serviço público com mais eficiência.
Na questão urbanística, a problemática da repartição de competências entre os entes federados não é tão simples, conforme acima exemplificamos, pois existem situações em que existe uma dupla, senão tripla ação por parte dos órgãos ambientais, ou seja, ocorrem situações de sobreamento no exercício da referida competência.
Sobre a dimensão ambiental da proteção urbanística dos imóveis que detém relevante valor histórico, arquitetônico, cultural e ambiental, pensamos que a tutela dos mesmos será realizada com maior eficiência pelos municípios, afinal, é fácil perceber que são esses entes que acompanham com maior proximidade o cotidiano das cidades (Princípio da Subsidiariedade).
Evitando adentrar nessa polêmica questão, pelo fato de estarmos direcionando nossa análise à legislação urbanística e tributária do município de Belém, entendemos relevante trazer à colação o trecho seguinte:
Partindo do pressuposto que os municípios são qualificados e excepcionais protagonistas da defesa do meio ambiente, em decorrência de todas as agressões ambientais surgirem nos ter-ritórios dos mesmos e, ainda, que a maior parte delas são oriundas das zonas urbanas dos municípios, fica evidenciada a importância das administrações municipais na primeira linha de reação contra a poluição.45
45 VIEIRA, Bruno Soeiro. Impostos municipais e a proteção do meio ambiente. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2011. p. 179-80.

56 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Dirigindo a atenção à tutela dos imóveis situados no espaço urbano que o Plano Diretor de Belém denomina de Centro Histórico de Belém e seu entorno, bem como, dos imóveis tombados que estão fora dos limites daquela área, evidencia-se que o legislador municipal desejou proteger este rico acervo arquitetônico e cultural existente naquela cidade.
Com efeito, dentre os instrumentos que a municipalidade tem para buscar alcançar tão relevante objetivo e, assim, respeitar todo o arcabouço constitucional e legal que obriga o poder público a preservar o meio ambiente em todos os seus matizes, estão os instrumentos tributários, através da denominada tributação extrafiscal ambiental.
No caso de Belém, compulsando a legislação tributária vigente, encontra- mos as duas operações relativas à técnica de encorajamento contidas nos ensi-namentos de Bobbio.
A primeira operação (expressa no Art. 36 da Lei nº 7.709/94), nomeada pelo justifilósofo italiano de facilitação ou incentivo, promove a renúncia fiscal (isenção) da taxa de licenciamento de obras dos imóveis classificados como de preservação arquitetônica integral, preservação arquitetônica parcial, imóveis de reconstituição arquitetônica e os de acompanhamento - classificação presente no mesmo diploma legal, mas que, em suma, faz referência aos imóveis que merecem proteção urbanística por parte da municipalidade.
Assim sendo, tal operação consubstancia-se em um verdadeiro incentivo (uma facilitação) aos proprietários dos imóveis que necessitam de proteção por parte do município, buscando estimulá-los a realizarem as obras de reforma necessárias à conservação dos mesmos.
Por outro lado, a referida lei, em seu Art. 37, materializa a outra operação que visa o “encorajamento” dos proprietários dos imóveis em comento. Trata-se da mesma espécie de renúncia extrafiscal (isenção), mas que é operacionalizada de maneira distinta, pois nesta o imóvel estará isento do pagamento, total ou parcial, do IPTU se estiver sendo mantido, por seu proprietário, em bom estado de conservação.
Assim, na esteira do magistério de Bobbio, esta operação de encorajamento dá-se de maneira ulterior à ação do proprietário do imóvel, qual seja, a conservação do mesmo em bom estado.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 57
Portanto, estando o imóvel bem conservado, a Fundação Cultural do Mu-nicípio de Belém (FUMBEL), órgão que atua na gestão da política cultural do município, após ter sido provocada pelo proprietário ou representante legal do imóvel, emitirá laudo técnico atestando o índice de conservação do mesmo. Posteriormente, de posse do laudo o interessado, a fim de obter a mencionada isenção, procura a Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), que, neste caso, funcionará como uma espécie de prêmio (nas palavras de Bobbio, constituir-se-á em uma sanção positiva).
Em síntese, as duas operações são isenções tributárias que são concedidas de modo distinto, pois a primeira é outorgada previamente à obra de conservação do imóvel protegido, constituindo-se, portanto, em uma operação que visa facilitar a realização da mesma. Por sua vez, a segunda isenção é concedida em forma de prêmio (sanção positiva) em decorrência da boa conservação do imóvel.
Relevante informar que os dois benefícios extrafiscais em comento podem ser gozados em momentos diferentes pelo proprietário de um determinado imóvel protegido, desde que o mesmo execute obras de conservação e que, posteriormente, mantenha o imóvel tutelado em bom estado de conservação.
Ressaltamos, ainda, que a segunda isenção de acordo com os incisos do Art. 37 da Lei nº 7.709/84 será concedida proporcionalmente ao grau de conservação do imóvel protegido, como segue:
Art. 37. Os imóveis classificados no inciso I, II, III e IV do artigo 34 desta Lei, bem como os imóveis tombados pelo Município situados fora dos limites do Centro Histórico de Belém e de suas áreas de entorno, terão isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que mantidos em bom estado de conservação, obedecendo os índices abaixo discriminados:
- 100% para os bens tombados e íntegros Arquitetonicamente (bens imóveis classificados na categoria de preservação Arquitetônica integral);
- 75% para bens imóveis parcialmente modificados (bens imóveis classificados na categoria de preservação Arquitetônica parcial e os de Reconstituição Arquitetônica);
- 10% para os classificados como de acompanhamento.

58 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Após termos demonstrado que a legislação tributária do município de Belém estabelece instrumentos típicos de uma política extrafiscal ambiental, buscamos atrelar o disposto no ordenamento jurídico às ações e resultados práticos. Para tanto, na tentativa de aferir empiricamente se a política extrafiscal de proteção urbanística está alcançando os seus fins, entrevistamos três servidores municipais que atuam em áreas diretamente relacionadas ao problema de pesquisa.
O primeiro entrevistado foi o Diretor de Departamento de Patrimô- nio Histórico da FUMBEL, servidor que trabalha no controle dos processos de isenção do IPTU decorrentes da boa conservação dos imóveis protegidos pela municipalidade e, na ocasião, elaboramos as seguintes perguntas:
a) quantos imóveis localizados no centro histórico e seu entorno são alvo de proteção urbanística por parte do município de Belém?
b) quantos imóveis obtiveram o benefício extrafiscal da isenção decorrente do bom estado de conservação?
c) quais motivos justificam o número de imóveis beneficiados pela isenção (premial) decorrente da boa conservação dos mesmos?
É oportuno registrar que o entrevistado afirmou que os dados dos quais dispõe não estão atualizados e que dizem respeito ao ano de 2011.
Destarte, a partir das respostas do entrevistado, constatamos:
a) que o centro histórico e seu entorno possuem, aproximadamente, 3.000 imóveis que são alvo de proteção por parte da municipalidade;
b) que apenas 15% dos imóveis foram beneficiados pela política extrafiscal de proteção do patrimônio urbanística; e
c) que a pequena concessão de prêmios (isenções) deve-se à um ineficiente projeto de educação patrimonial a ser executado pelo poder público municipal, bem como, pelo receio equivocado dos proprietários em requerer a isenção pela crença de que não poderão mais alienar seus os imóveis no futuro.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 59
Realizamos uma segunda entrevista, desta feita, com uma técnica da SEFIN almejando confrontar a informação relativa ao número de imóveis beneficiados com a isenção premial.
A técnica entrevistada informou-nos que em 2013, apenas 410 imóveis haviam sido beneficiados com a isenção em comento. Destarte, concluímos que naquele ano, em torno de 13% dos imóveis gozaram do benefício extrafiscal (sanção premial).
Por fim, o terceiro entrevistado foi o Chefe da Divisão de Arrecadação da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), servidor que detém informação sobre as isenções da taxa de licenciamento de obras dos imóveis classificados como de preservação Arquitetônica integral, preservação Arquitetônica parcial, imóveis de Reconstituição Arquitetônica e os de acompanhamento.
Fomos informados pelo referido entrevistado que, em 2012 e em 2013, obtiveram o benefício extrafiscal, respectivamente, 255 e 269 proprietários de imóveis que foram alvos de obras de conservação.
Logo, constatamos que do universo de 3.000 imóveis protegidos pelo mu-nicípio, apenas 8,5% e aproximadamente 9%, respectivamente, gozaram do referido benefício extrafiscal, naqueles dois anos.
5. conclusões
Esta pesquisa almejou estabelecer uma conexão entre os estudos de teoria geral do direito relativos à função promocional do direito e a proteção do meio ambiente urbano.
Evidenciamos que Norberto Bobbio partiu de um estudo voltado precipuamente ao estruturalismo kelseniano e chegou a uma concepção mais funcional do direito, implicando afirmar que em relação à função promocional do direito, há fundamentos científicos que justificam a adoção das técnicas de encorajamento consignadas por aquele pensador de modo que o Estado possa atuar no sentido de facilitar e premiar atitudes desejáveis a toda sociedade.
Demonstramos que o ordenamento jurídico brasileiro comporta norma jurídicas que comprovam o poder-dever do Estado em buscar a efetivação de

60 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
valores e direitos consagrados no texto constitucional, entre eles a proteção do meio ambiente. Para tanto é imperioso que o poder público implemente uma po-lítica extrafiscal urbanística que estimule a proteção do meio ambiente artificial.
Com efeito, fizemos um recorte metodológico que nos levou a analisar a legislação urbanística e tributária do município de Belém, onde constatamos o seguinte:
a) a renúncia extrafiscal do IPTU e da taxa de licenciamento de obras caracterizam-se como operações de encorajamento em favor da tutela urbanística, demonstrando nitidamente que se prioriza utilizar o direi-to como instrumento de controle social ao procurar estimular atitudes consideradas necessárias à sociedade;
b) as sanções negativas (multa, interdição, embargo e demolição) previstas na legislação urbanística podem ser utilizadas em conjunção com as técnicas de encorajamento previstas na legislação urbanística e tributá-ria municipal;
c) a política extrafiscal urbanística está sendo implementada sem a com-preensão, por parte dos atores envolvidos, do seu significado e dos be-nefícios que a mesma pode trazer;
d) inexiste um programa consistente de divulgação dos objetivos e dos benefícios extrafiscais previsto na legislação urbanístico-tributária;
e) aproximadamente 8,5% dos proprietários de imóveis protegidos pelo município de Belém gozam do benefício extrafiscal da isenção da taxa de licenciamento de obras dos imóveis protegidos pela municipalidade, sendo, o referido percentual, irrisório diante do universo e da impor-tância do acervo histórico e arquitetônico existente em Belém; e
f ) o gozo do benefício extrafiscal da isenção do IPTU decorrente da boa conservação dos imóveis protegidos pela município de Belém gira em torno de 13% a 15%, demonstrando que o insignificante percentual é reflexo de uma política extrafiscal ineficiente, a qual consegue estimular apenas uma diminuta parcela dos proprietários daqueles imóveis que o poder público municipal almeja tutelar.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 61
Em síntese conclusiva, com esta pesquisa conseguimos comprovar que, no âmbito do município de Belém, as operações de encorajamento aplicadas na tributação extrafiscal urbanística (em sua dimensão ambiental), por intermédio de isenções (incentivo e prêmio) não conseguem promover eficientemente a proteção do meio ambiente artificial urbano, pois o número de imóveis que obtêm o benefício extrafiscal capaz de estimular seus respectivos proprietários a protegê-los é ínfimo diante do universo dos imóveis que a municipalidade pretende proteger.
6. referências
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
ATALIBA, Geraldo. Espontaneidade no procedimento tributário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: RT, v. 13, n. 13, p. 31-39, 1974.
BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: con-tribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucio-nal no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013.
BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do di-reito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007.
______. Teoria da norma jurídica. Tradução: Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Bauru, SP: EDIPRO: 4 ed. Revista, 2008.
______. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Ari Marcelo Solon. São Paulo: EDIPRO, 2011.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=150140> Acesso em: 10 jun. 2014.
CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o cons-tructivismo lógico-semântico. 3 ed. São Paulo: Noeses, 2013.

62 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos
da incidência. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Apresentação à Edição brasileira. In: Teoria do
ordenamento jurídico. Tradução: Ari Marcelo Solon. São Paulo: EDIPRO, 2011.
JIMÉNEZ HERNANDEZ, Jorge. El tributo como instrumento de protec-
ción ambiental. Granada: Editorial Comares, 1998.
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução: José Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 1986.
______. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
______. Teoria geral do direito e do estado. Tradução: Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
LIMA, José Júlio; TEIXEIRA, Luciana G. Janelas para o rio: projetos de inter-venção na orla urbana de Beelém do Pará. In: VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard (Org.). Intervenções em centro urbanos:
objetivos, estratégias e resultados. 2. ed. rev. atual. Barueri, SP: Manole, 2009. p. 199-232.
LOSANO, Mario. Prefácio à Edição brasileira. In: Da estrutura à função:
novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007.
LYRA FILHO, Roberto. O que é direito? São Paulo: Brasiliense, 1982.
MIRANDA, Cybelle Salvador. Cidade Velha e Feliz Lusitânia: cenários do
patrimônio cultural de Belém. Tese de Doutorado. UFPA. Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais. Belém: 2006.
OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
RABELO NETO, Luiz Octavio. Benefícios fiscais como instrumento das
medidas de ação afirmativa. São Paulo: Letras Jurídicas, 2013.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 63
SALGADO, Gisele Mascarelli. Sanção na teoria do direito de Norberto Bobbio. Curitiba: Juruá, 2010.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo ambiental. Curitiba: Juruá, 2006.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. atual. São Paulo: Malheiro, 2007.
SOUSA JUNIOR, José Geraldo. Direito como liberdade: o direito achado na rua. Porto Alegre: SAFE, 2011.
TRINDADE JR., Saint-Clair Cordeiro da. Produção do espaço e do solo urbano de Belém. Belém: UFPA/NAEA/PLADES, 1997.
VIEIRA, Bruno Soeiro. Impostos municipais e a proteção do meio ambiente. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2011.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 65
a incorporação da sustentabilidade no setor energético como desafio
democrático das instituições para o desenvolvimento típico do século xxi
José Osório do Nascimento Neto1
Emerson Gabardo2
Resumo
Neste início do século XXI o planejamento da atividade econômica de energia tem promovido, internacionalmente, estudos no sentido de fomentar políticas públicas capazes de envolver setores governamentais e não governamentais, públicos e privados, na incorporação da sustentabilidade, visando que toda utilização de componentes da referida atividade de energia não considere apenas seu valor econômico, mas também valores socioambientais. Diante deste
1 Advogado. Professor de Teoria da Constituição e Direito Administrativo do Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil. Professor convidado dos Cursos de Especialização em Economia e Meio Ambiente e Direito Ambiental do Programa de Educação Continuada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná (Educação a Distancia). Professor convidado da Escola da Magistratura Federal do Paraná para orientar monografias no Curso de Especialização em Direito Público. Professor convidado da Pós-graduação em Direito Administrativo da Universidade Tuiuti do Paraná e da Universidade do Contestado de Santa Catarina. Professor convidado da Academia de Direito do Centro Europeu para o preparatório de Exame de Ordem. Doutorando e Mestre em Direito Econômico e Socioambiental, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, com estágio de doutoramento (período sanduíche) na Universidad Carlos III de Madrid - UC3M. Bolsista CAPES. Especialista em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público, pela Universidade Candido Mendes do Rio de Janeiro. Graduado em Direito pela PUCPR. Contato: [email protected]
2 Professor Titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor Adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pós-doutor em Direito Público Comparado pela Fordham University School of Law - N.Y. Doutor em Direito do Estado pela UFPR, com estágio de doutoramento na Universidade Clássica de Lisboa. Mestre em Direito do Estado também pela UFPR. Diretor Executivo do NINC - Núcleo de Investigações Constitucionais em Teorias da Justiça, Democracia e Intervenção da Universidade Federal do Paraná. Membro do Conselho Editorial da Editora Fórum e da Editora Íthala. Autor das obras Interesse Público e Subsidiariedade: o Estado e a Sociedade Civil para além do bem e do mal, Fórum (2009), Eficiência e Legitimidade do Estado, Manole (2003), e Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa, Dialética (2002), entre outras. Conselheiro Estadual da OAB/PR.

66 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
contexto e a partir de uma metodologia descritivo-interpretativa, a presente pesquisa tem por objetivos específicos estudar a participação de instituições do Estado democrático como sendo uma exigência socioambiental, manifestada pela atuação do Estado na atividade econômica de energia. Convergente a este cená-rio, emerge novamente a sustentabilidade, devendo esta ser estudada não apenas sob a ótica do triple bottom line (econômico, social e ambiental), mas também como uma estratégia de alinhamento dos objetivos democráticos das instituições, compreendendo vários aspectos como articulação, integração e gestão pública de qualidade. Então, sob a ótica do Direito administrativo ambiental, acredita-se que a incorporação da sustentabilidade, se bem trabalhada como um desafio na conexão da teoria com a prática do setor energético, seja capaz de fomentar tanto a criação de novos mecanismos e instrumentos para o seu planejamento, quanto o fortalecimento de centros democráticos, especializados na temática da energia e de ímpar importância para o desenvolvimento.
Palavras-chave
Desenvolvimento; Políticas públicas; Energia; Democracia; Sustentabilidade.
Resumen
A principio del siglo XXI, la planificación de la energía de la actividad econó- mica ha impulsado a nivel internacional, los estudios para promover políticas públicas capaces de involucrar a organizaciones gubernamentales y no guberna-mentales, públicos y privados, en la incorporación de la sostenibilidad, con el objetivo de que todo uso de componentes de esa energía la actividad no sólo tienen en cuenta su valor económico, sino también los valores sociales y ambientales. Teniendo en cuenta este contexto y desde una metodología descriptivo-inter-pretativa, esta investigación ha, para fines específicos, para estudiar el papel de las instituciones de los requisitos ambientales estatales democráticas expresadas por las acciones del Estado en la actividad económica de la energía. La convergencia de este escenario, surge la sostenibilidad de nuevo, y que debe ser estudiado no sólo desde la perspectiva de la triple cuenta de resultados (económica, social y ambiental), sino también como una estrategia para alinear los objetivos de las Instituciones Democráticas, que comprende varios aspectos como articulación, integración y calidad de la gestión pública. Así, desde la perspectiva del Derecho

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 67
Administrativo Ambiental, se cree que la incorporación de la sostenibilidad, se hace a mano como un desafío en la conexión de la teoría con la práctica en el sector de la energía, es capaz de promover tanto la creación de nuevos mecanismos e instru- mentos para planificación, como en el fortalecimiento de los centros democráticos, especializados en el tema de la energía y la importancia única para el desarrollo.
Palabras clave
Desarrollo; Políticas públicas; Energía; Sostenibilidad; Democracia.
1. introdução
Alinhado à percepção do Direito Administrativo Ambiental como um importante instrumento de regulação socioambiental voltado à ordenação da convivência sustentável (dos humanos entre si e com o meio em que vivem) espera-se, por meio deste artigo, contribuir academicamente com o I Encontro de Internacionalização do CONPEDI, realizado em Barcelona – Espanha, promovido pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito e pela Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona, com apoio da CAPES e do CNPq, sobre o tema “Atores do desenvolvimento econômico, político e social diante do Direito do século XXI”.
Assim como o Encontro, que revela a dimensão do desafio que as diferentes linhas de investigação nos Programas de Pós-Graduação em Direito no Brasil têm buscado enfrentar ao acolherem abordagens que possibilitem analisar de forma consistente a crescente complexidade do processo de globalização, este estudo se propõe a debater a necessidade de resgatar a relação de integração, outrora existente, entre Estado, sociedade e meio Ambiente natural. Para tanto, enfrenta, a partir dos atores do desenvolvimento econômico, político e social, os principais desafios interpostos à integração global entre as sociedades e natureza, em especial, no que diz respeito à incorporação da sustentabilidade, diante do Direito do século XXI, no campo do setor energético.
Assim, pergunta-se: qual possível ponto de conexão entre Direito, Economia e Meio Ambiente, na busca pelo desenvolvimento, a partir do setor energético deste início do século XXI? Como se encontra desenhada a estrutura do setor energético brasileiro? Este modelo serve como referência na busca pelo desenvolvimento?

68 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Qual possível desafio para estes atores do desenvolvimento diante do Direito do século XXI?
É com base neste contexto, sob a ótica do Direito Administrativo Ambiental, que se acredita na incorporação da sustentabilidade. Se trabalhada como um desafio, a conexão da teoria com a prática do setor energético é capaz de fomentar tanto a criação de novos mecanismos e instrumentos para o seu planejamento; quanto o fortalecimento de outros centros democráticos, também especializados na temática da energia e de ímpar importância para o desenvolvimento, resgatando, efetivamente, a referida relação de integração, outrora existente, entre sociedades, meio ambiente e as respectivas políticas estatais de intervenção.
2. justificativa metodológica para a conexão entre direito, economia e meio ambiente
O estudo do Direito como mecanismo de regulação da atividade econômica para o desenvolvimento não só pode como deve se voltar à apreensão do referencial econômico. Todavia, devem ser agregadas dimensões que considerem, fortemente, a questão socioambiental. Acredita-se, a partir da conexão entre Direito, Economia e Meio Ambiente, ser de ímpar importância o debate científico e acadêmico sobre questões que se encontram diretamente vinculadas ao embate entre o Estado e as sociedades, principalmente, quando se fala em “regulação” e em “processos de governança” (como exigências socioambientais, manifestadas pela atuação do Estado na ordem econômica, pelas empresas e pela sociedade civil), bem como em “sustentabilidade” (estudada não apenas sob a ótica do triple bottom line – econômico, social e ambiental, mas também como uma estratégia articulação, integração e gestão pública de qualidade). Como aduz Luiz Alberto Blanchet, o desenvolvimento e a sustentabilidade precisam ser entendidos como fatores delimitadores da discricionariedade das ações estatais que repercutam sobre a atividade econômica em geral.3
Para que esta abordagem seja possível, uma premissa se faz necessária: a de que é preciso, sim, resgatar, a partir do Direito Administrativo Ambiental, a relação
3 BLANCHET, Luiz Alberto. Desenvolvimento e sustentabilidade como fatores delimitadores da discricionariedade do Estado nos atos administrativos que repercutem sobre a atividade econômica. Âmbito Jurídico. v. 77, 2011, p. 7581.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 69
de integração outrora existente entre Estado, sociedades, meio ambiente natural, enfrentando academicamente os principais desafios interpostos à integração global de instituições democráticas.
Essa leitura também se torna possível, a partir do planejamento da atividade econômica de energia, que tem promovido, internacionalmente, estudos no sentido de fomentar mecanismos e instrumentos, capazes de envolver setores governamentais e não governamentais, públicos e privados, na incorporação da sustentabilidade, visando que toda utilização de componentes da referida atividade de energia não considere apenas seu valor econômico, mas também valores socioambientais.
Assim, a partir de uma metodologia descritivo-interpretativa, a presente pesquisa tem por objetivos específicos estudar a participação de instituições do Estado democrático de Direito como exigência socioambiental,4 manifestada pela atuação do Estado na atividade econômica de energia. Convergente a este cenário, emerge, novamente, a sustentabilidade, como uma estratégia de ali-nhamento dos objetivos das instituições democráticas, compreendendo vários aspectos como articulação, integração e gestão pública de qualidade. Então, sob a ótica do Direito Administrativo Ambiental, acredita-se que a incorporação da sustentabilidade, se bem trabalhada como um desafio na conexão da teoria com a prática do setor energético, seja capaz de fomentar tanto a criação de novos mecanismos e instrumentos para o seu planejamento, quanto no fortalecimento de centros democráticos, especializados na temática da energia e de ímpar importância para o desenvolvimento.
3. breves apontamentos da atividade econômica de energia como ambiente de estudo
A energia, nas suas mais diversas formas, é indispensável à sobrevivência das grandes sociedades do século XXI. E mais do que sobreviver, o homem tem procurado descobrir fontes e maneiras alternativas de adaptação ao ambiente
4 Para compreensão do conceito de participação no Estado Democrático de Direito, ver: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. La participación en el Estado social y democrático de Derecho. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 12, nº 48, p. 13-40, abr./jun. 2012.

70 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
em que vive e de atendimento às suas necessidades. Dessa forma, a exaustão, a escassez ou a inconveniência de um dado recurso tendem a ser compensadas pelo surgimento de outros. Em termos de suprimento energético, a eletricidade se tornou uma das formas mais versáteis e convenientes de energia, passando a ser recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico de muitos países e regiões.
O desenvolvimento da tecnologia aplicada à energia evolui paralela e proporcionalmente ao incremento da capacidade humana de aproveitamento e utilização das fontes primárias. A energia primária representa a fonte em estado natural; já a secundária é aquela transformada tecnologicamente para utilização. As formas de energia, considerando-se a sua fonte, seriam a energia hidráulica, a solar, a eólica, a das marés e a térmica, que pode ser resultante de minerais fósseis (carvão, petróleo e gás natural), físseis (como o urânio), bem como bicom- bustíveis,5 decorrendo a sua repercussão social como interesse do Direito Econômico.
Pela forma como a energia se apresenta na natureza, a tecnologia a transforma de modo a lhe comunicar um resultado econômico, que se desenvolve pela mais extrema e variada utilização no meio social. Por esta razão, essa energia envolvida de tecnologia e de economicidade necessita de formas jurídicas para sua adequada circulação. Com efeito, a energia primária, sem a tecnologia, não teria efeito econômico, e este não existiria sem utilização, a qual é uma consequência da sua aplicação ao meio social. Mas é só pelos canais típicos do ambiente jurídico que acaba encontrando adequado fluxo, dinamização, sequencia.6
A partir de todas estas fontes de energia, destaca-se largamente a elétrica como fator de desenvolvimento. Nas palavras de Maria João C. Pereira Rolim, “se a energia aparece como o ‘sangue da sociedade, então, a eletricidade, como uma de suas mais importantes formas de manifestação, assume uma importância crucial no desenvolvimento de qualquer sociedade”.7 Assim, o Direito deve ser chamado a mitigar a dureza da regra da natureza e, assim, humanizando o contexto, permite
5 ROLIM, Maria João C. Pereira. Direito Econômico da energia elétrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 98.
6 ÁLVARES, Walter Tolentino. Curso de Direito da energia. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 14.
7 ROLIM, Maria João C. Pereira. Direito Econômico da energia elétrica. Op. cit., p. 99.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 71
que das fontes primárias de energia se faça uso adequado ao tipo de civilização que se atravessa, embasado na energia.8 Isso significa dizer, também, que energia e eletricidade não são conceitos equivalentes, pois, enquanto a primeira se carac-teriza pela forma originária, a segunda passa a ser consequência da conversão da energia em corrente elétrica, com repercussão econômica.9
A energia é costumeiramente entendida como a capacidade de realizar tra-balho. Ademais, é capaz de ser armazenada, “como é o caso da energia química, da energia hidráulica e da energia contida nos combustíveis fósseis (como o carvão) e combustíveis físseis (como o urânio)”.10 Já a eletricidade, é apenas uma forma de energia, que se notabiliza pelo fato de não ser, em regra, utilizada neste estado, mas pela facilidade de ser transmitida e convertida em outras formas. Assim, no conceito jurídico da eletricidade, conjugando o elemento físico com sua utilização e repercussão econômica, a distinção fica clara. E assim, é possível se vislumbrado um específico regime jurídico, decorrente da materialidade da energia como objeto de regulamentação do Direito (seja tendo-se como foco a atividade econômica em sentido estrito, sejam os serviços públicos propriamente ditos, seja estabelecendo-se determinada política pública diretamente interventiva ou regulatória).11
4. a sustentabilidade e o setor energético do século xxi: um ponto de conexão necessário para o desen-volvimento
O termo “sustentável” agasalha possibilidades de sustento e mantença, con- tinuidade, permanência, dentre outras conotações ligadas a provimento ou disponibilidade de recursos e condições para que um ser possa se manter realizando atividades que garantam a sua sobrevivência.12
8 ÁLVARES, Walter Tolentino. Curso de Direito da energia. Op. cit., p. 16.9 RUIZ, Jorge Fernández. La reforma energética. In: ________. (Org.). Derecho Ad-
ministrativo: memória del Congresso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 87.
10 CALDAS, Geraldo Pereira. Concessões de serviços públicos de energia elétrica: em face da Constituição Federal de 1988 e o interesse público. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 26.
11 ROLIM, Maria João C. Pereira. Direito Econômico da energia elétrica. Op. cit., p. 100.12 NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto. (Org.). Sustentabilidade
e temas fundamentais de Direito Ambiental. Campinas: Millennium, 2009, p. 145.

72 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A análise teórica da sustentabilidade implica buscar a compreensão de uma contradição intrínseca ao seu conceito. O desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que busca manter as bases do capitalismo, busca a preservação ambiental. Alia-se ao crescimento econômico o uso equilibrado dos recursos naturais, desde que se atente à qualidade ambiental. A sustentabilidade é um princípio-instrumento da ordem econômica, que busca alternativas e meios à guisa da redução da degradação ambiental. A imposição legal impõe a busca de soluções alternativas aos empreendedores que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente.13 Em outros termos, a sustentabilidade é um princípio válido para todos os recursos renováveis, não se aplicando a recursos não renováveis ou a atividades capazes de produzir danos irreversíveis.14
O debate sobre o tema do desenvolvimento econômico aponta para um consenso no sentido da necessidade de políticas econômicas especialmente dirigidas à consecução dessa finalidade, impossível de ser atingida pelo livre mercado. O objetivo do desenvolvimento sustentável não é diferente. Pelo contrário, a sua consecução exige: (I) a superação das condições específicas do subdesenvolvimento; e, (II) que essa superação dê-se em bases sustentáveis, isto é, a partir de processos produtivos que preservem os recursos naturais. Assim, é evidente a necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico para o desenvolvimento sustentável.15
Nesse sentido, torna-se necessária uma política deliberada de desenvolvi-mento, em que se garanta tanto o desenvolvimento econômico como o social que. O desenvolvimento só pode ocorrer com a transformação das estruturas sociais, o que faz com que o Estado desenvolvimentista deva ser um Estado mais capacitado e estruturado do que o Estado Social tradicional.16 Isso significa
13 KÄSSMAYER, Karin. Cidades, riscos e conflitos socioambientais urbanos: desafios à regulamentação jurídica na perspectiva da justiça socioambiental. Curitiba, 2009, p. 115-116. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento). Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/19995/1/karin.pdf>. Acesso: 10 jun. 2014.
14 RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 297.
15 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Desenvolvimento sustentável do Brasil e o protocolo de Quioto. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 37, nº 37, p. 147-148, 2005.
16 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.67

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 73
dizer que, política ambiental vinculada a uma política econômica, assentada nos pressupostos do desenvolvimento sustentável, é essencialmente uma estratégia de risco destinada a minimizar a tensão potencial entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica.17
A transição para a sustentabilidade na sua vertente ambiental, por sua vez, conduz a um aparente paradoxo, baseado no pressuposto de que qualquer movimento rumo à sustentabilidade transformará em “perdedores” aqueles que de alguma forma se beneficiavam da vertente econômica em sua forma isolada. A ideia de modernização reflexiva do sociólogo alemão Ulrich Beck assenta em boa parte na proposição de que a transição para a sustentabilidade tem capacidade própria para causar uma maior democratização das decisões políticas, dada a ênfase colocada na inclusividade e na transparência.18
Sob outra ótima, o aparecimento do binômio “desenvolvimento sustentável” como valor fundamental para o século XXI deve ser entendido como síntese da dialética socioambiental, no que diz respeito à relação da humanidade com a natureza que se aprofundou com a revolução industrial.19 Os empregos do termo socioambiental apontam para a inevitável necessidade de procurar compatibilizar as atividades humanas em geral – e o crescimento econômico em particular – com a manutenção de suas bases naturais, particularmente com a conservação ecossistêmica.20
Assim, as questões socioambientais ressoam, emergindo com o propósito de transformar o modelo de desenvolvimento adotado pela modernidade.21 Para José
17 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 140.
18 RODRIGUES, Valdemar. Desenvolvimento sustentável: uma introdução crítica. Parede: Princípia, 2009, p. 88.
19 “Para que seja compreendida a relação dialética que existe entre as temáticas do desenvolvimento e da sustentabilidade, ou do crescimento econômico e da conservação ambiental, são necessários conhecimentos sobre comportamentos humanos (Ciências sociais e humanas), sobre a evolução da natureza (Ciências biológicas, físicas e químicas) e sobre suas configurações territoriais”. Cf.: VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007, p. 129.
20 VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007, p. 91.21 FERREIRA, Heline Sivini; BONIN, Luciana Xavier. Do desenvolvimento ao desenvolvimento
sustentável: um dos desafios lançados ao Estado de Direito Ambiental na sociedade de risco. Anais do V Simpósio Dano Ambiental na Sociedade de Risco. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2010, p. 68. 1 CD Rom.

74 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Eli da Veiga, o ponto fulcral “da relação socioambiental esta na maneira de se entender as mudanças sociais, que jamais podem ser separadas das mudanças da relação humana com o resto da natureza”.22 A avaliação socioambiental torna-se cada vez mais valiosa e importante, pois fornece bases para a formulação de políticas, planos e projetos que permitem o manejo dos riscos e impactos das atividades produtivas aumentando a ecoeficiência da organização. O diagnóstico da situação socioambiental consiste em uma análise profunda de todos os impactos dos processos, serviços e produtos.23
No mesmo sentido, mas em outros termos, Ana Luiza de Brasil Camargo expõe que os principais entraves à sustentabilidade estão interligados, mas podem ser agrupados, em linhas gerais, em entraves culturais, científicos, político-econômicos, sociais, éticos e ideológicos. Vinculando-se esta breve separação ao setor energético brasileiro, pode-se destacar, entre outros problemas: (I) as diferentes maneiras de os diferentes povos se relacionarem com a natureza e seus recursos naturais, a exemplo da implantação de barragens hidrelétricas em terras indígenas; (II) falta de um maior diálogo e de uma maior interação entre a comunidade científica e a sociedade, incluindo-se o Estado e o mercado; (III) a dificuldade – e muitas vezes a minimização da importância ou a total despreocupação – em avaliar o impacto de decisões políticas e econômicas sobre o ambiente natural; (IV) a internalização dos custos ambientais nos projetos de desenvolvimento; (V) falta de visão política compartilhada em benefício de objetivos e projetos socioambientais.24
Na tentativa de propor soluções à problemática, a partir das reformulações voltadas para a sustentabilidade, devem ser considerados princípios diretivos de planejamen- to e programação. Cristiane Derani os define como princípios-essência25 e princí-
22 VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. Op. cit., p. 105.23 ALVES, Ronaldo David. Conceitos de sustentabilidade energética. Biblioteca Digital
Fórum de Direito Urbano e Ambiental (FDUA), Belo Horizonte, ano 9, nº 53, set./out. 2010. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=69641>. Acesso em: 21 nov. 2013.
24 CAMARGO. Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. 2. ed. Campinas: Papirus, 2005, p. 114-115.
25 Referem-se a um bem essencial à existência da sociedade, “elegendo um ethos do com-portamento social”. Exemplo: caput do artigo. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 75
pios-base,26 para o desenvolvimento das atividades em todos os setores produtivos, que acabaram inseridas na atual ordem constitucional brasileira, visando à conformidade com a proteção do meio ambiente.
Assim, um importante vetor de apoio ao desenvolvimento sustentável é o estabelecimento de políticas públicas indutoras de comportamentos coerentes com o imperativo da qualidade ambiental.27 Para isso, o Estado deve atuar por meio de instrumentos econômicos (sistema tributário e de crédito, condicionados a critérios ambientais) e por meio de mecanismos onde as produções de conhecimento e de tecnologias não se orientem apenas pela lógica do mer-cado, mas, também, pela pelo princípio da precaução. Nas palavras de Maria Cristina Cesar de Oliveira, o princípio da precaução é “nevrálgico” de qualquer ação ou política ambiental, pois a natureza dinâmica para as questões ambientais não permite que se aguarde a verificação do dano, para posterior providência repressiva.28
A sustentabilidade deverá emergir aliando as questões ambientais ao modo de produção e consumo da sociedade; repensando-se, inclusive, a estruturação das matrizes energéticas na busca daquelas que degradem o menos possível o meio ambiente. Para tanto, denota-se importante o auxílio das ciências, da tecnologia e de políticas públicas eficazes a fim de inserir o país na rota do desenvolvimento sustentável.29 Em linhas gerais, a sustentabilidade pressupõe o controle e gestão
digna, conforme os ditames da justiça social. Cf.: DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. Op. cit., p. 232-236.
26 “Prescrições destinadas a estruturar a organização da sociedade, ou de determinada atividade que a integra. São princípios que garantem à sociedade uma estrutura específica de atuação”. Exemplos: inciso III do artigo 170, referente à função social da propriedade; e, inciso IV do artigo 1º, referente à livre iniciativa, ambos da CF/88. Cf.: DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. Op. cit., p. 236-237.
27 BURSZTYN, Marcel. Políticas públicas para o desenvolvimento (sustentável). In: ________. A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001, p. 74.
28 OLIVEIRA, Maria Cristina Cesar de. Princípios jurídicos e jurisprudência socioambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 54.
29 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; SANTOS, Nivaldo dos; SANTOS, Marcela de Oliveira. O Brasil no âmbito das energias renováveis: biocombustíveis e suas celeumas socioambientais. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, Brasília, v. 2, nº 6, p. 306, jul./dez. 2009. Disponível em: <http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/prisma/article/view/863/845>. Acesso em: 10 jun. 2014. doi: 10.5102/prismas.v6i2.863.

76 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de riscos, bem como a incentiva e o poder para cumpri-la, traduzida pela função essencial na adoção de políticas públicas voltadas à sua efetivação.30
Assim, os programas de conservação devem levar em conta a vulnerabilidade das espécies e os requisitos para a sua proteção. As áreas destinadas à proteção da biodiversidade devem garantir a sustentabilidade das populações e manter o flu-xo gênico entre elas.31 Em síntese, a busca de uma gestão qualificada, em conjunto com a sustentabilidade em todos os processos, é uma constante não apenas porque guarda relação direta com o agravamento da crise socioambiental na modernidade, mas também porque emerge como uma manifestação socioambiental para as presentes e futuras gerações.
Sob outra ótica, a utilização do termo ‘socioambiental’, segundo Carlos Al-berto Simioni, “é uma tentativa de enfatizar uma lógica que leva em conta as in-terações e contradições entre fatores sociais, técnicos, econômicos e ambientais”,32 enquadrando-se naquilo que Leff denominou de ‘estratégia ambiental’, com a produção de conceitos que permitam a prática da interdisciplinaridade.33
Sabe-se que um maior conhecimento sobre os impactos ocasionados pelas atividades produtivas possibilita a seleção mais adequada de indicadores que podem ser utilizados para o processo de melhoria contínua do sistema de gestão ambiental (SGA).34 A dificuldade para o estabelecimento desses indicadores é um dos principias
30 FOLADORI, Gilhermo; TOMMASINO, Humberto. El concepto de desarrollo sustentable treinta años después. Desenvolvimento e meio ambiente, Curitiba, UFPR, nº 1, p. 41-56, jan./jun. 2000. p. 41.
31 Sobre a temática da biodiversidade, ver: MARES, Carlos Frederico; SILVA, Liana Amin Lima da; WANDSCHEER, Clarissa Bueno. (Orgs.). Biodiversidade, espaços protegidos e populações tradicionais. Curitiba: Letra da Lei, 2013. Disponível em: <https://dl.dropboxusercontent.com/u/520318/Livros%20Socioambiental/livro2.zip>. Acesso em: 10 jun. 2014.
32 SIMIONI, Carlos Alberto. O uso de energia renovável sustentável na matriz energética brasileira: obstáculos para o planejamento e ampliação de políticas sustentáveis. Curitiba, 2006, p. 14. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento). Universidade Federal do Estado do Paraná. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/ 1884/5080/1/Carlos%20Aberto%20Simioni.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
33 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Venezuela. São Paulo: Cortez Editora, 2001, p. 90.
34 BELLEN, Hans Michael Van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 41-62.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 77
problemas, tanto em nível nacional quanto internacional.35 Assim, Juliana Ferraz da Rocha Santilli expõe que “o socioambientalismo que permeia a Constituição brasileira privilegia e valoriza as dimensões materiais e imateriais dos bens e direitos socioambientais, a transversalidade das políticas públicas socioambientais e a consolidação de processos democráticos de participação social na gestão ambien- tal”.36 Nas palavras de José Eli da Veiga, os diferentes empregos da expressão ‘perspec-tiva socioambiental’ – assim compreendida como um dos desafios da sustentabili-dade – “apontam para o mesmíssimo fenômeno: a inevitável necessidade de procu-rar compatibilizar as atividades humanas em geral – e o crescimento econômico em particular – com a manutenção de suas bases naturais, particularmente com a conservação ecossistêmica”.37 Em outras palavras, a sustentabilidade pressupõe o controle e gestão de riscos e incentiva o poder a cumprir uma função essencial na adoção de políticas públicas voltadas à sua efetivação.38
A efetividade de um controle da gestão vai depender do conhecimento das finalidades, dos meios e dos resultados das políticas públicas que se implantam;39 depende, por outro lado, do valor que se dá à informação obtida com a implanta-ção; e, também, da correção dos eventuais equívocos que intervenham no desenho da política. O controle deve ser de modo tão amplo que possibilite um feedback completo da atividade proposta na política pública.40 Nesse contexto, torna-se interessante notar os mais recentes instrumentos normativos, que funcionam
35 ALVES, Ronaldo David. Conceitos de sustentabilidade energética. Biblioteca Digital Fó- rum de Direito Urbano e Ambiental (FDUA), Op. cit. Disponível em: <http://www.edito raforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=69641>. Acesso em: 21 nov. 2013.
36 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 21.
37 VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007, p. 91.38 KÄSSMAYER, Karin. Cidades, riscos e conflitos socioambientais urbanos: desafios à
regulamentação jurídica na perspectiva da justiça socioambiental. Curitiba, 2009, p. 156. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento). Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/19995/1/karin.pdf>. Aces- so: 10 jun. 2014.
39 Fazendo referência à última crise energética, enfrentada pelo país, no ano de 2001, Paulo Todescan Lessa MATTOS destaca o papel do Ministério de Minas e Energia (MME) na adoção de políticas emergenciais de gestão pública. Cf.: MATTOS, Paulo Todescan Lessa. The regulatory reform in Brazil: new decision-making procedures and accountability mechanisms. In: KINGSBURY, Benedict; STEWART, Richard B. (Orgs.). El nuevo Derecho Administrativo Global en América Latina. Buenos Aires: Rap, 2009, p. 417.
40 MARQUES, João Batista. A gestão pública moderna e a credibilidade nas políticas públicas. Revista de informação legislativa, Brasília, v. 40, nº 158, p. 221, abr./jun. 2003.

78 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
como mecanismo de fomento e controle das políticas públicas e da atividade econômica em análise, pois, ainda que de certa forma dispersa, convergem para uma perspectiva socioambiental, orientada ao desenvolvimento de uma socie-dade mais sustentável.
Assim, no âmbito jurídico, a sustentabilidade pode ser verificada com a efe-tividade das normas ambientais vigentes, compreendendo a sua aplicabilidade, a fiscalização ambiental, a implementação dos instrumentos preventivos (estudos de impacto ambiental, licenciamentos e zoneamentos), além da produção legislativa, de modo a adequar-se a demanda local (demanda verificável por todo o conjunto de dados extraídos das pesquisas realizadas nas mais diversas áreas), por meio de políticas públicas eficientes.41
Em síntese, os problemas socioambientais exigem uma transformação do co- nhecimento de modo a se pensar de forma integrada os problemas globais e complexos. Nesse sentido, Enrique Leff afirma que “[...] a gestão ambiental do desen-volvimento sustentável exige novos conhecimentos interdisciplinares e o planejamento intersetorial do desenvolvimento; mas e, sobretudo, um convite a ação dos cidadãos para participar na produção de suas condições de existência e em seus projetos de vida”.42 Juntamente com tais mudanças, é possível identificar um novo tipo de articulação entre investimentos públicos e privados em pesquisa, desenvolvimento e inovação, seja na relação entre instituições de ensino e pesquisa e empresas privadas, seja na relação entre instituições públicas de fomento e crédito e empresas privadas.43
5. a participação das instituições do estado de-mocrático de direito no setor energético do século xxi: o modelo institucional brasileiro
Nas palavras de Alain Touraine, a primeira condição de existência de uma ação política e social organizada no mais importante quadro institucional de hoje (que
41 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 137.
42 LEFF, Enrique. Saber ambiental: ... Op. cit., p. 56-57.43 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O sistema jurídico-institucional de investimentos
público-privados em inovação no Brasil. Biblioteca Digital Revista de Direito Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 7, nº 28, out./dez. 2009. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=64266>. Acesso em: 21 nov. 2013.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 79
é, sobretudo na América Latina, o do Estado nacional), presume que a população tenha consciência de pertencer a um conjunto nacional.44 O adjetivo ‘pública’, justaposto ao substantivo ‘política’, deve indicar tanto os destinatários como os autores da política. Uma política é pública quando contempla os interesses públicos,45 isto é, da coletividade – não como fórmula justificadora do cuidado diferenciado como interesses particulares ou do descuido indiferenciados de interesses que merecem proteção – como realização desejada pela sociedade. Mas uma política pública também deve ser expressão de todos os interessados, diretos ou indiretos, para manifestação clara e transparente das posições em jogo.46
No Brasil (e em geral na América Latina) existem poucos pontos de referência em energias renováveis, que têm como objetivo principal coletar informações so-bre tecnologias, atividades, projetos de pesquisa, dados estatísticos e pesquisa-dores. Ainda que poucos e pequenos, não é possível negar que estes centros executam e coordenam projetos próprios de pesquisa e desenvolvimento em fontes renováveis, competindo em algumas situações entre si e com grupos de universidades. Desse modo, é preciso uma atenção especial neste campo.
A busca racional de um modelo de gestão de Ciência & Tecnologia (C&T) para o setor energético exige a investigação de uma arquitetura específica, cujo domínio de conhecimento é essencialmente acadêmico. A questão da com-plementaridade é complexa, fortemente interdisciplinar e, por conseguinte, deverá exigir a articulação das instituições de pesquisa nacionais. A existência dos fundos setoriais configura apenas a condição inicial necessária, todavia é insuficiente para equacionar racionalmente o papel das energias renováveis no desenvolvimento sustentável do país.
Tomando-se o Brasil como exemplo: a partir da temática da sustentabilidade e da atividade econômica de energia, o Ministério de Minas e Energia (MME) brasileiro, criado pela Lei de nº 3.782, de 22 de julho de 1960, possui, em sua estrutura:
44 TOURAINE, Alain. O Brasil em desenvolvimento. In: CASTRO, Ana Célia; LICHA, Antônio; PINTO JR., Helder Queiroz; SABOIA, João. Brasil em desenvolvimento: instituições, políticas e sociedade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, v. 2, p. 24.
45 Sobre a temática do interesse público, ver: GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
46 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. Op. cit., p. 269.

80 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
(I) a Secretaria de Energia Elétrica (SEE), a quem compete, entre outras funções: monitorar a expansão dos sistemas elétricos para assegurar o equilíbrio entre oferta e demanda, em consonância com as políticas go-vernamentais; gerenciar programas e projetos institucionais relacionados ao setor de energia elétrica, promovendo a integração setorial no âmbito governamental; participar na formulação da política de uso múltiplo de recursos hídricos e de meio ambiente, acompanhando sua implemen-tação e garantindo a expansão da oferta de energia elétrica de forma sustentável;47 articular ações para promover a interação entre os agentes setoriais e os órgãos de meio ambiente e de recursos hídricos, no sen-tido de viabilizar a expansão e funcionamento dos sistemas elétricos; prestar assistência técnica ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)48 e ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE);49
(II) a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE), a quem compete, entre outras funções: orientar e estimular os negócios
47 Quando se fala em utilização de recursos hídricos no setor energético brasileiro, deve-se lembrar das limitações constitucionais de cunho ambiental, interpretando-se, de forma conjugada, os §§ 4º e 5º dos artigos 170, bem como o § 4º do artigo 225, ambos da CF/88. Cf.: SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. Limites constitucionais à utilização de recursos hídricos no setor energético. In: FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. (Orgs.). Energia e Constituição. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010, p. 181. Disponível em: <http://www.kas.de/wf/doc/kas_21829-1522-1-30.pdf?110204172937>. Acesso em: 10 jun. 2014.
48 O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), criado pela Lei de nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, é um órgão de assessoramento do Presidente da República. Sua função é formular políticas e diretrizes de energia destinadas a: I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País; II – assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos ás áreas mais remotas ou de difícil acesso do país, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios, observado o disposto no parágrafo único do artigo 73 da Lei n.º 9.478, de 1997; III – rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis; IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia proveniente de outras fontes alternativas.
49 O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) foi criado pela Lei nº 10.848, 15 de março de 2004, com a função de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 81
sustentáveis de energia; e, coordenar ações e programas de desenvolvi-mento energético, em especial nas áreas de geração de energia renovável e de eficiência energética;
(III) o Departamento de Planejamento Energético (DPE), inserido na SPE, é responsável, entre outras funções, pela elaboração do Plano Dece-nal de Expansão de Energia (PDE),50 do Plano Nacional de Energia (PNE)51 e da Matriz Energética Brasileira,52 atividades desenvolvidas com suporte da Empresa de Pesquisa Energética (EPE);53
(IV) o Departamento de Desenvolvimento Energético (DDE), a quem com-pete, entre outras funções: propor requisitos e prioridades de estudos e de desenvolvimento de tecnologias de conservação da energia à EPE
50 O Plano Decenal de Expansão de energia 2019 apresenta o panorama da expansão da oferta de energia no Brasil e os investimentos previstos para os próximos dez anos (iniciando em 2009). Cf.: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Plano decenal de expansão de energia 2019. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética, 2010. Disponível em: <http://epe.gov.br/PDEE/20101129_1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
51 O Plano Nacional de Energia (PNE 2030) tem como objetivo o planejamento de longo prazo do setor energético do país, orientando tendências e balizando as alternativas de expansão desse segmento nas próximas décadas. Ele é composto por uma série de estudos que buscam fornecer insumos para a formulação de políticas energéticas segundo uma perspectiva integrada dos recursos disponíveis. Estes estudos estão divididos em volumes, cujo conjunto forma o PNE 2030. Cf.: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Plano nacional de energia 2030: geração hidrelétrica. Brasília: MME e Empresa de Pesquisa Energética, v. 3, 2007. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/pne_2030/3_GeracaoHidreletrica.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
52 A Matriz Energética Brasileira 2030 compõe, com o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), o par de relatórios principais que consolidam os estudos desenvolvidos sobre a expansão da oferta e da demanda de energia no Brasil nos próximos 25 anos (iniciando em 2005). Cf.: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Matriz energética nacional 2030. Brasília: MME e Empresa de Pesquisa Energética, 2007. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
53 A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pelo Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. Cf.: artigo 2º da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004.

82 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
e outras instituições de ensino e pesquisa; promover, articular e apoiar a política e os programas de uso sustentável e conservação de energia nos espaços regionais de menor desenvolvimento; planejar e implemen-tar políticas diferenciadas de desenvolvimento de energias renováveis, contemplando a visão de longo prazo para os setores energéticos e as perspectivas de mudanças globais para o acesso e uso de recursos ener-géticos; promover e estimular a elaboração de levantamentos, estudos e pesquisas sobre energias renováveis e a interface energia-meio ambien-te; apoiar atividades e programas de pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis e das tecnologias associadas, em parceria com a EPE e em articulação com os órgãos do Ministério, agências reguladoras e demais entidades do setor, em consonância com as políticas do Minis-tério da Ciência e Tecnologia; e, promover e estimular investimentos privados em soluções de energia renovável;
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), foi criada pela Lei nº 9.427, 26 de dezembro de 1996. O artigo 2º desta Lei diz que a Agência tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. Assim, considerando-se a política energética nacional, pode-se afirmar que é de sua competência, por exemplo: incentivar o combate ao desperdício de energia no que diz respeito a todas as formas de produção, transmissão, distribuição, comercialização e uso da energia elétrica; estimular e participar das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, necessárias ao setor de energia elétrica; estimular e participar de ações ambientais voltadas para o benefício da sociedade, bem como interagir com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, em conformidade com a legislação vigente, atuando de forma harmônica com a Política Nacional de Meio Ambiente.
O Fundo Setorial de Energia (CT-Energ), administrado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)54 e alocado no Fundo Nacional de Desenvolvimento
54 A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), nos termos do Decreto nº 1.361, de 1º de janeiro de 1995, foi criada em 24 de julho de 1967, para institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 83
Científico e Tecnológico (FNDCT),55 é destinado a estimular a pesquisa e inovação voltadas à busca de novas alternativas de geração de energia, com menores custos e melhor qualidade; ao desenvolvimento e aumento da competitividade da tecnologia industrial nacional, com aumento do intercâmbio internacional no se-tor de pesquisa e desenvolvimento; ao fomento à capacitação tecnológica nacional, que tenham projetos na área de energia, especialmente na área de eficiência energética. A ênfase é dada na definição de programas de fontes de energia, capazes de enfren-tar desafios de longo prazo, com redução do desperdício. Tem como principal fonte de financiamento o montante mínimo de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre a receita operacional líquida (ROL) das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.56
A atuação da FINEP tem mobilizado instrumentos financeiros de distintas naturezas: aporte de recursos financeiros não reembolsáveis para instituições de pesquisa e organizações públicas e privadas sem fins lucrativos;57 financiamento, em condições mais favoráveis que as de mercado, para empresas emergentes de base tecnológica; e, aporte de capital de risco, no qual a agência participa do risco
de Projetos e Programas, criado em 1965. Tem como missão promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica em empresas, universidades, institutos tecnológicos, centros de pesquisa e outras instituições públicas ou privadas, mobilizando recursos financeiros e integrando instrumentos para o desenvolvimento econômico e social do país. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/estatuto/ >. Acesso em: 29 dez. 2010.
55 Instituído em 31 de julho de 1969, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) é destinado a financiar a expansão do sistema de Ciência & Tecnologia (C&T), tendo a FINEP como sua secretaria executiva desde 1971. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/a_empresa.asp?codSessaoOqueeFINEP=2>. Acesso em: 29 dez. 2010.
56 Conforme inciso I do artigo 1º da Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; altera as Leis nº 9.991, de 24 de julho de 2000; 10.925, de 23 de julho de 2004; 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, seção 1, 21 jan. 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12212.htm#art11>. Acesso em: 24 nov. 2010.
57 A Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, também regulou a categoria jurídica de subvenção econômica para projetos de inovação em empresas, que consiste na concessão de recursos financeiros não reembolsáveis diretamente às empresas para financiamento de despesas de custeio de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I). Cf.: MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O sistema jurídico-institucional de investimentos público-privados em inovação no Brasil. Biblioteca Digital Revista de Direito Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 7, nº 28, out./dez. 2009. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=64266>. Acesso em: 21 nov. 2010.

84 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
do empreendimento. Legislação recente veio acrescentar a esses mecanismos a possibilidade de subvenção econômica a empresas brasileiras.58
O Fundo Tecnológico – BNDES Funtec, por sua vez, destina-se a apoiar financeiramente projetos de pesquisa que objetivam estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o país, em conformidade com os programas e políticas públicas do Governo Federal. Especialmente para a área de energia, os recursos do BNDES Funtec têm como foco os seguintes direcionamentos: (I) tecnologias de produção de biomassa energética a partir da cana-de-açúcar, visando ao aumento da densidade energética e à produtividade agrícola; (II) melhorias na eficiência do processo industrial da cana-de-açúcar, visando ao aumento de produtividade, redução de custos e à mitigação de impactos ambientais, bem como à obtenção de vias tecnológicas mais limpas; (III) soluções inovadoras de transporte coletivo urbano, intermunicipal ou regional, que respondam às seguintes questões: redução da poluição ambiental, redução do consumo energético por passageiro, utilização de energia renovável e aumento da qualidade de vida.59
É interessante notar que o modelo jurídico-institucional adotado pelo BNDES, no caso do Funtec, é compatível com o modelo de cooperação econô-mica da Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que teve por principal objetivo estimular a construção de ambientes especializados cooperativos de inovação. Mais especificamente, buscou-se criar amparo legal para a celebração de convênios entre Instituições Científicas Tecnológicas (ICT) da Administração Pública e empresas privadas para compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações das ICT.60 Ao mesmo tempo, permitiu que as ICT
58 GUIMARÃES, Eduardo Augusto. Políticas de inovação: financiamento e incentivos. Brasília: IPEA, 2006, p. 46. (Texto para discussão nº 1212, elaborado no âmbito do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas). Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1212.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
59 Informações detalhadas sobre o Fundo Tecnológico – BNDES Funtec disponíveis em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/funtec.html>. Acesso em: 19 dez. 2010.
60 A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores. Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 85
celebrassem com empresas privadas (I) contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou se exploração de criação por ela desenvolvida; e, (II) acordos de parceria para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. Isso significa dizer, nas palavras de Paulo Todescan Lessa Mattos, que o modelo do Funtec tem a virtude de incentivar juridicamente as relações entre o Poder Público, instituições de tecnologia e empresas privadas.61
Pode-se destacar, também, a título de exemplo, o Renewable Energy Equity Fund, fundo setorial especializado com sede na Austrália, que fornece venture capital62 para apoiar pequenas empresas na comercialização dos resultados de P&D de tecnologias de energia renovável.63
poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos. Artigo 3º A. A Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, como secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio às IFES e demais ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos projetos mencionados no caput do artigo 1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a anuência expressa das instituições apoiadas. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).
61 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O sistema jurídico-institucional de investimentos público-privados em inovação no Brasil. Biblioteca Digital Revista de Direito Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 7, nº 28, out./dez. 2009. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=64266>. Acesso em: 21 nov. 2010.
62 O capital de risco ou venture capital é um tipo de investimento privado, por meio do qual se compra participação societária em empresas que apresentem possibilidades de crescimento exponencial. Os investidores participam diretamente dos riscos e da alavancagem do negócio, agregando valor ainda através de orientação administrativa, comercial e financeira. Após o ciclo de expansão da empresa, o investidor se desfaz de sua participação no negócio, vendendo-a a outros investidores ou empresas. Não se deve confundir investimento com endividamento. Em um empréstimo, os financiadores têm direito a juros e reembolso do capital qualquer que seja a evolução do seu negócio – sucesso ou fracasso. Com o venture capital, há uma entrada de recursos como contrapartida da tomada de posição no capital da empresa, e a rentabilidade dos investidores depende do sucesso do negócio. Conceito disponível em: <http://www.venturecapital.gov.br/fm/cadastro_empreendedores.asp>. Acesso em: 19 dez. 2010.
63 GUIMARÃES, Eduardo Augusto. Políticas de inovação: financiamento e incentivos. Brasília: IPEA, 2006. Texto para discussão nº 1212, elaborado no âmbito do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1212.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2010.

86 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A Organização Latino-americana de Desenvolvimento Energético (OLADE), voltada à integração regional energética, tem como missão contribuir com o desenvolvimento sustentável e a seguridade energética, assessorando e impulsionando a cooperação regional,64 bem como a coordenação entre seus países membros.65
No plano da legislação ordinária, lembra Romeu Felipe Bacellar Filho que existe previsão de controle social como meio de garantir a participação popular na Administração Pública. Várias são as formas de participação popular, em especial nas Agências Reguladoras, entre as quais a ANEEL, sendo imperioso citar as audiências públicas que, ao mesmo tempo em que concretizam o princípio da publicidade, viabilizam a participação de indivíduos ou grupos determinados, expondo suas ideias, preferências e sugestões que propiciem à Administração Pública decidir com maior probabilidade de acerto.66 No mesmo sentido é o entendimento de Miguel Alejandro López Olvera, tratando da realidade mexicana como paradigma para a latino-americana em geral.67
Nesse contexto, a possibilidade de implementar os fins públicos do Estado por meio do mecanismo das políticas públicas, além de permitir uma maior participação social, propicia também a redução da crescente crise de legitimidade
64 Na área energética, a cooperação regional é importante tema para o desenvolvimento de fontes energéticas renováveis. Em dezembro de 2006, os Estados-membros do MERCOSUL e Venezuela assinaram um “Memorando de entendimento para estabelecer um grupo de trabalho sobre biocombustíveis”. Cf.: PAZINATO DA SILVA, Guilherme Amintas. Integração regional e políticas públicas para energias renováveis. In: ________; BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. (Orgs.). Direito Administrativo e integração regional. Anais do V Congresso da Associação de Direito Público do Mercosul e do X Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 141-142.
65 México, Brasil, Equador, Colômbia, Paraguai, Uruguai, República Dominicana e Costa Rica. Disponível em: <http://www.olade.org.ec/proyecto/energias-renovables>. Acesso em: 25. dez. 2010.
66 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A natureza contratual das concessões e permissões de serviço público. Serviços públicos na Constituição Federal de 1988. In: RUIZ, Jorge Fernández. (Org.). Derecho Administrativo: memória del Congresso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 26.
67 OLVERA, Miguel Alejandro López. Las audiências públicas como mecanismo de participación para elaborar las tarifas del servicio público de energia eléctrica. In: RUIZ, Jorge Fernández. (Org.). Derecho Administrativo: memória del Congresso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 135.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 87
estatal, haja vista que a expansão do Estado, muitas vezes, quando realizada por mecanismos unilaterais, acaba não sendo acompanhada por um congruente processo de aprofundamento de participação democrática,68 razão pela qual o processo de formulação e execução das políticas públicas também deve ser considerado como um processo político, cujas legitimidade e “qualidade decisória”, no sentido da clareza das prioridades e dos meios para realizá-las, estão na razão direta do amadurecimento da participação democrática dos cidadãos.69 É complexa a tarefa imposta às instituições, de apresentar soluções adequadas para o conflito que se estabelece entre a pretensão de garantir o desenvolvimento tecnológico e a inovação, e a obrigação de estabelecer limites à própria capacidade de intervenção sobre o ambiente, objetivando a proteção do futuro. E tal complexidade amplia-se ainda mais quando se constata que tais decisões dependem de um procedimento democrático de deliberação para garantir legitimidade ao resultado das ações governamentais.
De todo modo, tal questão deve ser assumida pelos agentes de intervenção e pelas instituições do século XXI, não como um obstáculo, mas como um desafio a ser superado mediante a máxima redução das externalidades negativas con- tidas no processo inerente à tomada de escolhas públicas difíceis em que denota-se uma constante tensão entre a supremacia do interesse público e os diferentes direitos fundamentais, notadamente os de última geração/dimensão.70
6. conclusões
Em resposta à problemática apresentada, podem ser extraídas algumas conclusões articuladas, com as quais se pretende contribuir para o debate desse importante tema da atualidade:
(i) o estudo identifica – de imediato e no ambiente do setor energético do século XXI – a necessidade de resgatar a relação de integração entre
68 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências públicas. In: CUNHA, Sérgio Sérvulo; GRAU, Eros Roberto. (Orgs.). Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 325-351.
69 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 269.
70 HACHEM, Daniel. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

88 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Estado, sociedade e meio ambiente natural enfrentando, a partir dos atores do desenvolvimento econômico, político e social, os principais desafios jurídicos interpostos à integração global entre as sociedades e natureza, em especial, no que diz respeito à incorporação da sustentabi-lidade;
(ii) no caso brasileiro, o embasamento do planejamento energético, supor-te do princípio do desenvolvimento com sustentabilidade, decorre do caput do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo o qual “todos têm direito ao meio ambiente ecolo-gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o de-ver de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;
(iii) para a concretização sustentável do desenvolvimento como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, o planejamento energético traduz-se por um instrumento jurídico e econômico, cuja gestão estra-tégica pode e deve compreender, entre outras temáticas, o uso eficiente de energia e suas respectivas fontes alternativas, mudanças climáticas, avaliação e risco de impactos ambientais da sua respectiva atividade econômica;
(iv) a busca um modelo sustentável para o setor energético exige a investi-gação de uma arquitetura especial, cujo domínio de conhecimento per-passa essencialmente pelo meio acadêmico. A questão da complemen-taridade é complexa, fortemente interdisciplinar e, por conseguinte, deverá exigir a articulação das instituições de pesquisa nacionais e in-ternacionais, que não apenas as tradicionais e já conhecidas instituições do Estado Democrático de Direito que compõem o setor energético. A título exemplificativo do estudo, a simples existência dos fundos se-toriais pode configurar uma condição inicial necessária, todavia é insu-ficiente para equacionar racionalmente o papel das energias renováveis no desenvolvimento sustentável;
(v) a análise crítica da organização institucional do setor energético brasi-leiro, por ganhar contornos de interesse público primário, merece uma atenção mais rigorosa, em virtude das consequências que ocasionam

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 89
para o conjunto da sociedade e que reforçam o debate em torno do direito ao desenvolvimento;
(vi) em outras palavras, não apenas a busca de um modelo de investimento para o setor energético exige a investigação de uma arquitetura especial, cujo domínio de conhecimento perpassa pela crítica acadêmica; mas, também, sua forma de gestão e organização impactam diretamente nos padrões de controle, de monitoramento, de zoneamento e de licencia-mentos ambientais, sendo todos estes, exemplos de instrumentos jurí-dicos para dar eficiência e efetividade ao desenvolvimento energético nacional;
(vii) no que diz respeito à existência de fundos setoriais de investimentos, como representativos institucionais, por si somente, configuram apenas a condição inicial necessária, todavia é insuficiente para equacionar ra-cionalmente o papel dos investimentos no desenvolvimento nacional; sendo, justamente, nesse contexto, que se insere a importância de uma organização institucional setorial, necessária à construção harmônica de um planejamento energético eficaz e condizente com o desenvolvi-mento;
Em síntese, a incorporação da sustentabilidade no setor energético do século XXI se traduz como um dos vários desafios das instituições democráticas para o desenvolvimento, pois, se entendida na conexão de sua prática em longo prazo, é capaz de fomentar tanto a criação de novos mecanismos e instrumentos para o seu planejamento; quanto o fortalecimento de outros centros democráticos, também especializados na temática da energia e de ímpar importância, resgatando, efetivamente, a referida relação de integração, outrora existente, entre Estado, sociedade e meio ambiente.
7. referências
ÁLVARES, Walter Tolentino. Curso de Direito da energia. Rio de Janeiro: Forense, 1978.
ALVES, Ronaldo David. Conceitos de sustentabilidade energética. Biblioteca Digital Fórum de Direito Urbano e Ambiental (FDUA), Belo Horizonte,

90 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
ano 9, nº 53, set./out. 2010. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=69641>. Acesso em: 21 nov. 2013.
ARAGÓN, Enrique Omar. Democracia, derechos fundamentales y proceso ad-ministrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; GABARDO, Emer- son; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). Globalização, direitos funda-mentais e direito administrativo: novas perspectivas para o desenvolvimento econômico e socioambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
AYALA, Patryck de Araujo. A proteção jurídica das futuras gerações na sociedade do risco global: o direito ao futuro na ordem constitucional brasileira. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, Jose Rubens Morato; BORATTI, Larissa Veri. (Orgs.). 2. ed. Estado de Direito Ambiental: tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 320-359.
AYALA, Patryck de Araujo. Direito fundamental ao meio ambiente e a proibição de retrocesso nos níveis de proteção ambiental na Constituição brasileira. In: AYALA, Patryck de Araujo. (Org.). Direito ambiental e sustentabili-dade: desafios para a proteção jurídica da sociobiodiversidade. Curitiba: Juruá, 2012, v. 1, p. 15-38.
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A natureza contratual das concessões e permissões de serviço público. Serviços públicos na Constituição Federal de 1988. In: RUIZ, Jorge Fernández. (Org.). Derecho Administrativo: memória del Congresso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
BELLEN, Hans Michael Van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologiza-ção da Constituição brasileira. In: LEITE, José Rubens Morato; CA-NOTILHO, José Joaquim Gomes. (Orgs.). Direito constitucional am-biental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 57-135.
BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 91
BLANCHET, Luiz Alberto. Desenvolvimento e sustentabilidade como fatores delimitadores da discricionariedade do Estado nos atos administrativos que repercutem sobre a atividade econômica. Âmbito Jurídico. v. 77, 2011, p. 7581.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desen-volvimento Energético. Matriz energética nacional 2030. Brasília: MME e Empresa de Pesquisa Energética, 2007. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/MatrizEnergeticaNacional2030.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Plano decenal de expansão de energia 2019. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética, 2010. Disponível em: <http://epe.gov.br/PDEE/20101129_1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e Desen-volvimento Energético. Plano nacional de energia 2030: geração hidre- létrica. Brasília: MME e Empresa de Pesquisa Energética, v. 3, 2007. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publi cacoes/pne_2030/3_GeracaoHidreletrica.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002.
BURSZTYN, Marcel. Políticas públicas para o desenvolvimento (sustentável). In: ________. A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
CALDAS, Geraldo Pereira. Concessões de serviços públicos de energia elétrica: em face da Constituição Federal de 1988 e o interesse público. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2006.
CAMARGO. Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. 2. ed. Campinas: Papirus, 2005.
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

92 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação democrática: audiências públicas. In: CUNHA, Sérgio Sérvulo; GRAU, Eros Roberto. (Orgs.). Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003.
FERREIRA, Heline Sivini; BONIN, Luciana Xavier. Do desenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: um dos desafios lançados ao Estado de Direito Ambiental na sociedade de risco. Anais do V Simpósio Dano Ambiental na Sociedade de Risco. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2010. 1 CD Rom.
FOLADORI, Gilhermo; TOMMASINO, Humberto. El concepto de desarrollo sustentable treinta años después. Desenvolvimento e meio ambiente, Curitiba, UFPR, nº 1, p. 41-56, jan./jun. 2000.
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009.
GUIMARÃES, Eduardo Augusto. Políticas de inovação: financiamento e incentivos. Brasília: IPEA, 2006. (Texto para discussão nº 1212, elaborado no âmbito do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas). Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1212.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
HACHEM, Daniel. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
KÄSSMAYER, Karin. Cidades, riscos e conflitos socioambientais urbanos: desafios à regulamentação jurídica na perspectiva da justiça socioam-biental. Curitiba, 2009, p. 262. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento). Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/19995/1/karin.pdf>. Acesso: 10 jun. 2014.
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Venezuela. São Paulo: Cortez Editora, 2001.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 93
MARES, Carlos Frederico; SILVA, Liana Amin Lima da; WANDSCHEER, Clarissa Bueno. (Orgs.). Biodiversidade, espaços protegidos e popula-ções tradicionais. Curitiba: Letra da Lei, 2013. Disponível em: <http://dl.dropboxusercontent.com/u/520318/Livros%20Socioambiental/livro2.zip>. Acesso em: 10 jun. 2014.
MARQUES, João Batista. A gestão pública moderna e a credibilidade nas polí-ticas públicas. Revista de informação legislativa, Brasília, v. 40, nº 158, p. 219-225, abr./jun. 2003.
MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O sistema jurídico-institucional de inves-timentos público-privados em inovação no Brasil. Biblioteca Digital Revista de Direito Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 7, nº 28, out./dez. 2009. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=64266>. Acesso em: 21 nov. 2013.
MATTOS, Paulo Todescan Lessa. The regulatory reform in Brazil: new decision-making procedures and accountability mechanisms. In: KINGSBURY, Benedict; STEWART, Richard B. (Orgs.). El nuevo Derecho Administrativo Global en América Latina. Buenos Aires: Rap, 2009.
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Desenvolvimento sustentável do Brasil e o protocolo de Quioto. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 37, nº 37, p. 144-159, 2005.
NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto. (Org.). Sustentabilidade e temas fundamentais de Direito Ambiental. Campinas: Millennium, 2009.
OLVERA, Miguel Alejandro López. Las audiências públicas como mecanismo de participación para elaborar las tarifas del servicio público de energia eléctrica. In: RUIZ, Jorge Fernández. (Org.). Derecho Administrativo: memória del Congresso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
OLIVEIRA, Maria Cristina Cesar de. Princípios jurídicos e jurisprudência so-cioambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

94 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
PAZINATO DA SILVA, Guilherme Amintas. Integração regional e políticas públicas para energias renováveis. In: ________; BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. (Orgs.). Direito Administrativo e integração regional. Anais do V Congresso da Associação de Direito Público do Mercosul e do X Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila; SANTOS, Nivaldo dos; SANTOS, Marcela de Oliveira. O Brasil no âmbito das energias renováveis: bio-combustíveis e suas celeumas socioambientais. Prismas: Direito, Políti-cas Públicas e Mundialização, Brasília, v. 2, nº 6, p. 306, jul./dez. 2009. Disponível em: <http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/prisma/article/view/863/845>. Acesso em: 10 jun. 2014. doi: 10.5102/prismas.v6i2.863
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
RODRIGUES, Valdemar. Desenvolvimento sustentável: uma introdução crítica. Parede: Princípia, 2009.
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. La participación en el Estado social y democrático de Derecho. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 12, nº 48, p. 13-40, abr./jun. 2012.
ROLIM, Maria João C. Pereira. Direito Econômico da energia elétrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
RUIZ, Jorge Fernández. La reforma energética. In: ________. (Org.). Derecho Administrativo: memória del Congresso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.
SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. Limites constitucionais à utilização de recursos hídricos no setor energético. In: FRANÇA, Vladimir da Rocha;

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 95
MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. (Orgs.). Energia e Constituição. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2010, p. 181. Disponível em: <http://www.kas.de/wf/doc/kas_21829-1522-1-30.pdf?110204172937>. Acesso em: 10 jun. 2014.
SIMIONI, Carlos Alberto. O uso de energia renovável sustentável na matriz energética brasileira: obstáculos para o planejamento e ampliação de políticas sustentáveis. Curitiba, 2006. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento). Universidade Federal do Estado do Paraná. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/5080/1/Carlos%20Aberto%20Simioni.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito, energia e tecnologia: a reconstrução da diferença entre energia e tecnologia na forma da comunicação jurídica. São Leopoldo, 2008. Tese (Doutorado em Direito). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp094498.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.
TOURAINE, Alain. O Brasil em desenvolvimento. In: CASTRO, Ana Célia; LICHA, Antônio; PINTO JR., Helder Queiroz; SABOIA, João. Brasil em desenvolvimento: instituições, políticas e sociedade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, v. 2.
VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 97
a lei tributária no brasil: um processo em permanente construção
Hélio Sílvio Ourém Campos1
Resumo
Trata-se de um estudo sobre o princípio da legalidade, especialmente no âm-bito constitucional tributário, veiculando a necessidade da construção gradual de uma mentalidade de cidadania, que exige do Estado Democrático de Direito não apenas um respeito isolado à segurança jurídica, mas também o registro da indignação quanto à impunidade. A ausência de uma reação efetiva do Estado, inclusive do Estado-Juiz, ao desrespeito sistemático das leis pode gerar uma sensação perigosa, pois funciona como um fator de estímulo a novos delitos e à formação, no cidadão comum, primeiramente, de um sentimento de indignação e, depois, de indiferença ética ou de impotência de um Estado que não consegue reagir. É necessário consolidar-se a trilogia uniformidade-determinabilidade-segurança. Mais: é preciso refletir sobre o carácter ético de realizar alterações legislativas em períodos próximos das eleições.
Palavras-chave
Legalidade; Impunidade; Efetividade; Brasil.
Abstract
This is a study about the principle of legality, especially under constitutional tax, running the necessity for the gradual construction of a mentality of citizenship, which requires from the Democratic State of Law not only a unique respect to the legal certainty principle, but also the record of the indignation about the impunity. The absence of an effective reaction of the State, including the State-Judge, the systematic disregard of laws can generate a dangerous sense,
1 Doutor e Mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-Doutorado pela Universidade Clássica de Lisboa. Juiz Federal. Professor Titular da Universidade Católica de Pernambuco. Ex-Procurador Judicial do Município do Recife, Ex-Procurador do Estado de Pernambuco, Ex-Procurador Federal. www.ourem.web44.net. E-mail: [email protected].

98 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
it acts as a stimulus factor to new offenses and training, the ordinary citizen, first, a sense of indignation and then ethical indifference or impotence of a state that can not react. It is necessary to consolidate uniformity determinability-security-trilogy. Indeed, it is necessary to reflect on the ethical character to hold legisla- tive changes coming election periods.
Key words
Law; Impunity; Effectiveness; Brazil.
1. introdução
Entendo que seja preciso distinguir entre a ilusão sobre como os homens deveriam ser e a constatação de como o homem realmente é, elaborando-se soluções políticas que detenham um potencial concreto de funcionamento. Certamente, a virtude não seja um monopólio do povo, enquanto a corrupção econômica e a moral específicas das camadas de elite (populismo). Há uma espécie de mixagem entre qualidades e defeitos em todas as esferas, e daí a importância de facilitar o fluxo social e a alternância no governo das comunidades organizadas.
Enfatize-se a necessidade de o intérprete não desprezar a norma, principal-mente a constitucional, alçando vôos em direção a outras alternativas. Bem ao contrário, pois quanto mais ele conhecer o ordenamento jurídico que aplica, melhor. Afinal, mesmo que, aparentemente, ele só esteja fazendo incidir uma única norma; no seu ato de aplicação, deve haver o compromisso com todo o ordenamento.
Veja-se as diversas concepções do que seja (ou deva ser) a lei, segundo Jorge Miranda (1997, p. 125-126):
As mais significativas concepções sobre o Estado e o Direito projectam-se necessariamente em diversos entendimentos do que seja (ou deva ser) a lei. Recordem-se, assim, nos últimos séculos: - lei, ordenação da razão (S. TOMÁS DE AQUINO, e, de certo modo, ainda SUAREZ); - a lei, vontade do soberano (HOBBES), - a lei, garantia da liberdade civil e da propriedade (LOCKE); - a lei ligada à divisão do poder e ao equilíbrio das instituições (MONTESQUIEU); - a lei, expressão da vontade geral (ROSSEAU); - a lei, vontade racional (KANT); - a lei,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 99
instrumento para a utilidade e a felicidade geral (BENTHAM); - a lei, manifestação imediata do poder soberano (AUSTIN); - a lei, instrumento do domínio de classe (MARX, ENGELS); - a lei, escalão de normas imediatamente a seguir à Constituição (KELSEN); - o conceito político de lei (SCHMITT). Mas a problemática da lei insere-se na problemática geral do poder. Com o conteúdo da lei contendem a organização da sociedade e do poder de a governar.” JORGE MIRANDA, acrescenta: “Não é por acaso que LOCKE considera o poder legislativo o poder primordial por ser ele que determina as diferentes formas de governo. Nem é por acaso que, recusando embora a separação de poderes, ROSSEAU admite a distinção entre função legislativa e função executiva, sustentando que aquela é a única soberana. Ou que, pelo contrário, MONTESQUIEU a pretende limitar.
É tal como uma esfera em contato com uma mesa plana. O ponto de encontro entre a esfera e a mesa pode ser um só, mas a mesa suporta todo o peso da esfera.
Note-se, então, uma importante advertência. Concluir, deste modo, não se trata apenas de um valor, mas da fixação de uma providência objetiva.
A segurança, um valor, é instrumentalizada por uma expressão objetiva, que é a legalidade.
Assim, o seu cumprimento passa a poder ser provado dentro de limites mais estritos, dando margem a um menor número de dúvidas.
Daí, ser fundamental que a Constituição não seja vista como uma espécie de “Constituição patrícia” (os patrícios eram os aristocratas proprietários de terras na antiga Roma – formavam a camada social dominante), que traria, em seu próprio interior, margens a contra-argumentos que inviabilizam as conquistas das camadas sociais menos favorecidas.
A segurança e a legalidade, que é uma sua expressão objetiva, são, elas pró-prias, instrumentos da justiça.
Em um Estado Democrático de Direito (art. 1º, da Constituição do Brasil), deve a lei estar a serviço da redução das “desigualdades sociais e econômicas”, não sendo apropriada esta previsão constitucional confundir-se com uma forma oca, onde cabe tudo; especialmente, os privilégios dos grupos ou elites politicamente influentes.

100 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Sem a tentativa de tornar iguais os cidadãos, termina por haver uma relação entre inferiores e superiores, onde os primeiros, simplesmente, sujeitam-se.
A interpretação da lei não deve ser sinônimo de indiferença. A imparciali-dade também não. É um comando constitucional a redução das desigualdades sociais (art. 3º, inc. III, da Constituição do Brasil). No Brasil, este é um objetivo fundamental da República (art. 3º, “caput”).
Enfim, a lei deve estar a serviço da segurança, da liberdade, da igualdade. Tudo isto se operando mediante a lei.
A Lei Constitucional fixa limites que o legislador não pode ultrapassar. Em outras palavras, legislar também é aplicar a Constituição.
Na Constituição do Brasil, o princípio da legalidade encontra-se presente de maneira explícita, e também implícita. Às vezes, o silêncio fala tão ou mais alto, considerando as circunstâncias que o envolvem, pois quem cala não consente nem dissente. Isto dependerá das circunstâncias. Um exemplo é a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. É o seu art. 40: “Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo”.
De maneira expressa, é forçoso citar alguns artigos. São eles:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
[...]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...].

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 101
[...]
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...].
São outras tantas as oportunidades em que se faz referência expressa à legalidade, apontando estas apenas como exemplificativas.
De fato, discute-se sobre a adequabilidade da repetição. Alguns podem ver esta técnica repetitiva como algo inútil.
No entanto, é preciso observar o contexto do Brasil, e de sua sociedade, que ainda se mantém ansiosa por preservar direitos que, melancolicamente, não acredita que sejam concretizados.
Demonstração do que digo são as medidas provisórias, onde, mesmo alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o excesso, o Poder Judiciário pouco fez, na prática, para contê-lo. É o caso, por exemplo, da instituição e da majoração de tributos por esta via, onde não são incomuns as discordâncias individuais de alguns Ministros do mais Alto Tribunal, que, no entanto, dizem ceder ao entendimento do Plenário, como consta no site oficial da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo:
Celso de Melo fala do uso excessivo de medidas provisórias pelo Governo. [...] a utilização indiscriminada e as sucessivas reedições de medidas provisórias ‘não podem transformar-se em instrumento de imposição normativa da vontade unipessoal do Presidente da República, exacerbando-se, desse modo, o componente autoritário de que se acham inquestionavelmente impregnados esses atos executivos com força de lei. [...] de 05 de outubro de 88 até o dia 31 passado, o Governo Federal editou e reeditou 4.026 medidas provisórias, média de 366 medidas provisórias por mês. Desse total, o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi responsável por 3.223 medidas provisórias, de acordo com o levantamento divulgado pelo Senado. Para o Ministro Celso de Mello, os dados evidenciam que os Presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique legislaram quase duas vezes mais do que o próprio Congresso Nacional. No seu Despacho, o Ministro defendeu a necessidade

102 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
do Governo definir as matérias que não podem constituir objeto de disciplinação jurídica por medidas provisórias de maneira que o Presidente diminua a sua intervenção no trabalho do Legislativo. Ele acha que essa intervenção ‘suprime a possibilidade de prévia discussão parlamentar de matérias que devem estar ordinariamente sujeitas ao poder decisório do Congresso Nacional’. [...] Apesar de considerar que a criação e a majoração de tributos são matérias de competência exclusiva do Congresso, o Ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário apresentado pela Transportadora Urano Ltda. contra a União Federal. No seu Despacho, o Ministro observou que a orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a possibilidade jurídico-constitucional do Presidente da República instituir ou majorar tributos mediante a edição de medida provisória.
Além do mais, em um passado recente, fatos pretéritos foram atingidos, por exemplo, com a utilização dos chamados empréstimos compulsórios.
Sobre isto, destacou Paulo de Barros Carvalho a respeito da forma grosseira como o princípio constitucional da irretroatividade das leis vinha sendo descum-prido, pelo Poder Público impositivo, na seara dos empréstimos compulsórios.
Eis o Autor (CARVALHO, 1991, p. 99-100)
Com efeito, o enunciado normativo que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conhecido como princípio da irretroatividade das leis, não vinha sendo, é bom que se reconheça, impedimento suficientemente forte para obstar certas iniciativas de entidades tributantes, em especial a União, no sentido de atingir fatos passados, já consumados no tempo, debaixo de plexos normativos segundo os quais os administrados orientaram a direção de seus negócios. Tranqüilos, na confiança de que tais eventos se encontravam sob o pálio daquele magno princípio, foram surpreendidos por grosseiras exações, que assumiram o nome de empréstimos compulsórios.
2. das medidas provisórias
A jurisprudência vem lapidando esse instituto, insculpindo-lhe o formato preciso. [...] Sem dúvida é de se o aperfeiçoar

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 103
(constitucional), contudo, parece-nos que a raiz do mal não está nas leis em si, mas na sua efetiva execução e na consciência de sua obediência. (SZKLAROWSKY, 1991, p. 11).
Com relação às medidas provisórias, a Constituição brasileira, de outubro de 1988, assim dispôs sobre elas em seu texto originário:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo Único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
A Constituição da República Italiana, em seu art. 77, dispõe:
Art. 77. O Governo não pode, sem delegação das Câmaras, promulgar decretos que tenham valor de lei ordinária. Quando, em casos extraordinários de necessidade e de urgência, o Governo adota, sob a sua responsabilidade, medidas provisórias, com força de lei, devendo apresentá-las no mesmo dia para a conversão às Câmaras que, mesmo dissolvidas, são especialmente convocadas a se reunirem no prazo de cinco dias. Os decretos perdem eficácia desde o início, se não forem convertidos em lei no prazo de sessenta dias a partir da sua publicação. As Câmaras podem, todavia, regulamentar com lei as relações jurídicas surgidas com base nos decretos não convertidos.
Diante destas medidas, acirra-se uma forte polêmica, no Brasil, em torno da segurança jurídica, e da sua forma de manifestar-se pela expressão da legalidade; especialmente em matéria tributária.
Como se pode verificar, nos termos do art. 62, a medida provisória tem, entre as suas características básicas, a urgência.
Ora, um dos limites constitucionais fixados para o Estado tributar o cidadão, no Brasil, é o da anterioridade (espera pelo ano subseqüente – regra geral).
Diz a Constituição sobre a anterioridade, em seu art. 150, inc. III, als. “b” e “c”:

104 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] III- cobrar tributos: [...] b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.
Ocorre que o exercício financeiro, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Diário Oficial da União de 23 de março de 1964, estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), é o ano civil, como diz o seu art. 34: “O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. [...]”
Logo, surge a questão da impossibilidade de se compatibilizar a urgência, que é uma característica constitucional da medida provisória, com a exigência, também constitucional, de se esperar o próximo ano para instituir ou aumentar o tributo (anterioridade).
Assim, é voz corrente, na doutrina nacional (Cf. DERZI, 1995, p. 166), a conclusão de que a regra é a de que os tributos não devam ser urgentes; e, portanto, não possam ser viabilizados por medidas provisórias.
Porém, há exceções constitucionais à falta de urgência do tributo.
Mas é preciso reconhecer que, quando a Constituição do Brasil afirma que a lei de diretrizes orçamentárias deve orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária (art. 165, § 2º), deixa claro que, em matéria tributária, há a necessidade de um planejamento tanto do Estado, quanto também das empresas privadas, que não podem (assim como o cidadão comum) ser surpreendidas com abruptas inovações legislativas.
Entre as exceções a que me refiro, uma delas está no próprio art. 150, e diz respeito a quatro impostos. Uma outra encontra-se no art. 149, e diz respeito aos empréstimos compulsórios. E, finalmente, há a figura dos impostos de guerra, ou extraordinários no art. 154, inc. II (observação: todos os dispositivos citados são da Constituição do Brasil).
Veja-se o que eles dizem:

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 105
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:
I- para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de cala-midade pública, de guerra externa ou sua iminência;
II- no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, III, b. Parágrafo Único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.
[...]
Art. 150. [...] § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I [calamidade], 153, I, II, IV e V . [são os impostos da União Federal sobre a importação de produtos estrangeiros; sobre a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; sobre produtos industrializados e sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários]; e 154, II [imposto de guerra]; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
[Art. 154, II são os impostos de guerra] Art. 154. A União poderá instituir: [...] II- na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessando as causas de sua criação).
Procurando dizer tudo isto de maneira direta. A anterioridade tributária sofre exceções constitucionais, entre elas estão os impostos de guerra, os impostos regulatórios externos (importação e exportação), o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e as contribuições dirigidas à seguridade social.
Ocorre que, nos casos dos impostos de guerra, não há impedimento para a medida provisória, dado a significante relevância e urgência da situação. Não se trata de zona de fronteira.
Quanto aos demais, parece-me desnecessária a utilização da medida provi-sória, pois basta ver o art. 153, § 1º, da Constituição do Brasil, que faculta ao Poder Executivo a alteração das alíquotas.

106 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Estes artigos referem-se ao imposto sobre a importação, sobre a exportação, sobre a transmissão de bens imóveis, sobre operações de crédito, câmbio e seguros e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários”, que poderá se utilizar dos decretos (art. 84, inc. IV), desde que dentro dos limites (mínimo e máximo) fixados pela lei geral.
Restariam, também, os empréstimos compulsórios, disciplinados no art. 148, da Constituição do Brasil.
Note-se que, aqui, a exigência de lei é expressa. E a lei exigida é a complemen- tar (uma espécie de lei reforçada), que tem quórum qualificado de maioria abso-luta, e, sobre o tema “hierarquia da lei complementar”, destaco as palavras de Paulo de Barros Carvalho, onde, socorrendo-se do magistério de Souto Maior Borges, esclarece que estas leis não são necessariamente superiores às leis ordinárias. É a Constituição que indica se a matéria lhe é ou não reservada. Se o for, em face de mandamento constitucional nesta direção, não caberá à lei ordinária invadir-lhe o espaço que lhe é próprio (Cf. BARROS, 1991, p. 135-136).
Com isto, desde a redação originária, havia aqueles que defendiam que, por ter a medida provisória força de lei (art. 62), estaria vedado a ela o campo reservado às leis complementares, pois as medidas provisórias poderiam, apenas, atuar na seara das leis ordinárias. Atualmente, a vedação de edição de medidas provisórias sobre matéria de lei complementar é expressa no art. 62, § 1º, inc. III (Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001). Observe-se, entretanto, o mesmo art. 62, § 1º, inc. I, al. “d”, quando ressalva das vedações o art. 167, § 3º, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
Além disto, quando a Constituição do Brasil registrou, em seu art. 68, que não deveria ser objeto de delegação ao Executivo as matérias inerentes à lei complementar, estaria, também aí, fixando mais um impedimento para as medidas provisórias.
A base disto estava na argumentação de que, quando a Constituição do Brasil quis falar em lei complementar, ela o fez expressamente.
Logo, como, no art. 62, que trata das medidas provisórias, ela assim não procedeu, a conclusão seria pela impossibilidade de sua utilização em matéria reservada constitucionalmente à lei complementar.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 107
Ocorre que, se assim o fosse em relação à medida provisória, também o deveria ser em relação às demais situações constitucionais, onde o termo lei vem desacompanhado da expressão “complementar”.
Mas não é isto o que acontece, pois o próprio art. 5º, inc. II, que consigna o princípio da liberdade, vem grafado da seguinte maneira: “Art. 5º. (...) II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”.
Ora, quer me parecer evidente que, na expressão lei ali utilizada, cabia enten-der lei ordinária, e também lei complementar. Seria um tanto absurdo imaginar o contrário, pois a Constituição estaria permitindo o descumprimento das leis complementares, exatamente aquelas que têm um quórum qualificado, tal como foi visto.
Enfim, com a antipatia não se interpreta, mas apenas se ataca.
Por tudo isto, em minha visão, era possível, em face da redação originária do Diploma Constitucional, a utilização da medida provisória em matéria tributária em alguns casos excepcionais, a saber: a) impostos de guerra; b) empréstimo compulsório para o qual a Constituição do Brasil não veiculou a obediência ao princípio da anterioridade, ou seja, em casos de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua iminência. Lembrando, aqui, de que o art. 148, da Constituição de outubro de 1988, exige lei complementar para a instituição de empréstimo compulsório.
Portanto, foi constituída uma situação bem peculiar pela Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001, porquanto da vedação da edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar (art. 62, § 1º, inc. III). Assim, não caberia mais a utilização de medida provisória em se tratando de empréstimo compulsório, embora destacada a relevância e a urgência? Creio que ainda caiba por força da ressalva feita pelo art. 62, § 1º, inc. I, al, “d”, que faz remessa ao art. 167, § 3º, dispositivo que regulamenta a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
Sobre a exceção à anterioridade, e como argumento de reforço ao que digo, lembro de um antigo adágio que ensina que, ao se incluir um, exclui-se o outro.

108 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Recorde-se do que disse sobre os brocardos jurídicos Carlos Maximiliano (1981, p. 239-240):
Na alvorada do século XI, Burcardo, Bispo de Worms, organizou uma coleção de cânones, que adquiriram grande autoridade, e foram impressos em Colônia, em 1548, e, em Paris, em 1550. Granjeou fama aquele repositório, sob o título de Decretum Burchardi. Eram os cânones dispostos em títulos e reduzidos a regras e máximas; na prática, lhes chamavam burcardos, a princípio; dali resultou a corrutela brocardos, que se estendeu, em todo o campo do Direito Civil, aos preceitos gerais e aos aforismos extraídos da jurisprudência e dos escritos dos intérpretes. Os brocardos parecem fadados a passar, com certos condutores de homens, do exagerado prestígio à injusta impopularidade. A sua citação, diurna outrora, vai-se tornando cada vez menos frequente; rareiam, talvez, os entusiastas à medida que surgiam desdenhosos e opositores. Àquelas regras de Direito, muito breves e formuladas quase sempre em latim, os antigos chamavam de axiomas, vocábulo destinado, em Matemática, a designar as proposições evidentes por si mesmas, que dispensam esclarecimentos e demonstrações.[...] Outros mestres julgam eternos os brocardos, por serem a própria razão natural escrita; ao invés de homenagem ao progresso, acham insânia mudá-los ou repeli-los; pois esclarecem, iluminam, guiam: são raios divinos.
Ora, se, em nossa Constituição, incluiu-se, expressamente, o princípio da anterioridade na hipótese normativa do inc. II, é porque não era preciso observá-la no inc. I, do art. 148.
E, ainda, é de destacar que as hipóteses do inc. I dizem respeito à guerra e calamidade, que são situações urgentes e relevantes.
Acaso fosse preciso observar o princípio da anterioridade nestas circuns-tâncias, quando o empréstimo fosse cobrado, já se haveria perdido a guerra, ou a calamidade já teria feito um enorme estrago.
Sei que este assunto é bastante polêmico, e a qualquer conclusão que se chegue, dificilmente, haverá a unanimidade.
Também por isto, e em face das várias implicações que deste tema poderão decorrer, consagrarei, em um outro espaço, um tratamento mais minudente.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 109
Quanto à utilização da medida provisória, em matéria penal tributária, parece imperioso concordar com Francisco de Assis Toledo, em seus Princípios Básicos de Direito Penal, quando afirma que não pode haver a instituição de crime ou pena (direito penal e processual penal), nem tampouco a agravação das mesmas, por esta via. Além do mais, é imperativo que se evitem os abusos.
São estas as suas palavras em torno do caráter quase ilimitado de criação de novas figuras típicas, e o que isto representaria contra a liberdade em seus diferentes matizes, precipuamente contra a liberdade de locomoção
É o Autor (TOLEDO, 1994, p. 24-25):
A Constituição de 1988, no art. 62, substitui o decreto-lei pela medida provisória, sem tradição no direito brasileiro, e não estabeleceu, de modo expresso, os limites objetivos para a edição desta última, exigindo apenas ‘relevância e urgência, requisitos genéricos e pouco confiáveis. (Ora, a medida provisória, por não ser lei, antes de sua aprovação pelo Congresso, não pode instituir crime ou pena criminal (inciso XXXIX) [...] Sendo assim, não se faz necessária muita acuidade para perceber que a criação de figuras penais e até a simples agravação de penas através de medida provisória poderiam prestar-se para coisas desta natureza: a) extirpação da liberdade de ir e vir, através da prisão em flagrante por crimes recém-criados, por medidas provisórias; b) extirpação da inviolabilidade da residência e do sigilo da correspondência, nas mesmas hipóteses, pondo por terra as garantias dos incisos XI, XII e XV, já que a possibilidade de criação de tipos penais novos é quase ilimitada.
E, continua o ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, relatando a sua preocupação com o exagero e o abuso na utilização do instituto das medidas provisórias, realçando as atrocidades que, infelizmente, foram cometidas a título de cumprimento de alguns decretos-leis, uma versão antiga e agressiva das “leis do Executivo brasileiro”.
Nas suas exatas palavras (TOLEDO, 1994, p. 24-25):
Aos brasileiros que, nos dias de hoje, assistem atônitos à edição em série dessas medidas provisórias, é bom lembrar de que, por decreto-lei, já tivemos ‘leis’ de segurança nacional, o que poderá

110 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
sugerir, a qualquer momento, uma tentativa de recaída nessa linha de orientação, desta feita obviamente por ‘medida provisória.
Aliada a estes argumentos, veio a Reforma Constitucional de setembro de 2001 que, no art. 62, § 1º, inc. I, al. “b”, veda a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal, processual penal e processual civil.
3. da hierarquia entre leis ordinárias e complemen-tares. análise e jurisprudência
Como uma forma de fixação de segurança, no Brasil, certamente um tema mereceu, e ainda merece, destaque, conforme as implicações jurisprudenciais que relatarei após a explicação do assunto a que me refiro.
Trata-se de saber se a “lei complementar” detém hierarquia sobre a “lei ordinária”. Há aqueles que pensam que sim.
Basicamente, são dois os motivos que apresentam.
I. o quórum de aprovação da lei complementar é superior ao da lei ordinária.
Sobre a lei ordinária, dispõe o art. 47, do Texto Constitucional:
Título IV. DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. Capítulo I – DO PODER LEGISLATIVO. Seção I- DO CONGRESSO NACIONAL: Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
Sobre a lei complementar, dispõe o art. 69, do Texto Constitucional: “Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.”;
II. o dispositivo constitucional que se refere ao processo legislativo traz as leis complementares logo abaixo das Emendas Constitucionais, deixando as leis ordinárias para depois.
É o art. 59, da Constituição do Brasil, que trata das Disposições Gerais do processo legislativo, e tem a seguinte redação:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I - emendas à Constituição; II- leis complementares; III- leis

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 111
ordinárias; IV- leis delegadas; V- medidas provisórias; VI- decretos legislativos; VII- resoluções. Parágrafo Único. Lei Complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Pessoalmente, não me perfilho entre aqueles que defendem esta hierarquia, pelo menos com base nestes dois fundamentos. De fato, pragmaticamente, é enganoso pensar que o quórum qualificado seja uma nítida dificuldade de empeço. Por vezes, e sobre um mesmo assunto, pode ser mais difícil aprovar uma lei ordinária do que uma Emenda Constitucional. Exemplifico. Certas matérias estão na vala da competência privativa para a iniciativa de encaminhamento de projetos de lei. Logo, se a autoridade competente não a encaminha, não adianta possuir o quórum parlamentar necessário, simplesmente porque o projeto de lei não será encaminhado.
O motivo para esta tomada de posição é o de que considero que se a Constituição atribui um assunto para a seara da lei ordinária, e, mesmo assim, o legislador dispõe mediante lei complementar, a matéria não deixará, por isto, de estar reservada à lei ordinária.
Logo, atendendo à própria Constituição, esta lei havida, formalmente, como complementar, pode ser, perfeitamente, alterável por lei ordinária.
O cerne da questão, portanto, não é o de se a lei complementar mantém hierarquia sobre a ordinária; mas o de que os espaços fixados constitucionalmente devem ser observados pelo legislador inferior.
Do que até aqui foi dito, retiro duas conclusões: 01) se a Constituição atribui um assunto para a lei ordinária, e o mesmo é tratado por lei complementar, esta deverá ser havida como se lei ordinária fosse, podendo ser modificada pela via ordinária, sem restrição de quórum; 02) se a Constituição atribui um assunto para a lei complementar, e o mesmo é tratado por lei ordinária, esta deverá ser havida como inconstitucional.
Evidentemente que, do ponto de vista estritamente formal, a partir da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 (e de outras que a sucedam e que tenham a mesma natureza), que regulamenta o Parágrafo Único do art. 59, da Constituição do Brasil, de outubro de 1988, havendo surgido a disciplina

112 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
nacional para a confecção legislativa, as normas elencadas, no art. 59, inclusive as leis complementares e as ordinárias, devem se submeter aos predicamentos fixados.
Não se trata, portanto, de hierarquia quanto ao conteúdo, mas de uma necessidade de uniformização da técnica formal de legislar.
Embora não utilizando os mesmos argumentos, disponibilizo para o leitor, Paulo de Barros Carvalho, que, assim se manifestou, com o apoio de José Souto Maior Borges, sobre o tema da hierarquia da lei complementar, ressaltando que não é a topologia normativa, nem tampouco o mero procedimento que transforma “acordos dilatórios” práticos em estruturas normativas hierarquizadas.
Eis o filósofo-tributarista Paulo de Barros Carvalho (1991, p. 134-136):
É excelente instrumento de legislação nacional, alcançando, conjun-ta ou isoladamente, a esfera jurídica das pessoas políticas de direito constitucional interno. Talvez por isso seja freqüente o magistério de que as leis complementares desfrutem de supremacia hierárquica relativamente às leis ordinárias, quer pela posição que ocupam na lista do art. 59 (CF), vindo logo abaixo das emendas à Constituição, quer pelo regime de aprovação mais severo a que se reporta o art. 69 (CF). Foi José Souto Maior Borges (Lei Complementar Tributária, Revista dos Tribunais, 1975, p. 54 e s.) quem pôs a descoberto as erronias dessa tese, baseada, rudimentarmente, na topologia do enunciado legal e no procedimento legislativo preconizado para a edição dessas normas. Com argumentos sólidos, demonstrou que as leis complementares não exibem fisionomia unitária que propicie, em breve juízo, uma definição de sua superioridade nos escalões do sistema. De seguida, propõe critério recolhido na Teoria Geral do Direito, para discernir as leis complementares em duas espécies: a) aquelas que fundamentam a validade de outros atos normativos; b) as que realizam sua missão constitucional independentemente da edição de outras normas.
E o mesmo autor arremata que é a própria Constituição que define a existên-cia, caso a caso, da hierarquia entre as normas a ela subalternas (CARVALHO, 1991, p. 134-136):
Trazendo essa diretriz para o setor que nos interessa, ganha outro aspecto a questão da hierarquia, tornando legítimo asseverar que,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 113
em alguns casos, a lei complementar subordina a lei ordinária, enquanto noutros descabem considerações de supremacia nos níveis do ordenamento, uma vez que tanto as complementares como as ordinárias extratam seu conteúdo diretamente do texto constitucional.
No entanto, diante da Constituição do Brasil, de outubro de 1988, fez questão de frisar a vinculação de todas as normas do sistema à estrutura construtiva da norma prevista no Parágrafo Único, do art. 59, do Texto Constitucional (CARVALHO, 1991, p. 140):
Quanto à hierarquia da lei complementar é que devemos registrar a novidade, pois, assim que forem editados os preceitos a que alude o parágrafo único do art. 59, a lei ordinária e as que lhe forem equiparadas ficarão a ela submetidas, sob o ângulo formal. No que tange ao conteúdo, permanece tudo como antes.
O dispositivo mencionado diz o seguinte: “Art. 59. [...] Parágrafo Único. Lei Complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.”.
Esta lei já existe. É a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Cabe, então, aproveitar esta oportunidade, e apresentar três das mais importantes questões levadas ao Poder Judiciário brasileiro sobre este assunto.
Duas delas suscitam a questão de uma lei ordinária válida, de acordo com a Constituição antecedente, vir a ser recepcionada como lei complementar, de acordo com a nova Constituição, deixando de poder sofrer, por isto, alteração por lei ordinária.
São as questões cogitadas: a discussão sobre o Programa de Integração Social (PIS); a polêmica sobre a quebra do sigilo bancário e a natureza jurídica da lei do Código Tributário Nacional.
Apresentarei Arestos sobre cada um destes temas. O critério de seleção foi o da clareza de exposição do problema. (Observação: como se poderá constatar, ainda está muito em voga, no Judiciário nacional, o entendimento da existência de hierarquia entre a lei complementar e a ordinária).

114 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
4. do programa de integração social
Aqui, o Tribunal concluiu no sentido de que a Constituição anterior do Brasil não exigia lei complementar para tratar deste assunto. No entanto, em face do entendimento dominante na época, optou-se por ela. Ocorre que a mesma foi alterada como lei ordinária, suscitando o problema da hierarquia e da pertinência constitucional deste procedimento.
É a Decisão (Argüição de inconstitucionalidade em Apelação de Mandado de Segurança nº 400200, 1989, Rio Grande do Sul, Pleno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. DJ 14.11.90, p. 27126. Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, p. 54. Relator para o Acórdão Juiz Paim Falcão. Decisão por maioria) que, até hoje, no início de um novo século, ainda vem servindo de precedente para o deslinde das demandas judiciais remanescentes neste tema:
A edição de lei complementar só é inafastável quando a Constituição expressamente prevê. O Programa de Integração Social foi criado para atender mandamento constitucional, constante do art. 165, inc. V, da Constituição de 1967, redação da Emenda nº 01/69. Ora, tal dispositivo constitucional – art. 165 – exigia, para a implementação dos direitos nele mencionados, a existência de lei, não de lei complementar. A criação do PIS, via lei complementar, a de nº 07/70, deveu-se a entendimento, dominante à época, de sua edição, de que a contribuição para o aludido programa tinha natureza jurídica de tributo. Assim, para que não fosse desatendido o comando do art. 62, § 2º., da Constituição então vigorante, editou-se a mesma. Porém, com a vigência da Emenda Constitucional nº 08/77, a contribuição para o PIS deixou de se revestir de tal natureza, como reiteradamente entendeu o Colendo Supremo Tribunal Federal. Nestas condições, a denominada Lei Complementar nº 07/70 perdeu esta hierarquia, devendo-se ter a mesma como lei ordinária. Ora, se passou a ter a hierarquia de lei ordinária, é possível a sua alteração pela via do decreto-lei, técnica de expressão da ordem jurídica então vigente, de igual posição, como seguidamente entendeu a jurisprudência. Inocorrente, desta forma, lesão ao princípio da hierarquia das leis. A expressão ‘finanças pública’, empregada no inc. II, do art. 55, da Constituição revogada, não tem uma conotação restritiva, no sentido de que se refere, exclusivamente, aos recursos monetários administrados pelo Estado em seu próprio interesse. No Estado moderno, a expressão também abarca aquela soma de dinheiro

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 115
que o Estado administra, por expressa disposição de lei, mas que só mediatamente é do seu interesse. O Programa de Integração Social visa assegurar aos trabalhadores a participação no lucro das empresas, que será maior na medida em que for crescente o desenvolvimento econômico nacional. Ora, tal crescimento implementa-se através de planos nacionais de desenvolvimento que, aplicando os recursos obtidos com a contribuição para o PIS, provocará o crescimento deste. Refere-se ele, pois, a um aspecto de macro-economia, afetador do desenvolvimento nacional e, via de conseqüência, dizendo respeito às finanças públicas, cujo regramento era possível, na ordem constitucional então vigente, por meio de decreto-lei.
5. do sigilo bancário
Aqui, além de haver uma discussão sobre o princípio do devido processo legal, concluiu-se que uma lei ordinária válida, de acordo com o sistema constitucional anterior, poderá, perfeitamente, vir a ser recepcionada como lei complementar, de acordo com o novo ordenamento encimado pela nova Constituição; não podendo, daí, vir a sofrer alteração por lei ordinária.
É a Decisão (Remessa de Ofício nº 3105940, 1994, São Paulo. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 4ª Turma. DJ 31.10.95, p. 75041. Relatora Juíza LUCIA FIGUEIREDO. Unânime):
A Lei nº 4.595/64, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a ter força de lei complementar, não podendo ser alterada pela Lei nº 8.021/90, ordinária, e, pois, de hierarquia inferior. No entanto, se assim não for, não basta o início do procedimento fiscal, fazendo-se necessário que se observe o princípio constitucional do devido processo legal. A simples menção da abertura do procedimento fiscal, sem a comprovação de que o contribuinte sequer teria sido cientificado de sua deflagração, importa em exonerar a instituição financeira do dever de fornecer as informações solicitadas pela autoridade fiscal, abrigando-se na proteção do sigilo bancário.
Ocorre que o tema do sigilo bancário, e as polêmicas em torno dele, receberam importante revigoramento com a política brasileira de combate à sonegação de

116 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
tributos; o que implicaria dizer, acaso haja sucesso nesta iniciativa, que a carga tributária daqueles que atualmente já pagam os seus tributos regularmente pode vir a baixar, pelo singelo motivo de que se todos pagam, é possível reduzir a carga tributária individual, sem prejuízo da carga tributária geral, não inviabilizando as necessárias despesas do Estado.
Foi a Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, a revitalizadora das discussões; pois, no ponto de vista dos que por ela propugnam, na verdade não se estaria quebrando sigilo algum; mas apenas repassando dados das instituições financeiras para a Fazenda Pública; e, também ela, deveria guardar o respectivo sigilo.
Assim, haveria apenas uma transferência de sigilo. Dos bancos para a Fazenda. Uma transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal.
6. do código tributário nacional
O Código Tributário Nacional foi votado como lei ordinária, pois assim se permitia no ordenamento encabeçado pela Constituição de setembro de 1946. Ocorre que foi recepcionado como lei complementar pela Constituição de janeiro de 1967, não cabendo mais alterá-lo pela via ordinária, mas tão-somente pela complementar.
Esta questão suscitou grande interesse, pois o Código Tributário Nacional é de 25 de outubro de 1966, advindo, logo a seguir, uma nova Constituição.
Se a conclusão não fosse afirmativa pela sua recepção, haveria a necessidade de um novo Código.
A Decisão que vai a seguir não é a que primeiro consagrou o entendimento da recepção, mas esclarece o ocorrido, ao analisar outra importante discussão, que foi a da validade da contribuição sobre os lucros das empresas.
O Acórdão (Argüição de Inconstitucionalidade em Apelação de Mandado de Segurança nº 404947, 1991, Rio Grande do Sul. Pleno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. DJ 16.09.02, p. 28.541), em suma, registra que, mesmo uma lei votada como se ordinária fosse (Código Tributário Nacional), mas recepcionada por um novo sistema constitucional que lhe atribui o jaez de

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 117
complementar, não pode vir a ser regularmente modificada pela via da legisla-tura ordinária, simplesmente porque, se assim se fizesse, restaria descumprido o novo comando constitucional:
Reconhecido ser o Código Tributário Nacional lei ordinária, mas com força de lei complementar, configura-se hipótese de inconstitucionalidade, e não de ilegalidade, já que usurpada competência reservada pelo Texto Maior àquele diploma. Precedentes do extinto Tribunal Federal de Recursos no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 89825/Rio Grande do Sul e do Colendo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário nº 101084/Paraná. Questão preliminar que, por maioria, é rejeitada. Estabelecendo, o art. 35, da Lei nº 7.713/88, que os lucros das pessoas jurídicas, ainda não distribuídos, sofrerão tributação na fonte pelo imposto de renda, viola o disposto no art. 43, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), posto que cria nova hipótese de fato gerador, diversa das previstas em texto de maior hierarquia. Em assim estabelecendo, o texto – art. 35, da Lei nº 7.713/88 – violentou o princípio da hierarquia das leis, constitucionalmente estabelecido no art. 59, da Lei Maior.
Ainda sobre a importância da lei, destaco o trecho do discurso proferido pelo Ministro Celso de Mello, na solenidade de sua posse como Presidente do Supremo Tribunal Federal, realizada, em Brasília/Distrito Federal, no dia 22 de maio de 1997:
Uma Constituição escrita – e assim tenho enfatizado em diversas decisões proferidas nesta Suprema Corte – não configura mera peça jurídica, nem representa simples estrutura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na vida dos Povos e das Nações. A Constituição reflete um documento político-jurídico da maior importância, sob cujo império protegem-se as liberdades e impede-se a opressão governamental. A Constituição é a lei fundamental do Estado. Nela, repousam os fundamentos da ordem normativa instaurada pela comunidade estatal. A normatividade subordinante que dela emerge atua como pressuposto de validade e de eficácia de todas as decisões emanadas do Poder Público. O estatuto constitucional, na pluralidade dos fins a que se acha vocacionado, reflete o momento culminante da

118 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
instauração de uma ordem normativa revestida do mais elevado grau de positividade jurídica. (MELLO FILHO, 1997, p. 69-84).
Por tudo o que vem sendo estudado quanto à legalidade, é pertinente a preocupação demonstrada pelo Ministro Celso de Mello, que, na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, fez registrar a sua indignação a respeito da impunidade dos crimes transnacionais (um dos caminhos de combate à ação internacional criminosa é a permuta de informações, relativizando o sigilo). Seguindo esta linha de raciocínio, cito duas importantes leis brasileiras:
I. Lei nº 10.174, de 09 de janeiro de 2001, art. 1º:
A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
II. Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, alterando o art. 199, do Código Tributário Nacional: “A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos”.
Falando sobre a ausência de efetiva reação estatal ao\ desrespeito sistemático das leis, raciocina o Ministro, dizendo que o descumprimento das leis reduz a autoridade do direito e leva ao descrédito as instituições.
Ora, se é assim, no plano internacional, com a mesma força e indignação, certamente, o será no plano interno.
São as palavras do Ministro (www.stf.gov.br), veiculadas aos 05 de dezembro de 1998, com o título: Íntegra do pronunciamento do Ministro Celso de Mello aos participantes do X Congresso Interamericano do Ministério Público – Parte 4, indicando que o hábito do descumprimento normativo acarreta a indignação e a indiferença das populações, e leva à derrocada a autoridade do direito, ferindo a própria dignidade de cada um e de todos:

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 119
A existência da impunidade dos crimes transnacionais e a recusa de cooperação na repressão internacional a esses gravíssimos delitos constituem sinal visível de que o Estado não está sendo capaz de realizar plenamente uma das funções para as quais foi instituído. A ausência de efetiva reação estatal ao desrespeito sistemático das leis, por parte daqueles que atuam no âmbito de organizações criminosas transnacionais, traduz omissão que frustra a auto-ridade do Direito, que desprestigia o interesse público, que gera o descrédito das instituições e que compromete o princípio da solidariedade internacional na repressão incondicional aos delitos que ofendem a consciência universal e o sentimento de decência e dignidade dos povos. Por isso mesmo, a impunidade representa preocupante fator de estímulo à delinqüência, gerando, no espírito do cidadão honesto, o sentimento de justa indignação contra a indiferença ética do Estado, que se revela incapaz ou destituído de vontade política para punir aqueles que transgridem as leis penais. (MELLO FILHO, 1998).
As palavras são fortes, tal como recomenda a gravidade da situação que se constitui com o desrespeito às leis.
A opção pelo abandono da lei é extremamente perigosa. Imagine-se se outras categorias, como, por exemplo, a dos militares (Forças Armadas), viessem a se filiar ao “direito alternativo”, partindo para a conclusão de desconsiderar o direito legislado.
Tenho comigo que, ao contrário do que alguns possam imaginar, grande par-te dos problemas jurídicos, que, atualmente, assolam o Poder Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, não são aqueles provenientes dos leigos, mas os decorrentes daqueles que têm conhecimento jurídico, e deveriam chegar, por si sós, a um consenso.
Esta é a minha insistência: a forma democrática de viabilizar a segurança é a lei, que precisa atender aos limites constitucionais.
Em verdade, há quem acredite que a maior entre as manifestações políticas do Estado é a função de elaborar a lei, pois, tanto a função executiva quanto a judiciária, não seriam mais do que de aplicação legal.
Neste quadrante, é de se concordar com Hans Kelsen (1958, p. 326), que, em sua Teoria Geral do Direito e do Estado, sob o título “Independência dos Juízes”,

120 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
aponta a similitude entre estas duas funções (executiva / judiciária), atribuindo a razões históricas a existência das diversas denominações.
Enfim, a lei é um instrumento assecuratório de liberdade, e assim foi reconhecida, por exemplo, no art. 4º da Declaração de Direitos de 1789, que diz:
A liberdade consiste no poder de fazer tudo o que não ofende outrem; assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites além daqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo destes mesmos direitos. Estes limites não podem ser estabelecidos senão pela lei. (FRANÇA, 1789)
Poder-se-ia pensar que esta afirmação – a lei como um instrumento assecuratório de liberdade – apenas teria incidência para o particular, onde o princípio da legalidade termina por ser resumido na frase “pode fazer tudo, desde que a lei não proíba”, e não em relação ao exercício das atividades próprias à Administração Pública, onde a frase seria “só é permitido fazer aquilo que a lei determina”.
Ocorre que, tanto na afirmação de que se pode fazer tudo, desde que a lei não proíba; quanto, também, na afirmação de que só é possível fazer aquilo que a lei determina, encontra-se o mesmo espírito, o mesmo fim.
O objetivo é um só, ou seja, o de evitar imposições sem base legal. Assim, o administrador público e o juiz não devem ser avistados como senhores que podem fazer tudo, porquanto sejam servidores da lei.
E não basta atender à legalidade, desvirtuando-a através de interpretações de conveniência e oportunidade. É preciso conformá-la à moralidade e à finalidade administrativas.
Ou, como diz Hely Lopes Meireles, em seu Direito Administrativo (2014, p. 78-79):
Cumprir simplesmente a lei na frieza do seu texto não é o mesmo que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração, por isso, deve ser orientada pelos princípios do direito e da moral, para que ao legal se ajunte o honesto e o conveniente aos interesses sociais.
Foi, neste sentido, que o art. 37, da atual Constituição da República Federativa do Brasil, que trata da Administração Pública, anexou ao princípio da

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 121
legalidade, princípios como o da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência.
Isto porque não basta a segurança pela aplicação da lei. É necessário que se busque a interpretação que melhor atenda aos interesses sociais.
São tentativas constantes de se fixar expressões objetivas para a realização dos valores.
Feitos todos estes comentários sobre o princípio da legalidade, especialmente verificado no contexto do Brasil, é necessário continuar demonstrando os critérios permeadores das providências objetivas que demarcam o princípio da segurança jurídica.
Antes disto, no entanto, peço que se observe o quanto é importante a es-tabilidade legislativa. Por vezes, passa-se anos construindo uma jurisprudência sobre uma matéria polêmica, e, quando a mesma começa a dar sinais de pacificação, vem o legislador e a altera, começando tudo de novo.
Também quanto à jurisprudência, embora não haja direito adquirido à manutenção da mesma - pois até a súmula pode ser revista -, na medida em que revela o direito na prática, proclamando uma interpretação como assente, é de ser alterada, se este for o caso, com cautela.
Entre as 621 (seiscentos e vinte e uma) Súmulas do Supremo Tribunal Federal, aponto uma que foi cancelada e outra que vem sofrendo abrandamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, o segundo maior tribunal do país.
A cancelada é a de nº 301. Era a Súmula nº 301: “Por crime de responsabili-dade, o procedimento penal contra prefeito municipal fica condicionado ao seu afastamento do cargo por impeachment, ou à cessação do exercício por outro motivo.”
Aquela que vem sendo abrandada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de nº 621. É a Súmula nº 621: “Não enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis.” Quanto a esta última, o Boletim de Jurisprudência nº 27/92, p. 73, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, caminha no mesmo sentido de aplacamento.

122 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
7. conclusões
O Poder Constituinte originário detém supremacia sobre todas as normas que lhe são anteriores e posteriores. As normas anteriores, incompatíveis com o novo Estado que se funda com a nova Constituição, não poderão vir a ser recepcionadas, nem mesmo sob o escudo do direito adquirido.
A estabilidade constitui condição fundamental de eficácia da Constituição. O descumprimento das leis reduz a autoridade do direito e leva ao descrédito as instituições. É, profundamente, importante a estabilidade legislativa. Por vezes, passam-se anos construindo uma jurisprudência sobre uma matéria polêmica, e, quando a mesma começa a dar sinais de pacificação, vem o legislador e a altera, começando tudo de novo.
Toda norma é uma tomada de posição perante fatos, e em função de valores. Em relação àqueles que defendem que a legalidade pode constituir um entrave, devendo ser superada com a utilização dos princípios gerais do direito, que estariam acima do direito positivado, lembro de que, se isto for feito em primeira instância, certamente virá o recurso, e, provavelmente, a decisão será reformada.
Todos os dispositivos constitucionais que instituam garantias buscam, em análise derradeira, assegurar direitos, segurança. A pretensão da segurança está sempre presente, logo, ao se falar em segurança, também se está falando em legalidade, irretroatividade, isonomia, inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal e ampla defesa, anterioridade, anualidade etc.
Entendo a segurança como um instrumento de busca da justiça, e daí o seu caráter fundamental. Existe uma relação de complementariedade entre a segurança e a justiça.
Há impossibilidade de se compatibilizar a urgência, que é uma característica constitucional da medida provisória, com a exigência, também constitucional, de se esperar o próximo ano para instituir ou aumentar o tributo (anterioridade). Logo, não cabe a utilização de medidas provisórias nos tributos vinculados à observância do princípio da anterioridade. No Brasil, pela Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001, fixou-se expressamente a vedação de edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar (art. 62, § 1º, inc. III), e, entre elas, está o empréstimo compulsório (art. 148).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 123
A despeito da doutrina brasileira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que o prazo requisitado pelo princípio da anterioridade tributária deveria considerar o período a partir da primeira edição da Medida Provisória, acaso ela venha a ser convertida em lei.
Quanto ao princípio da irretroatividade, é necessário que não consista apenas em não se aplicar a lei nova ao fato antigo. Ele deve, também, ser entendido no sentido de que não se pode aplicar a nova interpretação da lei antiga a um fato que preceda esta nova interpretação, acaso, naturalmente, venha a implicar em prejuízo para o indivíduo. Isto, em nome da segurança das relações.
O princípio da segurança jurídica precisa ser visto como um instrumento aliado à busca de se fazer justiça. Neste diapasão, concluí pela necessidade de aplicação da lei. Mais do que isto, pois é necessário aplicar a lei de maneira que ela não retroaja de modo a prejudicar o indivíduo. Às vezes, além disto, deve ser dado um prazo especial de espera para que a norma venha a ser aplicada (por exemplo, em matéria tributária). Além do mais, não há segurança sem igualdade, e a igualdade pode ser relativamente objetivada, seguindo critérios que não podem fugir à sindicabilidade administrativa e judicial. Ocorre que o caminho a ser percorrido pela Administração, ou pelo Poder Judiciário, não pode ser ao acaso. É preciso o estabelecimento de normas processuais preexistentes, de maneira a não provocar surpresa ao indivíduo, não deixando espaços abertos para o arbítrio.
Creio que a inflação legislativa, no campo tributário, promove não somente o acirramento da elisão, enquanto um planejamento para pagar menos tributos sem que se pratique infrações, mas apresenta amplas possibilidades para abusos de formas e simulações. É preciso consolidar a jurisprudência, dentro da trilogia “uniformidade”, “determinabilidade” e “segurança”. Para conseguir isto, é neces-sário estabilidade na legislação.
Em matéria tributária, é preciso refletir sobre o caráter ético de realizar alterações legislativas em períodos próximos às eleições, de ordem que os efeitos da mudança sejam sofridos não pelos atuais titulares do poder, mas por outros, talvez os da oposição.
Para terminar, reflito que de pouco valem as doutrinas, as leis, as Constituições; tudo enfim, se não existirem pessoas que queiram aplicá-las.
É claro que esta é uma tarefa em permanente evolução.

124 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
8. referências
ALESSI, Renato; STAMMATI, Gaetano. Istituzioni di Diritto Tributario. Torino: Unione Tipografica, [s.d].
ALTERINI, Atilio Anibal. La inseguridad juridica. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993.
AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. v. I. Coimbra: Livraria Almedina, 1986.
______. Direitos fundamentais dos administrados in Nos Dez Anos da Constituição (organização de Jorge Miranda). Lisboa: Imprensa Nacional, 1986.
______. Direito Administrativo. v. II. A edição corresponde à revisão das suas lições de 1983/84, levando em conta a publicação do primeiro volume do Curso de Direito Administrativo (Coimbra 1986). Lisboa, 1988.
AMOROS, Narciso. Derecho Tributario (Explicaciones). Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1963.
ANDREOZZI, Manuel. Derecho Tributario Argentino. Buenos Aires: Tipo-gráfica Ed. Argentina, 1951.
ARAGON, Manuel. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre leys relativas al regimen local, anteriores a la Constitución. Extraído da Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid. v. I de jan/abril de 1991.
BASSAS, J. J. Perulles. Leciones de Derecho Fiscal. Barcelona: José Maria Bosch, 1957.
BECKER, Enno. La elaboración autónoma de los principios del derecho tributário. In: Estudos del Centro de Investigaciones de Derecho Finan-ciero, 1941.
BELSUNCE, Horácio A Garcia. La interpretación de la ley tributaria. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1959.
BOBBIO, Norberto. Principi Generali di Diritto, in Nuovissimo Digesto Italiano, t. XIII, Turim: UTET, [ s.d].

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 125
BORGES, José Souto Maior. Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975.
BREWER, Allan R. Estado de Derecho y Control Judicial. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1987.
BRYCE, James. Constituciones Flexibles y Constituciones Rigidas. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1962.
BÜHLER, Ottmar. Princípios de Derecho Internacional Tributário. Trad. Fernando Cervera Torrejon. Madri: Derecho Financiero, 1968.
CARNELUTTI, Francesco. Teoria Generale del Diritto. 3. ed., Foro Italiano, 1951.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
COING, Helmut. Fundamentos de Filosofia del Derecho. Trad. de Juan Manuel Mauri. Espanha: Ariel, 1976.
CAMPOS, Diogo Leite de e CAMPOS, Mônica Horta Neves Leite de. Direito Tributário. Coimbra: Livraria Almedina, 1996.
CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías. Ordenamiento tributario español. Ma-drid, 1970.
DABIN, Jean. Teoría general del derecho. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955.
DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
______. Os Conceitos de Renda e de Patrimônio. Belo Horizonte: Del Rey, 1992.
______. Princípio da Praticabilidade do Direito Tributário. Revista de Direito Tributário: Segurança Jurídica e Tributação, [S.l.], v. 47, 1995.
ESTÉVEZ PAULÓS, José. La Constitución y la irretroactividad de las leys tributarias, en Memoria de las X Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios Tributarios, Montevideo, 1984.

126 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
FERNÁNDEZ, José Luis Palma. La Seguridad Jurídica ante la abundancia de normas. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1997, p. 26-27.
FERANDEZ SEGADO, Francisco. El sistema constitucional espãnol. Ma-drid: Dytson, [s. d.].
FREYTES, Roberto. El principio de la irretroactividad de las leys y los reglamentos en materia tributaria, em Memoria de las X Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios Tributarios. Montevideo, 1984.
FOUCAULT, Michel. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Madrid, 1981.
FRANÇA. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 11 jun. 2014.
GARCIA MARTINEZ, Maria Assuncion. Nueve anõs de Jurisprudencia Constitucional. Extraído da Revista de la Facultad de Derecho de La Universidad Complutense – 1s – Monográfico. Madrid, 1989.
GOMES, Nuno Sá. As situações jurídicas tributárias. In: Cadernos de Ciên- cia e Técnica Fiscal. Lisboa, 1969.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 15. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012.
______. Conceito de Tributo e Fontes do Direito Tributário. São Paulo: Co. Ed. Ibet e Resenha, 1975.
______. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito, 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
ITÁLIA. Constituição da República italiana. Disponível em: <http://www.tudook.com/abi/constituicao_italiana.html. Acesso em 11 jun. 2014.
JARACH, Dino. Fundamentos de la retroactividad o la irretroactividad de la norma tributaria, in Memoria de las X Jornadas Luso-Hispano-Ame-ricanas de Estudios Tributarios, Montevideo, 1984.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 127
______. El hecho imponible. 1. ed., Buenos Aires, 1943.
______. La teoria financiera de Benvenuto Griziotti, ensaio incluído como introdução na obra de Griziotti – Principios de ciencia de las finanzas. Buenos Aires, Edic. Depalma, 1959.
______. Curso superior de derecho tributario. Buenos Aires: Cima, 1957.
______. Finanzas públicas y derecho tributario. Buenos Aires: Cangallo, 1983.
KELSEN, Hans. Teoria General del Derecho y del Estado. Tradução Eduardo Garcia Maynez. 2. ed. rev. México: Imprenta Universitaria, 1958.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 9. ed. 2. tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40. ed., São Paulo: Saraiva. 2014.
MELLO FILHO, José Celso de. [Discurso do Senhor Ministro Celso de Mello, Presidente]. In: SOLENIDADE de Posse dos Ministros José Celso de Mello Filho, na Presidência e Carlos Mário da Silva Velloso, na Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal: sessão solene realizada em 22-05-97. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 1997. p. 69-84.
______. [Pronunciamento do Ministro Celso de Mello aos Participantes do X Congresso Interamericano do Ministério Público. Parte 4]. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 05 dez. 1998.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo V – Actividade Constitucional do Estado. Coimbra: LDA, 1997.
______. A transição constitucional brasileira e o anteprojecto da Comissão Afonso Arinos. Lisboa. Extraído da Revista Jurídica da Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, Nova Série, nº 9-10 (jan.- jun 1987).
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e Discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO. Celso de Melo fala do uso excessivo de medidas provisórias pelo Go-

128 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
verno. Disponível em: <http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/Cli ppingJurDetalheEmail.asp?id_noticias=7225>. Acesso em: 10 jun. 2014.
OTERO, Paulo Manuel. O Brasil nas Côrtes Constituintes Portuguesas de 1821- 1822. Lisboa. Separata da Revista “ O Direito” – Ano 120º, 1988.
______. Declaração Universal dos Direitos do Homem e Constituição: a inconstitucionalidade de normas constitucionais? Lisboa. FDL – Separata da Revista “ O Direito” – ano 122 nº 3-4, 1990.
______. Autorizações Legislativas e Orçamento do Estado. Lisboa. Separata da Revista “O Direito” , Ano 124º, 1992.
PASCUAL, Cristina García. Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1997.
PEREZ DE AYALA, José Luiz. Derecho Tributario. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1968.
PEREZ DE AYALA, José Luiz; GONZALEZ, Eusebio. Curso de Derecho Tributario (I). Madrid: EDERSA, 1975.
RUSSO, Pascuale. Lezioni di Diritto Tributario – I, Parte Geral. Milano, 1992.
SALAZAR, António de Oliveira. Da não-retroatividade das leis em matéria tributária.
BFD, ano IX (1925-1926), reimpresso em Estudos de Direito Fiscal. Ministério das Finanças. Lisboa, 1963.
SOUSA, Marcelo Rebelo de. Lições de Direito Administrativo I. Lisboa: Pedro Ferreira Editor, 1994-1995.
______. Direito Constitucional I – Introdução à Teoria da Constituição. Braga: Livraria Cruz, 1979.
STARCK, Christian. El Concepto de ley en la Constitucion Alemana. Tra- dutor de Luis Legaz Lacambra. Madrid. Centro de Estudios Constitu-cionales, 1979.
SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Medidas Provisórias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 129
TESORO, Giorgio. Principi di diritto tributario. Bari: Luigi Macri, 1938.
TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
VECCHIO, Giorgio del. Los principios generales del derecho. 3. ed. Barce-lona: Bosch, 1971.
WITTHAUS, Rodolfo Ernesto. Poder Judicial Alemán (Tribunal Federal de Constitucionalidad. Controlator Normativo. Apelaciones al legislador). Buenos Aires: AD-HOC, 1995.
WOLFE, Christopher. La Transformacion de la Interpretacion Constitu-cional. Tradutores María Gracia Rubio de Casas e Sonsoles Valcárcel. Pri-mera edición. Espanha. Editorial Civitas, 1991.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 131
a participação do cidadão na gestão dos recursos hídricos: estudo
entre brasil e espanha
Beatriz Souza Costa1
Maraluce Custódio2
CAPES3
Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar a implementação da participação popular nas definições de uso e gestão das águas entre Brasil e Espanha. O estudo foi desenvolvido com metodologia dedutiva-indutiva com técnica de pesquisa bibliográfica de forma comparada. Ao tratar especificamente de participação no Brasil a Lei 9.433/97 estabelece o sistema de Comitê de bacias hidrográficas composto por ampla representação da sociedade, de outro lado o sistema espanhol se mostra complexo e com pouca representatividade. Por isso, afirma-se que a participação pública nas políticas de gestão de uso de águas na Espanha somente ganha força com a recepção da DMA/2000, mas por obrigação impingida pela sentença do Tribunal de Justiça Europeu.
Palavras-chave
Águas; Legislação brasileira; Legislação espanhola; Participação popular.
Abstract
This article aims to analyze the implementation of popular participation in defining the use and management of the waters between Brazil and Spain. The
1 Doutora e Mestre em Direito Constitucional, pela UFMG. Pró-reitora de Pesquisa na Escola Superior Dom Helder Câmara-ESDHC. Professora no Mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (ESDHC), disciplina Direito Constitucional Ambiental.
2 Doutora em Geografia e Mestre em Direito Constitucional, UFMG. Professora no Mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior Dom Helder Câmara-ESDHC.
3 Especial agradecimento à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio financeiro recebido. Edital para apoio em eventos no exterior, processo AEX 6712/14-2, na participação deste evento na cidade de Barcelona/ES, 2014.

132 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
study was developed with inductive-deductive methodology of technical litera-ture on a comparative basis. To deal specifically with participation in Brazil’s Law 9.433/97 establishes the system of watershed committee composed of a broad representation of society, on the other hand the Spanish system is complex and shows with little representation. Therefore, it is argued that public participation in the political management of water use in Spain only gains strength receipt of DMA/2000 but an obligation enforced by the judgment of the European Court of Justice.
Key words
Waters; Brazilian law; Spanish law; Popular participation.
1. introdução
A implementação da participação popular na gestão da água foi o fio condutor deste artigo. Esta análise se justifica por ser os dois países de sistemas, algumas vezes, próximos no que se refere à distribuição de funções entre órgãos estatais e a determinação de participação civil de gestão e uso da água, mas neste último têm diferenças marcantes. Apesar de ser um direito garantido pela legislação, nem sempre o povo percebe a implementação desse direito. E mesmo quando ele se efetiva não há uma preocupação de dar instrumentos para sua realização de forma que cada um e todos os cidadãos possam exercer esse direito-dever de participação adequadamente.
O estudo pretende analisar se tanto o Brasil quanto a Espanha, que têm em seus arcabouços jurídicos, a inserção da participação comunitária, o fazem de forma a garantir instrumentos para a implementação desse direito-dever tão importante para a dignidade da vida humana.
Para tanto utilizar-se-á o método dedutivo-indutivo de análise e técnica de pesquisa bibliográfica comparada. Tem-se como marco teórico a percepção da participação nos trabalhos de Jesus Jordano Fraga e Joaquim José Gomes Canotilho.
O artigo demonstra todo um histórico sobre o desenvolvimento da legislação, tanto brasileiro quanto espanhol no que concerne à preocupação com a água.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 133
O Brasil, tentando gerir de forma sustentável os recursos hídricos disponí-veis, tem editado legislações que preservem e distribuam de forma adequada este recurso que se pode compreendê-lo como a vida no planeta4.
A legislação sobre recursos hídricos no Brasil remonta a década de 30 na qual obteve-se o primeiro diploma legal, Decreto 24.643, o Código de Águas em 1934. Este Código ainda está em vigor, com várias ressalvas da doutrina sobre a constitucionalidade de alguns artigos, que serão explicitados ao seu tempo.
Especificamente, sobre as águas, também foi editada em 1997 a Lei 9.433 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos –SINGREH, o qual será desenvolvido de forma mais ampla neste artigo. Com um arcabouço amplo, sobre legislação hídrica, importante verificar se há eficiência na proteção da água que é considerado primordial para a vida humana e não humana.
“O Planeta água está passando sede” (HIRATA, 2008, p.422) é difícil acreditar na afirmativa de Hirata, e a consequência dessa sede é que milhões de pessoas vivem com menos de “5 litros de água por dia, totalizando mais de 460 milhões de pessoas no mundo” (HIRATA, 2008, p.422). Tendo acesso a essas informações a responsabilidade quanto ao gerenciamento, proteção, cuidado com os recursos hídricos se mostra de vital importância.
A água é recurso natural ambiental e também tratado como recurso hídrico.
Existe uma pequena discussão na doutrina sobre essa denominação como demonstra Cid Tomanik Pompeu (2006, p.677-678) na qual entende que “Água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso ou utilização. E o gênero Recurso Hídrico é a água como bem econômico, passível de utilização com fins utilitários”.
Coaduna-se com o pensamento de Paulo Affonso (2014, p.499) no qual explicita: “ainda que não sejam conceitos absolutamente idênticos a lei também
4 É evidente a importância deste tema relacionado aos direitos humanos, no entanto compreende-se como Leilane S. Grubba, que não se pode adotar uma visão antropocêntrica ou ecocêntrica da água, ou seja, “A vida, por conseguinte, pode ser entendida como padrões de probabilidade de interconexões. Assim, uma particula é essencialmente um conjunto de relações que se estendem para se conectarem a outras coisas, que são conexões de outras, e assim por diante”. GRUBBA, Leilane Sertine. Direito Ambiental e Humano: A complexidade na questão da água. Revista Veredas do Direito. 2012; Vol.9, n. 18; p.37-57.

134 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
não fez nenhuma distinção” e portanto pode-se utilizar os termos como sinônimos.
A água, segundo Paulo de Bessa Antunes (2004, p.808) “é um daqueles elementos que nos cercam, cuja definição parece ser demasiadamente óbvia e, em razão disto, dificilmente a encontramos nos livros voltados para o estudo de seu regime jurídico”. E por essa obviedade, da ligação entre duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que nos mantém vivos, não adotar-se-á um conceito fechado desse bem ambiental água, demonstrando, no desenvolvimento do trabalho, que a e legislação também não se preocupou. Mas porque a água pode ser considerada um bem escasso, o que faz desse bem ambiental que é vital ser uma preocupação mundial?
Aldo C. Rebouças (2006, p.14) explica que “a quantidade total de água na Terra é de ordem de 1.386 milhões de km3, e de alguma forma se mantém constante durante os últimos 500 milhões de anos”, então como pensar em escassez de água? Na verdade o que modifica em todo o planeta é a distribuição, precipitação de água em que se verifica a maior abundância de água nas regiões intertropicais5 e temperadas da Terra. O autor chega à conclusão que não existe um problema de escassez de água em nível global.
Rebouças apoia essa assertiva porque existe uma má distribuição natural des-sas águas. Afirma o autor (2006, p. 14) que “ao se considerar a distribuição dos fluxos pelas zonas climáticas, verifica-se que nas zonas intertropicais úmidas e temperadas as descargas dos rios representam 98% do total do mundo”.
Para complicar a situação comprova-se também que existe a relação entre países ricos e pobres relacionado às descargas dos rios por país. Rebouças demonstra que “efetivamente, as descargas dos rios dos 9 países mais ricos em água doce (CUNHA, 2006, p.14) variam entre 6.220 bilhões de m3/ano e 1.100 bilhões de m3/ano, cujo total já representa 60% do total mundial” (CUNHA, 2006, p.14). Como não poderia faltar, na outra ponta estão os países mais pobres em água doce que têm descargas médias dos rios6 inferiores a 1 bilhão de m3/ano.
5 BRASIL. Disponível no site: <http://www.significados.com.br/zona-intertropical/>. Zona Intertropical, também conhecida como zona de convergência intertropical, é a área que circunda a Terra, próxima à linha do equador, onde os ventos originários dos hemisférios norte e sul se encontram. Acesso em 01 de junho de 2014.
6 Países: Malta; Gaza; União dos Emirados Árabes; Líbia; Líbia; Cingapura; Jordânia; Israel; Chipre. (CUNHA; 2006, p.14)

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 135
A conclusão sobre essas informações, segundo o autor,
é que o potencial de água nos rios de cada país, em termos de volume per capita ou de reservas sociais, permiti corrigir a influência das grandes diferenças de densidade de população. Melhor do que os volumes globais precedentes, essas relações caracterizam, sem dúvida, a riqueza ou pobreza de água nos países em questão. Entretanto constata-se que a distribuição das águas entre os indivíduos é muito mais desigual do que entre os países, pois há muito pouca relação entre a densidade de população e a distribuição dos potenciais de água doce de cada país. (CUNHA, 2006, p. 14-15).
Tendo em vista as informações do geólogo tem-se uma perspectiva negativa quanto à disponibilização de água de forma igualitária, para consumo humano no mundo, sem contar com dessedentação de animais.
Sem dúvida nenhuma, tendo ciência dessas informações a Assembleia Geral da ONU, com voto favorável do Brasil, reconheceu o direito humano à água e saneamento, e foi posteriormente reafirmado pelo Conselho de direitos Humanos da ONU como sendo derivado do direito a um nível de vida adequado.
O Brasil teve um histórico referente à regulamentação da água, inicialmente, fragmentado, mas modificado essa visão a partir das grandes Conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento humano, como se pode ver a seguir.
2. as águas brasileiras e sua regulamentação
O Brasil, em seu desenvolvimento histórico possui, 8 constituições as quais algumas não se ocuparam na regulamentação do bem ambiental água. Tem-se como exemplo a Constituição Imperial de 1824, outorgada por D. Pedro I, que foi omissa nessa questão, assim como a Constituição Republicana de 1891. No entanto sob os auspícios, desta Constituição, em 1916, o Código Civil estabeleceu vários artigos sobre o tema.
As Constituições de 1934 e1937 trouxeram algumas contribuições, mas sempre com considerações de propriedade privada das águas. Por sua vez, a Constituição 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 tiveram uma visão mais apropriada aproximando-se da Constituição de 1988.

136 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
2.1. água e o código civil de 1916 sob a égide da cons-tituição de 1891
Importante citar o Código Civil, revogado, de 1916, porque pela primeira vez destacou-se a propriedade das águas em seu art. 526:
A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda a altura e em toda a profundidade, uteis ao seu exercício, não podendo, todavia o proprietário opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse algum e impedi-los. (BRASIL, 1916)
Vê-se, portanto que o dono do imóvel detinha a propriedade da água, tendo em vista que ela se encontrava na parte “inferior em toda altura e profundidade” do solo. E há que se lembrar ainda que não era somente a propriedade da água que corria no local, mas de todos os minerais que ali se encontrassem. No entanto, com o advento da Constituição de 1934 houve mudanças com a edição do Decreto 24.643, o Código de Águas.
O Código de Águas foi desenvolvido a partir de uma concepção diversa do Có-digo Civil, porque teve como objetivo a energia hidráulica, e seu aproveitamento industrial. Todavia ainda remanesceu resquícios de propriedade privada da água.
2.2. o código de águas: decreto 24.643 de 1934
O Código de águas estabeleceu uma política de recursos hídricos bastante avançada para a época e muito bem estruturada, cuidando dos diversos aspectos relativos à água, como também foi o primeiro instrumento legal a tratar as águas sob o prisma do Direito Público no Brasil. Apesar de pairar, sobre alguns desses artigos, a não receptividade pela Constituição Federal de 1988.
Esse Código definiu uma série de conceitos jurídicos que foram fundamentais para o estudo do Direito. A importância desses conceitos decorrem do fato de toda a regulamentação administrativa, referente à qualidade dos recursos hídricos, que deveria levar em consideração o regime dominial ao qual as águas estavam submetidas.
De acordo com o Decreto, as águas se dividiam, em seu art. 8º, em três categorias básicas, quais sejam: públicas, comuns e particulares. Entende-se que

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 137
esta divisão não mais coexiste por não ter sido recepcionada pela Constituição de 1988, no que tange a águas particulares e também quanto às águas municipais, ou seja, todos os dispositivos na matéria pertinente à propriedade privada dos recursos hídricos foram derrogados.
O Código das Águas foi sendo superado por legislações que posterior- mente começaram a desenvolver uma visão integral do meio ambiente, como a Lei 6.938 de 1981.
2.3. a lei 6.938 de 1981: a política nacional do meio am-biente
A Política Nacional do Meio Ambiente foi editada tendo em vista os anseios de proteção ambiental, da Conferência Internacional da Nações Unidas em 1972 sobre o Ambiente Humano (COSTA, 2013, p.33). A Lei estabelece, entre outros, os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
Importante observar que no art. 8º, inciso VII, é estabelecido a proteção dos recursos hídricos de maneira particularizada, de forma que compete ao CONAMA: “Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (BRASIL, 1981).
O CONAMA é o sistema Nacional do Meio Ambiente, e nesse artigo 8º, dispõe normas gerais que podem ser especificadas em níveis federal, estadual e municipal.
Foi por meio do próprio CONAMA que em 1986 foi editada a Resolução 20 na qual estabeleceu a gestão da qualidade das águas, mas foi revogada em 2005 e substituída pela Resolução 357 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Observa-se que essa Resolução sofreu alterações pelas Resoluções 410 e 430, em 2009 e 2011, respectivamente, principalmente no que tange às condições e padrões de lançamentos de efluentes (CONAMA, 2005). No entanto, seguindo o

138 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
desenrolar da história brasileira a Constituição de 1988 dispõe da maior proteção, não somente dos recursos hídricos do país, mas em seu escopo estabelece a prote-ção de todos os recursos ambientais que pertencem a todos os cidadãos brasileiros.
A Lei 6.938 de 1981 de forma paradigmática modifica a proteção fragmen-tada que existia no país para uma proteção ampla, quando entre seus objetivos visa a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, e em 1988 a Constituição da República estabelece sobre os princípios fundamentais do Direito Ambiental, conjuntamente garantindo o direito e dever da coletividade em defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Com essa assertiva, a Constituição exige que os cidadãos participem efetivamente na proteção do meio ambiente.
2.4. a constituição da república federativa do brasil de 1988 e a proteção das águas
No limiar do século XXI, mas ainda no século XX, a Constituição brasileira adota uma visão contemporânea e põe a termo qualquer interpretação das águas como um recurso privado, porque agora elas estão consagradas como bens da União modificando o domínio hídrico ressaltado em constituições anteriores. Neste diapasão dispõe o art. 20:
Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 139
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II. […] (BRASIL, 1988)
A Constituição brasileira incorporou os objetivos e recomendações dos tratados internacionais de águas ao propor a instituição de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. A implementação da nova ordem constitucional veio com a Lei 9.433, de 08.01.1997, ou seja, a Lei dos Recursos Hídricos.
Para não cometer uma injustiça à Constituição de 1967, quanto ao regime dominial das águas lembra Beltrão (2011, p.269) que “A ordem constitucional anterior, Constituição Federal de 1967 com a Emenda Constitucional de 1969, previa em seus arts. 4º e 5º estrutura bem semelhante à atualmente em vigor”.
Mas percebe-se uma dificuldade em estabelecer de forma objetiva a delimi-tação das águas pertencente à União e aos Estados, veja o art.:
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
Essa dificuldade derivou-se porque o constituinte utilizou critérios distintos de classificação como explica Beltrão (2011, p.271):
Enquanto no art. 20 a Carta da República elege basicamente o princípio geográfico do corpo d’água - lagos, rios e correntes de água que banham mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham-, o que está em plena consonância com o princípio da predominância do interesse, o art. 26 introduz conceitos não previstos pelo art. 20 – águas subterrâneas, fluentes, emergentes, etc. – como critérios para fixar o domínio dos Estados.

140 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A falta de consonância dos artigos pode levar a algumas complexidades entre os Estados e até mesmo entre Estados e União, mas este é um tema para um outro artigo.
2.5. a lei 9.433 de 1997: a política nacional de recursos hídricos
Modificado, enfim toda a interpretação da legislação sobre águas no Brasil a Constituição Federal de 1988 dispõe, claramente que ela é um “bem de uso comum do povo”(BRASIL, 1988) e o Poder público federal ou estadual não são proprietários dos recursos hídricos de seus territórios, como explicitado acima.
A Lei 9.433 de 1997 possui 57 artigos e dispõe sobre os fundamentos básicos da Política de Recursos Hídricos, assim como seus objetivos (arts. 1º ao 5º). Traça também diretrizes de ação e planos de recursos hídricos (arts. 6º ao 8º). Destina atenção especial à outorga de direitos das águas e cria a possibilidade de cobrança pelo uso desses recursos (arts. 11 ao 18).
Dispõe ainda a Lei de um sistema de informação; conselho nacional; comitês de bacia hidrográficas; agências de águas e estabelece infrações e penalidades administrativas.
O artigo 1º da Lei apresenta os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, e em seu inciso I, explicita que a água é um bem de domínio público, dando margem a uma dissonância quanto à disposição Constitucional que considera os recursos hídricos bens ambientais de uso comum do povo. Veja:
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 141
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementa-ção da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. (BRASIL, 1988)
Compreende-se que não há dissonância tendo em vista que uma lei infraconstitucional não pode mais que a Constituição. É certo que o meio ambiente não é patrimônio do Estado, é patrimônio das pessoas do Estado, mas a obrigação de preservar é do Estado para as presentes e futuras gerações, portanto este atua como administrador e não como dono, proprietário.
Outro novidade da Lei é a consideração da água como um bem natural limitado e dotado de valor econômico. Esta é uma preocupação real que todos os Estados Nacionais devem ter. Com essa preocupação o Brasil começou a fazer a cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas em 2003, e já foram cobrados R$ 628,4 milhões e arrecadados R$ 562,9 milhões (BRASIL,ANA, 2013), de acordo com o Balanço das Águas de 2013 da Agência Nacional de Águas- ANA.
A Agência Nacional de Águas teve seu nascedouro no ano de 2000 sob a égide da Lei 9.984. Segundo a Lei em comento, a Instituição tem natureza jurídica de autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa, financeira e vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A finalidade primordial da ANA é a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que integra também o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Toda a trajetória da legislação sobre os recursos hídricos apresentou mudanças profundas quanto a vários aspectos. Talvez o mais importante tenha sido a mudança de dominialidade7 que passou do privado para o difuso. Essa visão
7 Ainda sobre a dominialidade: Meirelles reconhece que o termo ‘domínio público’ não é uniforme na doutrina e o classifica em: “1-Domínio em sentido amplo: é o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre os bens do seu patrimônio (bens públicos), sobre os bens do patrimônio privado (bens particulares de interesse público), ou sobre coisas inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral [...]. 2- Domínio eminente: é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas de seu território. É uma das manifestações da Soberania interna; não é direito de propriedade. 3- Domínio Patrimonial: é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial.” (MEIRELLES, 2001, p. 477). Di Pietro, por sua vez entende que a

142 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
implicou e implica em outras mudanças como a importância da participação popular na gestão desse recurso ambiental.
3. o princípio da participação popular e a lei 9.433 de 1997
Quando se fala no princípio da participação, a primeira ligação que se faz é com a democracia participativa, aquela que se exerce por meio do voto popular, ou seja, a soberania popular. Mas essa é a matriz de uma participação à qual se quer dar maior proximidade do cidadão ao Poder Público.
A democracia participativa, de modo geral, em qualquer país, demonstra que a liberdade do cidadão é fundamental para o Estado. Já assinalou Canotilho (1993, p.426) que a teoria da participação levanta a polêmica sobre a “democratização da democracia”(CANOTILHO, 1993, p.410), que é a realização do princípio democrático em todos os domínios da sociedade. A sociedade hoje vive este dilema: o cidadão precisa participar, mas precisa principalmente da informação para participar. No Brasil, ainda é embrionária a participação direta dos cidadãos nos órgãos públicos. Essa é a mudança necessária: participar para democratizar.
Portanto, a participação que se requer neste item não é a participação em nível geral ou da democracia representativa, nem mesmo a participação via instrumentos de defesa ao meio ambiente, como as ações coletivas, vale dizer: ação popular, ação civil pública, audiências públicas e Lei 9.6058, ou Lei de Crimes Ambientais, de 1998, art. 70, § 2º, que são protetivas e participativas.
expressão ‘domínio’ é equívoca e merece atenção quanto à interpretação. A autora classifica 3 sentidos para a palavra como: “1- Amplo: conjunto de bens pertencentes às pessoas jurídicas de Direito Público interno. 2- Menos Amplo: Designa os bens afetados a um fim público compreendendo os de uso comum do povo e os de uso especial. 3- Sentido restrito: bens de domínio público para designar apenas os destinados ao uso comum do povo. Indica o titular que seria o povo.” Autora prefere a classificação de número 3 e demonstra a fluidez do termo. (DI PIETRO, 2007, p. 614).
8 “Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. [...] §2º - Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de policia. [...].” BRASIL. Lei 9.605 de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: <www.planaldo.gov.br>, acesso em 04 junho 2014.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 143
A participação que se almeja é aquela em que o cidadão tenha em mãos, quanto ao controle e à proteção do meio ambiente, por meio do acesso à justiça, ou seja, a participação funcional9, é uma das formas de aplicação efetiva do Direito Ambiental.
Mas pergunta-se: Como o homem chegou a essa circunstância tão delicada para necessitar de tantas formas de participação para sua proteção e a do próprio meio ambiente? Uma das respostas provém da Revolução Industrial, que, mesmo que tardia no Brasil, trouxe suas consequências, boas e ruins. A boa foi uma melhora na qualidade de vida conquistada pelos brasileiros decorrente da imigração do homem da zona rural para os grandes centros urbanos. Mas essa mudança também causou problemas sociais, econômicos e ambientais, os quais, têm a probabilidade de piorar.
A inauguração da sociedade de massa ou, mesmo, da sociedade de risco10, que, sem perceber, colocou-se em situações de perigo, procura
9 Jordano Fraga ensina e classifica também várias formas de participação na área ambiental. Distingue, porém, a participação de forma mais geral como participação política e participa-ção administrativa. Quanto a participação política ensina que é aquela realizada através do sufrágio, e a participação administrativa, grosso modo, é a possibilidade da presença, intervenção em tomada de decisões na administração. Quanto a essa presença classifica o autor: “Participación Orgánica, Participación Funcional e a Participación Cooperativa. La participación orgánica es aquella que consiste en la incorporación del ciudadano em los diferentes órganos de la Administración Pública. Mediante la participación orgânica se pretende acercar las estructuras administrativas a la propia realidad introduciendo em sus órganos representantes de organizaciones y asociaciones ciudadanas. [...]. Participación funcional es aquella que consiste en la realización, por parte de los particulares o administrados, individualmente o asociados, de actuaciones materialmente públicas desde fuera de la organización administrativa em el seno de um proceso decisório. Exemplo informaciones públicas, las denuncias , el ejercicio de acciones populares, la actuación como coadyuvante de la Administración em los procesos judiciales [...]. La participación cooperativa es aquella em la que el ciudadano realiza actividades privadas al servicio de los fines de la Administración. La Administración pretende a través de esta modalidad de ampliar su capacidad de actuacion y obtener resultados mediante la estimulación de la sociedad.” (FRAGA, 1995, p.193-201). Quanto à última forma de participação, ou seja, participação cooperativa, deixa claro o autor que ela não tem um grau de importância, desde que, quando o cidadão é chamado a participar, as decisões já foram tomadas, mas não deixa de ter sua importância como um meio de informação.
10 Quanto a esse perigo latente e invisível, denuncia Leite: “Não só os atores sociais presentes e humanos são as vítimas potenciais desses processos invisíveis e deles desconhecidos. A invisibilidade e o anonimato dos estados de risco e de perigo revelam seu aspecto mais nocivo e dogmaticamente mais tormentosos como problema, quando se admite que são as

144 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
defender agora sua sobrevivência e proteger a natureza, evitando com isso seu colapso.11
Atualmente, uma das formas eficazes de proteger o meio ambiente é a participação popular em instituições públicas, ou seja, a participação do povo no Poder Público na forma de gerenciamento compartilhado e seu controle por meio de informações disponibilizadas pelos órgãos públicos.
Essa foi uma ideia que nasceu da preocupação com os danos causados ao meio ambiente, expressa nos princípios da Conferência de Estocolmo, de 1972. O princípio que expõe sobre a participação é o de número 4, ou seja:
O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo, por uma combinação de fatores adversos. Em consequência ao planificar o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância à conservação, incluídas a flora e a fauna silvestres (CARVALHO, 2002, p.133).
futuras gerações, e o complexo de seus interesses e direitos intergeracionais, que atualmente se impõem como o principal problema produzido pelas sociedades de risco, e, da mesma forma, o principal problema a ser enfrentado pelo Direito do Ambiente a partir de um modelo eficiente de equalização otimizada e procedimental desses desafios.” (LEITE; AYALA, 2002, p. 104).
11 Jared Dimond, professor de geografia, na Califórnia, que ampliou seu campo de pesquisa com a biologia evolutiva e a biogeografia. Descreve a controvérsia sobre os colapsos ecológicos ocorridos no passado como na Ilha de Páscoa, na Civilização Maia, entre outros. Não adota o autor uma visão pessimista sobre a civilização atual, por entender que ainda há tempo de salvar o planeta com decisões inteligentes. Ao procurar respostas para aquelas civilizações que de certo modo desapareceram sem deixar vestígios, Dimond desenvolveu, após meticuloso trabalho, uma estrutura de cinco possíveis fatores que podem ter colaborado para o colapso ambiental de algumas sociedades. São eles: “O primeiro conjunto de fatores envolve os danos que as pessoas inadvertidamente infligem ao meio ambiente como [...] desmatamento e destruição do hábitat, problemas com o solo (erosão, salinização e perda de fertilidade), problemas com o controle de água, sobre caça, sobre pesca efeitos de introdução de espécies exóticas [...]. O segundo fator é a mudança climática, que segundo Dimond, pode esquentar, esfriar, ficar mais úmido ou mais seco, e que não teve interferência humana. O terceiro fator foi a combinação de vizinhos hostis, levando, muitas vezes, algumas civilizações a guerrearem. O quarto conjunto de fatores opõe-se ao terceiro, ou seja, diminuição do apoio de vizinhos amistosos. E o último fator que pode contribuir para o colapso de uma sociedade é a maneira como ela responde a seus problemas ambientais ou não. Isto significa que cada sociedade resolve seus mesmos problemas de formas diferentes”. (DIMOND, 2005, p. 25-31). Os fatores cogitados pelo autor são abstratos demais e deixam uma margem muito grande de outras razões para o desaparecimento das sociedades discutidas. No entanto, levam realmente o leitor a imaginar que as causas foram fortemente ambientais.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 145
Interessante a expressão usada, o homem, como aquele que tem a responsabilidade de preservar o meio ambiente. Não se refere explicitamente ao Poder Público, mas a qualquer e a toda pessoa humana. Logo, todos têm a responsabilidade de preservar, cuidar do meio ambiente natural.
Com simplicidade e direcionamento, o princípio n. 4 também expõe o princípio da participação – no caso, do homem – para chegar ao objetivo principal, que é o de preservar e de promover a administração/gerenciamento do bem ambiental. E como se administra e protege sem ter acesso à informação? Também aqui o princípio n. 4 é uma combinação do princípio da participação e do princípio da informação.
A Conferência de Estocolmo produziu um grande impacto em todas as culturas mundiais e legislações que se seguiram, vale dizer: a Constituição da Espanha de 197812, que utilizou esse princípio como inspiração no que concerne à proteção do meio ambiente. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 espelhou-se nas Constituições espanhola e portuguesa, principalmente quando se lê o art. 66 nos números 1 e 2, em que se tem a certeza da construção do Capítulo VI, que trata do meio ambiente na Constituição pátria.
Quanto ao princípio da participação assinala Jordano Fraga que “Dicho princípio y derecho fundamental surca el Derecho ambiental, impregna sus ejes técnico-jurídicos y, lo que es más importante para nuestros fines, informa el sistema de legitimación en los contenciosos ambientales” (FRAGA, 1995, p.204).
O constituinte brasileiro não viu a necessidade de explicitar nominalmente o princípio da participação no caput do art. 225; apenas seguiu a mesma tendência da Constituição espanhola, ou seja: “Todos tienen el derecho a disfrutar de um médio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”(ESPANHA, 2012, p.53). Igualmente a Constituição brasileira: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] impondo-
12 “Art. 45.1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Art. 45.2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Art. 45.3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” (ESPANHA, 2012, p. 53).

146 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). A interpretação está muito clara nos dois artigos constitucionais quanto ao dever de preservação. Para preservar e defender o meio ambiente, o Poder Público e a coletividade devem participar, compartilhar esforços para que se mantenha um meio ambiente adequado à vida humana e não humana.
A Conferência do Rio de Janeiro, ou seja, a ECO-92, também expôs os princí-pios da participação e informação, veja:
Princípio n. 10- A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar em processos de tomada de decisões. Os estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública colocando a informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de dano (CARVALHO, 2002, p.141).
O princípio supracitado foi fundamental para a mudança de comportamento no Poder Público em nível mundial, por ser mais direto sobre a importância do princípio da informação e participação no gerenciamento dos recursos ambientais, principalmente de órgãos relacionados ao meio ambiente. É uma preocupação que tem aumentado substancialmente, mas não com a agilidade que deveria ser. Ainda hoje no Brasil os órgãos não têm uma política adequada de informação, e muito menos de participação popular ou as instituições não governamentais ligadas ao meio ambiente, para fazer esse tipo de controle e abertura para o cidadão.
A Declaração de Johannesburgo, em 2002, na África do Sul, não deixou escapar a oportunidade de reafirmar a imprescindibilidade do princípio da participação popular na conjuntura de transformação por que passa o planeta, na qual os cidadãos começam a se engajar em causas ambientais, por se mostrar de vital importância para a vida com qualidade.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 147
O princípio 26 não expressa somente sobre uma participação em nível consultivo, mas uma “participação ampla na formulação de políticas e tomada de decisões em todos os níveis de governo (JOANESBURGO, 2013. Esse é o tipo de participação que deve ser implementado no país, respeitando-se, obviamente, a finalidade e autonomia dos órgãos públicos.
3.1. tipos de participação
A Constituição brasileira prevê dois grandes tipos de participação em políticas públicas: participação política e participação administrativa.
A participação constitucional política é representada pelo sufrágio universal, na qual o povo escolhe seus representantes democraticamente pelo do voto – art. 14 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.13
Quanto à participação constitucional administrativa é concentrada e traz uma nova forma de gerenciamento e controle no Poder Público. Divide-se em dois subgrupos: participação constitucional administrativa geral; e participação administrativa ambiental.
a) Participação constitucional administrativa
Mediante a garantia constitucional do princípio da participação, ou controle, que o cidadão brasileiro exerce sua cidadania. A participação de forma legal mantém a lisura no serviço público.
A participação constitucional administrativa em nível geral pode ser exemplificada com os artigos constitucionais: 5º, inciso XXXIII, 10, 37, inciso XXII, § 3º.14
13 “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I- plebiscito; II- referendum; III- iniciativa popular [...]. BRASIL. (Constituição de 1988). Op. cit.
14 “Art. 5º […], inciso XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. [...]. Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de discussão e deliberação. Art. 37 [...], § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e

148 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Em nível infraconstitucional, esse tipo de participação pode ser exemplifi-cado também com as leis que determinam a iniciativa da audiência pública, como: Lei de Processo Administrativo, Lei 9.784, de 1999, arts. 32 e 34; Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 2000, art. 9º, e Lei de Licitação, Lei 8.666, de 1993, art. 74 § 2º, e art. 31, § 3º.
b) Participação constitucional administrativa ambiental
A participação popular na esfera ambiental é a que realmente interessa a este trabalho. A Constituição da República Federativa do Brasil traz em seu arcabouço artigos específicos sobre essa participação em órgãos da administração pública para a proteção do meio ambiente. Mas não se pode deixar de ressaltar a importância da participação política, em âmbito geral. Os arts. 14 e 61, § 2º, da Constituição da República Federativa são armas poderosas em favor da proteção do meio ambiente, como também a ação popular, art. 5º, inciso LXXIII, dentre outros já citados como de participação funcional. São instrumentos que podem ser usados com eficácia na defesa do meio ambiente, mas ficam distante do cidadão, e sua utilização se mostra debilitada pela falta de coesão popular, que demanda forte mobilização em nível nacional, aqui, no que se refere ao art. 61, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil.
A participação política é importante. No entanto, permanece a atuação do cidadão mais distante do trabalho exercido pelos órgãos públicos. O cidadão não tem como fazer-se presente nas decisões ou deliberações necessárias e importan-tes para a proteção e defesa do meio ambiente, responsabilidade a qual a própria Constituição da República Federativa lhe confiou, pelo art. 225, caput.
A democratização dos processos decisórios brasileiro é realidade, mas neces-sita de instrumentos para que seja colocado em prática, tanto para o cidadão como para a comunidade.15
indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II- o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III- a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. [...].” BRASIL. (Constituição de 1988). Op. cit.
15 Paulo Affonso não tem uma visão muito positiva quanto à participação popular, pois ainda no Brasil esse tipo de atuação é muito tímida: “Essa atuação da comunidade, através

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 149
A participação popular na esfera ambiental está inserida na Constituição da República Federativa, principalmente no art. 216, § 1º, e art. 225, caput, respectivamente:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...]
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. [...]. (sem grifo no original).
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, [...].(BRASIL, 2014) (sem grifo no original).
O art. 225, em relação ao art. 216, traz de forma muito mais geral a participa-ção do Poder Público e da coletividade na defesa e proteção do meio ambiente. Nessa perspectiva, reconhece-se um direito fundamental à participação na proteção desse bem, desde que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, conectado diretamente com o direito à vida, conforme art. 5º, caput. Costa (2013).
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito fundamental, mesmo encontrando-se fora do Título II, ‘Dos Direitos e Garantias Fundamentais’ da Constituição da República Federativa, por vários motivos, principalmente porque o Título II não esgota esses Direitos. O § 2º do art. 5º deixa essa afirmativa muito clara quando expõe que os direitos e garantias
das associações, não mostrou ainda toda sua vitalidade. Em alguns órgãos colegiados a participação do público é numericamente ínfima, não dando às associações a menor chance de influir no processo decisório. Nesse caso as associações passam a ter papel mais de fiscal do processo decisório do que de participantes da tomada de decisão, evitando, pelo menos, que esse processo fique fechado pelo segredo”. (MACHADO, 2014, p. 91).

150 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
expressos na Constituição não excluem outros. Ou seja, este parágrafo deixou um lack de direitos ainda por vir. A aplicabilidade dos direitos fundamentais é imediata, pois existem instrumentos para que sejam garantidos, o que não se pode dizer do direito fundamental à participação16, que tem sua eficácia limitada. Essa limitação cessa com a emissão de uma norma jurídica posterior, e, por meio da qual se desenvolve sua eficácia plena.17
Para a concretização do direito de participação na proteção e defesa do meio ambiente, inexoravelmente, tem que existir a regulamentação, por intermédio de lei, do art. 225 para que toda sua normatividade seja extraída. Mas essa participação não deve se restringir apenas a uma simples consulta, pois não foi essa a intenção do artigo citado quando expôs que o Poder Público e a coletividade devem preservar e defender esse bem. Portanto, é uma obrigação e um direito fundamentais do cidadão brasileiro que devem ser respeitados e viabilizados. É por isso que o princípio da participação política fica distante, apesar de ser uma forma democrática de proteção ambiental. Mas não há um envolvimento direto e contínuo do cidadão com os problemas ambientais.18
16 Fernanda Luiza entende da mesma forma: “A participação da sociedade nas questões vinculadas à proteção do meio ambiente está vinculada ao direito fundamental de participação na organização e no procedimento.” (MEDEIROS, 2004, p.163).
17 A aplicabilidade das normas jurídicas é trabalho complexo e extenso, tendo se ocupado do tema vários autores. Mas as lições de José Afonso da Silva se tornam fundamentais. Explicita o autor: “Não há norma constitucional destituída de eficácia, mas a eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar executória, prevista ou requerida.” Quanto à eficácia classifica o autor as normas: “I- Normas constitucionais de eficácia plena : direta, imediata, integral; II-Normas constitucionais de eficácia contida: São normas de aplicabilidade imediata e direta tendo eficácia independente da interferência do legislador ordinário, sua aplicabilidade não fica condicionada a uma normação ulterior, mas fica dependente dos limites que ulteriormente se lhe estabeleçam mediante lei, ou que as circunstâncias restritivas, constitucionalmente admitidas, ocorram (atuação do Poder Público para manter a ordem) [...]; III-Normas constitucionais de eficácia limitada: Aquelas que dependem de outras providências para que possam surtir os efeitos essenciais colimados pelos legisladores; subdividem-se em: 1- As definidoras de princípio institutivo ou organizativo e 2- As definidoras de princípio programático.” (SILVA, 2002, p. 99-118).
18 “Não mais se trata de um controle distante e externo, pela via do voto popular, no contexto da democracia representativa. Agora, o poder fiscalizatório é exercido de uma forma mais eficiente, no coração mesmo do “teatro de operações”, por assim dizer da gestão ambiental. A participação pública, portanto, “reprime a tendência dos órgãos administrativos, quando

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 151
Logicamente que a participação popular, na esfera ambiental, não pode desequilibrar a atividade laboral das instituições públicas. Existem dois tipos de interesses que devem ser levados em consideração: o interesse externo, compreendendo os cidadãos que representam a coletividade; e os interesses internos, representados pelos gerentes da coisa pública, que devem zelar pela transparência da gestão administrativa e chegar sempre a decisões que melhor atendam ao “interesse dos brasileiros”19, em qualquer nível de governo.
Seria inverídico afirmar que no Brasil não existe a implementação da par-ticipação constitucional administrativa ambiental. O princípio fundamental, ou seja, o direito de participação popular, tem plena eficácia quando se trata do gerenciamento dos recursos hídricos. Por isso, a alegação de José Robson da Silva não se coaduna totalmente com a realidade, brasileira quando afirma: “A democracia, no controle de bens ambientais, não se consolidou ainda no Direito nacional. A inclusão de comitês e associações populares na gestão e administração destes recursos é uma experiência que ainda está por ser implementada”( SILVA, 2002, p. 277).
Mas o autor tem razão quando se trata de uma forma generalizada, pois infi- nitos bens ambientais não têm a mesma sorte de possuir o seu guardião cons-titucional, por direito, regulamentado. O Poder Público faz sua gestão sem o controle dos principais interessados nesse processo: os cidadãos. E, nesse sentido, concorda-se com Robson Silva: “A experiência nacional de gestão e controle sobre os bens de uso comum do povo é pautada invariavelmente por contratos virtual-mente secretos. Típico é o caso dos recursos minerais” (SILVA, 2002, p. 277).
O que se refere, sobretudo, à gestão dos recursos hídricos, os legisladores interpretaram fielmente a Constituição da República Federativa com a edição da Lei 9.433, de 1997. Portanto, o gerenciamento do bem ambiental água, de natureza jurídica difusa, já é implementado, mesmo com problemas.
Quando a Lei 9.433, em seu art. 1º, inciso III, afirma que a água é um bem de domínio público, entende-se esse domínio como a guarda de soberania que o
ninguém mais participa do processo decisório, de favorecer as indústrias que fiscalizam.” (BENJAMIN, 1998, p.57-78).
19 Termo usado em oposição a Interesse Público.

152 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Poder Público exerce sobre os bens dominicais, privados e difusos com um único fim: o de proteção, e não com sentido patrimonial. Com esse sentido de domínio eminente, Hely Lopes Meirelles ensina que “é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas de seu território”.20 Portanto, não é direito de propriedade, e essa interpretação mantém harmonia com art. 225 caput, e o art. 23, inciso I, ambos da Constituição da República.
A Lei de Recursos Hídricos traz inovações inusitadas e coerentes com as exigências do século XXI, principalmente no que concerne à sociedade de massa, em que os recursos naturais têm, sim, uma conotação econômica e são matérias-primas escassas e essenciais à sobrevivência humana. Não foi sem motivo que o artigo 170 da Constituição da República Federativa, entre outros, engloba: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano; a dignidade da pessoa humana; e a defesa do meio ambiente. São princípios interligados, e é a partir do meio ambiente que, muitas vezes, se desenvolve a atividade laboral, que sustenta o homem em uma atividade econômica, tornando-o digno.
Nessa perspectiva, a Política Nacional de Recursos Hídricos é um sistema complexo de gerenciamento desse bem vital, de importância imensurável para as vidas humanas e não humanas. A Lei expõe importantes aspectos para este trabalho e deve ser expostos, como a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, que tem como objetivo, em seu art. 11, “assegurar o controle quantitativo e qualitativo aos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”.(BRASIL, 1997).
20 Meirelles reconhece que o termo ‘domínio público’ não é uniforme na doutrina e o classifica em: “1-Domínio em sentido amplo: é o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre os bens do seu patrimônio (bens públicos), sobre os bens do patrimônio privado (bens particulares de interesse público), ou sobre coisas inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral [...]. 2- Domínio eminente: é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas de seu território. É uma das manifestações da Soberania interna; não é direito de propriedade. 3- Domínio Patrimonial: é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial.” (MEIRELLES, 2000, p. 477). Di Pietro, por sua vez entende que a expressão ‘domínio’ é equívoca e merece atenção quanto à interpretação. A autora classifica 3 sentidos para a palavra como: “1- Amplo: conjunto de bens pertencentes às pessoas jurídicas de Direito Público interno. 2- Menos Amplo: Designa os bens afetados a um fim público compreendendo os de uso comum do povo e os de uso especial. 3- Sentido restrito: bens de domínio público para designar apenas os destinados ao uso comum do povo. Indica o titular que seria o povo.” Autora prefere a classificação de número 3 e demonstra a fluidez do termo. (DI PIETRO, 2007, p. 614).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 153
Inova a lei ao reconhecer a água como um bem econômico e esgotável art. 1º, inciso II, e também em seu inciso IV ao afirmar que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”(BRASIL, 1997).
De forma paradigmática, o legislador, nesse art. 1º, expõe a fragilidade que as ações antropogênicas conseguiram infligir a esse bem vital, chegando ao ponto de ser cobrado, e, ao mesmo tempo, direcionar o gerenciamento também para o cidadão e comunidade.
Encontra-se, enfim a concretização da participação constitucional ad-ministrativa ambiental. Apesar de ser a participação implementada por meio de uma lei infraconstitucional, permanece com a classificação de participação constitucional administrativa ambiental, proposto neste trabalho, porque é um comando da Constituição da República Federativa. Neste ínterim, alcança eficácia plena após a edição de uma lei.
Portanto, a Lei 9.433 é um excelente exemplo de gerenciamento e a partici-pação que encontra-se em seu arcabouço, na medida em que instituiu os Comitês de Bacia Hidrográfica, com a seguinte composição:
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: I - da União; II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; III- dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; IV- dos usuários das águas de sua área de atuação; V- das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. [...]. (BRASIL, 1997).
O artigo ainda determina o número de representantes que devem ocupar assento nos Comitês. Por exemplo, limita a participação dos Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros (art. 39, § 1º). Essa exigência é coerente para que o órgão público mantenha sua autonomia assegurada. Ainda, garante a lei a participação das comunidades indígenas residentes ou com interesses na bacia hidrográfica, (art. 39, inciso II). Portanto, todos aqueles que têm interesse em defender os recursos hídricos estarão representados.

154 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A competência dos Comitês sobressai por sua ampla atuação nos estados, municípios, e demonstra a possibilidade real da proteção e defesa da coletividade deste bem ambiental:
Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; V- propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; VI- estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; VII- (vetado); VIII- (vetado); IX- estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência. (BRASIL, 1997).
Apesar da citação extensa, é importante enumerar todas as competências que a lei delega a um Comitê que realmente pode gerenciar, de forma profunda, os recursos hídricos de sua região. É um verdadeiro estímulo à coletividade em preservar os recursos naturais mais importantes. A ingerência da comunidade é salutar para o próprio órgão público, que deveria ver nessa participação à realização da democracia, pois a coletividade deve atuar em defesa do meio ambiente com a parceria do Poder Público, sem a oposição21 deste.
Os Comitês de bacias hidrográficas possuem amplos poderes, e sua área de atuação é a totalidade da bacia hidrográfica, outras sub-bacias ou um grupo
21 Assim explanam também no mesmo sentido Morato Leite e Ayala: “O que se procura realçar é que os controles não poderão mais ser formulados como no modelo liberal, na forma de rígidas relações de desconfiança, tensão e oposição entre a autoridade estatal e a liberdade dos sujeitos sociais. Cada vez mais devem ser desenvolvidas formas em que o melhor tipo de controle esteja em sofisticados mecanismos de participação.” (LEITE; AYALA, 2002, p. 134).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 155
de bacias. Elas têm poder normativo e deliberativo, como também o poder de estabelecer mecanismos de cobrança da água, entre outros.
A importância da participação da coletividade no controle da outorga difi-culta, de todas as formas, que os recursos financeiros captados sejam, de alguma maneira, usados impropriamente. É o povo gerenciando o que é de todos e para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país.
Outro grande aliado à Lei de Recursos Hídricos foi a criação da Agência Na-cional de Águas (ANA) que integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e tem por objetivo promover a implementação da Lei 9.433, de 1997, ou seja, o gerenciamento desses recursos.
Conclui-se que a participação constitucional administrativa ambiental, no gerenciamento e controle de um recurso ambiental natural já não é mais inédito no Brasil.
Portanto, a Lei 9.433 complementa o art. 225, direito fundamental, quando comanda que o bem ambiental deve ser defendido e protegido pelo Poder Público e pela coletividade em benefício das presentes e das futuras gerações. Sem dúvida comprovam-se o acerto e a seriedade de uma legislação que não excluiu o segundo agente determinado pela Constituição da República Federativa para proteger e defender os recursos hídricos: a coletividade. Nesse passo, passa-se a caracterizar o Estado Espanhol e verificar quais as formas de participação estabelecidas nesse Estado.
4. o estado espanhol e a regulamentação sobre águas
A Espanha é um país situado na península ibérica, que tem uma área de 505.957 quilômetros quadrados além de ilhas como as Baleares e as Canarias. E em termos de água, a quantidade não é um problema como em outros países europeus, mas como no Brasil a distribuição não é uniforme devido a situação geográfica (WATERTIME, 2004). Em termos políticos a Espanha é um Estado unitário, onde se tem um poder central, regiões com autonomia que podem criar suas próprias leis e que são divididos em municípios com poder de decisão dados pela Constituição espanhola, por serem a instância mais próxima da população.

156 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A Espanha é membro da União Europeia desde 1986 e por isso tem que se submeter as diretivas estabelecidas, internalizando-as e que afetam toda a legislação tanto em nível nacional, quanto autonômico e local em relação ao sistema legal de águas não seria diferente.
As primeiras leis sobre águas na Espanha remontam ao Império Romano, entretanto, no mundo moderno as principais são as leis de águas espanholas de 1866 e 1879 foram as que predominaram em grande parte do século XX que tiveram força coercitiva até meados do século XX (GUERRA, 2012). Esta dividia as águas em públicas e privadas dando direito aos proprietários sobre as águas que se encontraram no solo e subsolo de suas terras.
A lei de 1876 descreve em seu artigo 1º:
Pertenecen al dueño de um prédio las águas pluviales que caen em el mismo, mientras discurran por el. Podra em consecuencia construir dentro de su propiedad, estanques, pântanos, cisternas o aljibes donde conservarlas al efecto, ó emplear cualquier outro médio adecuado, siempre que com ello no cause perjuicio al público ni a terceiro. (ESPANÃ, 1879).
Em 1985 foi modificação da regulamentação sobre as águas em todo terri-tório nacional, baseado na organização do sistema em bacias hidrográficas e o fim ao uso indiscriminado das águas privadas - pois mantem como águas privadas aquelas que cortam apenas a propriedade, mas para executar qualquer obra, o proprietário necessita de autorização publica -, passando as águas a serem vistas como domínio público e publicizando toda a água continental incluindo a subterrânea ( exceto as águas minerais). Esta lei é reflexo dos preceitos trazidos pela Constituição Espanhola de 1978.
A Constituição de 1978 é fruto da democratização do governo espanhol e põe fim ao regime ditatorial, iniciando o período de monarquia constitucional. Esta constituição reestabelece a democracia, e estabelece a descentralização política hoje existente através do sistema autonômico que dá poderes para suas 17 regiões. E pelo período histórico que surge – pós Convenção de Estocolmo de 1972 – já demonstra preocupação com a proteção ambiental, apresentando um conceito de meio ambiente que aparece em seu bojo,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 157
Artículo 45: 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. ( ESPAÑA, 2012, p.53)
Em questão ligada à água, o poder nacional assume a responsabilidade de legislação – artigo 149 CE -, organizar e das concessões, enquanto as unidades autonômicas se tornam responsáveis por estabelecer as formas de exploração uso da água, bem como a construção e projeto para efetivá-los – art. 148 CE. Já o poder local, considerado com personalidade jurídica plena – art. 140 CE - assume a responsabilidade de zelar pela proteção ambiental e gestão do uso das águas, exatamente por ser o poder mais próximo da população e responder a seus interesses.
Essa organização forma um complexo de normas, como no Brasil, de diversos órgãos sobre o mesmo tema no qual se aplica a hierarquia das normas que têm como ponto mais alto a Constituição, seguido do Estatuto da Autonomia e as legislações nacionais e das regiões autonômicas que estabelecem a repartição, dando efetividade a autonomia e competências.
Tal sistema não muda substancialmente a interpretação das leis do século XIX sobre águas, mantendo-se quase inalterado até a instituição da nova lei de águas, a Lei nº29 de 1985, que vai modificar todo o sistema pré-estabelecido, de forma que põe termo a direitos exclusivos sobre as águas privadas, e tendo como base central a figura da bacia hidrográfica e não de rios privados ou públicos. E complementa a CE de forma a operacionalizar a água como direito efetivamente público.
Artículo 1.1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del água y del ejercicio de las com-petencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con

158 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.
2. Las águas continentales superficiales, así como las subterrá-neas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.
3. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.(ESPAÑA, 1985)
Assim, foram instituídas 11 bacias hidrográficas, que incluem as águas subterrâneas que não tem seu uso gerenciado pela administração de bacias e de forma efetiva pelos conselhos de bacias em conjunto com as regiões autonômicas.
Segundo Alberto Garrido (2004) esta lei, entretanto, não cumpriu seu papel porque o sistema legal não abria espaço para uma maleabilidade que favorecesse que cada localidade construísse seu regime legal de forma especifica, ficando atrelada de forma rígida às normas nacionais. Além disso, segundo o autor, a preocupação com o meio ambiente ainda era tímida e não se preocupava com o princípio do usuário pagador, já que a água era subsidiada pelo Estado. O autor ainda diz que a lei não privilegiava a coordenação entre os atores institucionais e apesar de bem estabelecido, os conselhos de bacia não efetivavam de forma inconteste a participação popular.
Percebendo todos os problemas que tais falhas geraram ao longo do tempo foi proposta emenda à Lei 29, configurada na Lei 46 de 1999, que cria o texto “Refundido da Ley de águas”. Esta emenda corrige algumas falhas de coordenação e colaboração em relação à gestão das águas, além de inovar ao garantir aos cidadãos a efetividade do princípio da informação, trazido precipuamente pela Convenção Rio/92. Assim define a Lei
Artículo 15. Derecho a la información.
1. Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información en materia de águas en los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 159
en materia de medio ambiente y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las águas.
2. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca tienen derecho a obtener toda la información disponible en el organismo respectivo en las materias propias de la competencia de los órganos de que formen parte.(ESPAÑA, 1999)
Devido a uma preocupação menor com o meio ambiente, a não efetividade em garantir os direitos à água e a incapacidade financeira dos municípios em construir barragens sem a participação financeira do estado, a Lei de 1985 é reformada em 1999 buscando resolver esses problemas e em especial o fornecimento de águas. Para tanto, incita à criação de companhias públicas de água que vão ordenar a criação de barragens e exploração de água e também a cobrança de valores pelo uso da água. Bem como regula o reuso de águas e me-lhor organiza a coordenação entre as diferentes políticas setoriais e dos órgãos de governo, reforçando a cooperação entre as agências de governo.
Para Alberto Garrido (2005) a mudança trouxe mais concertação a atuação dos entes autonômicos, da gestão de bacias e um efetivo aumento da preocupação com a questão ambiental, demonstrada pela necessidade de avaliação de impacto ambiental na instalação dos planos de gestão de bacia, assim como nos sistemas de dessalinização e reuso. Mas ainda foi tímida, pois não implementou o valor efetivo da água como elemento escasso, e mesmo tendo aumentado, ainda não tratava de forma efetiva a recuperação dos rios degradados. Outro aspecto negativo é que mantinha a possibilidade de existência de águas particulares possibilitando maior exploração das águas, especialmente as subterrâneas. A grande mudança em relação ao tratamento da água na Espanha advém com a criação da Diretiva Marco de águas de 2000- DMA, que entra no sistema legislativo espanhol por meio do artigo 129 da Lei 62/2003.
4.1. a diretiva marco de águas e a participação popular
A Diretiva Marco de Águas tem como objetivo criar um marco legislativo de gestão das águas comunitárias com o fim de protegê-las, e estabelece

160 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Artículo 129. Modificación del texto refundido de la Ley de águas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español, la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de águas. (ESPANHA, 2003)
Com o cuidado sobre a escassez de águas e para garantir o direito humano à ela, como uma prioridade comunitária, a União Europeia cria a Diretiva 2000/60/EC.
As prioridades elencadas nos artigos da Diretiva são: a proteção das águas e a promoção do uso sustentável, de forma a garantir o direito de acesso equitativo e intergeracional à água; a proteção do direito ao meio ambiente adequado de forma sistêmica, que transparece na lógica de proteção e melhora do meio aquático, como forma de garantia inclusive dos outros ecossistemas.
A Lei buscar ordenar no âmbito europeu o uso racional da água de forma a garantir acesso às gerações futuras implementando assim o princípio do usuário pagador, e por tal motivo propõe a cobrança pelo seu uso. Além disso, busca a redução da contaminação e sobre-exploração, especialmente das águas subterrâneas. Estabelece também um propósito ousado de conseguir, por meio de planos de gestão efetivos, que os membros da União Europeia alcancem um bom estado dos ecossistemas aquáticos até 2015.
Artigo 16.1. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas específicas para combatir la contaminación de las águas causada por determinados contaminantes o grupos de contaminantes que representen un riesgo significativo para el médio acuático o a través de él, incluidos los riesgos de esa índole para las águas utilizadas para la captación de água potable. Para dichos contaminantes, las medidas estarán orientadas a reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas, y, para las sustancias peligrosas prioritarias definidas el punto 30 del artículo 2, a interrumpir o suprimir gradualmente tales vertidos, emisiones y pérdidas. Dichas medidas se adoptar án tomando como base las propuestas presentadas por la Comisión de conformidad con los procedimientos estabelecidos en el Tratado. (UNION, EUROPEA, 2000)
Outro fator essencial trazido pela D MA 2000 é a obrigatoriedade de inserção da efetiva participação popular nos desígnios de gestão de águas, pois em sendo

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 161
um direito fundamental reafirmado pela própria Diretiva, por pressuposto torna-se um dever de cada cidadão europeu participar da gestão e proteção da água, cabendo aos órgãos administrativos de estado estabelecer formas eficazes de permitir o cumprimento desse dever. Em seu artigo 14 bem defini
Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. Los Estados membros velarán por que, respecto de cada demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, incluídos los usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los documentos siguientes. (UNION EUROPEA, 2000)
Tal preceito não foi cumprido na Espanha, dando ensejo ao processo intentado pela União Europeia em 2008 que teve sentença no dia 4 de outubro de 2012. Tal processo dentre outros assuntos demonstrou a pouca importância que a Espanha estava dando à participação da opinião pública nos desígnios de gestão sobre a água, na qual é acusada de “inexistência de informação e consultas públicas”, descumprindo o principio da participação popular de forma inexcusável. Foi considerado culpado pelo não cumprimento e teve que arcar com à custa deste ato,
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) decide:
1) Declarar que el Reino de España:
–al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y al no haber enviado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes, conforme a los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de águas, en su versión modificada por la Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, y al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea

162 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca, conforme al artículo 14, apartado 1, letra c), de la citada Directiva,ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones.
2) Condenar en costas al Reino de España. (TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO, 2013)
Por isso afirma-se que a participação pública nas políticas de gestão de uso de águas na Espanha somente ganha força com a recepção da DMA/2000, mas por obrigação impingida pela sentença do Tribunal de Justiça Europeu.
Assim, hoje a participação ocorre, mas ainda não efetivada em sua totalidade, pois apesar da exploração e gestão do uso das águas ser municipal, esta responsabilidade pode ser legalmente delegada a outra organização, privada ou mista por exemplo. E dependendo da necessidade organizacional estas companhias podem ser supra municipais ou autonômicas.
Deve-se fazer a ligação disso com os interesses da sociedade e sua efetiva participação para validar a DMA/2000. Tal cumprimento foi realizado, mas de forma incompleta, pois os cidadãos podem sim opinar na forma de gestão e uso da água, mas sempre antes da implementação do plano. Umas vez fechada a rodada de participações e a produção do documento de gestão, cabe a municipalidade implementar tal projeto.
Contudo, devido aos custos de realização serem altos, muitas, e em especial as municipalidades com menos de 20.000 habitantes optam por transferir tal implementação a empresas privadas, das quais a população não opina pela escolha. Uma vez passada a gerência a essas empresas não há mais a possibilidade de participação efetiva, senão por meios processuais para implementação de seu direito de opinar sobre os desígnios da água, logo tornando tal participação estática, e que alguns autores como Eduardo José Mitre Guerra (2012) vem qualificando de privatização da água.
Tais preceitos têm dificultado o cumprimento do princípio da participação comunitária de forma devida, gerando um déficit democrático sobre tema essencial para a vida.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 163
5. conclusões
De acordo com todo o estudo desenvolvido conclui-se que ao se tratar de participação na gestão de bacias hidrográficas, o Brasil está de acordo com toda a legislação e de certa forma poderia ser de extrema importância para o Estado Espanhol em sua busca de proteger o a água com instrumentos eficazes.
A Lei de Recursos Hídricos traz inovações importantes pois é um sistema complexo de gerenciamento de um bem vital, de importância imensurável para as vidas humanas e não humanas. A Lei expõe a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, que tem como objetivo, assegurar o controle quantitativo e qualitativo aos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Para tanto, deve-se concretizar a participação constitucional administrativa ambiental. Apesar de ser a participação implementada por meio de uma lei infraconstitucional, permanece com a classificação de participação constitucional administrativa ambiental, proposta neste trabalho, porque é um comando da Constituição da República Federativa.
Os Comitês de bacias hidrográficas possuem amplos poderes, e sua área de atuação é a totalidade da bacia hidrográfica, outras sub-bacias ou um grupo de bacias. Elas têm poder normativo e deliberativo, como também o poder de estabelecer mecanismos de cobrança da água, entre outros, o que pode ser observado nos arts 38 e 39 da Lei 9.433/97.
É importante ressaltar que a participação constitucional administrativa ambiental foi efetivada com a criação da Lei 9.433 na qual estabelece a composição dos representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas assim como a competência deles.
A política de águas brasileira e a política de águas espanhola têm muito em comum em forma de organização e responsabilização dos órgãos estatais.
Vê-se em ambas, apesar das diferenças, a necessidade de proteger a água tanto para uso quanto o recurso ambiental escasso a ser protegido para às presentes e futuras gerações.
Quanto a política espanhola de participação é implementada de forma ampla, mas não dá a continuidade requerida para uma efetiva implantação do princípio da participação comunitária de forma contínua e não segmentada, para que os

164 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
cidadãos acompanhem a implementação das políticas de uso e gestão da água, pois com a concessão desses recursos para grupos privados, os órgãos estatais coíbem a população de garantir seu efetivo direito-dever de estabelecer a forma que considerem adequada para o uso da água.
Assim, percebe-se a necessidade de mais discussões e trocas de experiências tanto acadêmicas quanto técnicas para melhor refletir sobre como realizar de forma adequada a implantação de política de uso e gestão de águas que é interesse de todos, e mais do que isso um dever de participação, já que diz respeito ao direito fundamental de vida das presentes e futuras gerações.
6. referências
AGUA VIDA. Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra España por retraso en el cumplimiento de la Directiva Marco del água. Publicat el 25 de octubre de 2013 .Disponível em <http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2013/10/25/sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-ue-contra-espana-por-retraso-en-el-cumplimiento-de-la-directiva-marco-del-agua/> acessado em 02/06/2014.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
BELTRÃO, Antônio F. G. Direito Ambiental. 3. ed. São Paulo: Método, 2011.
BENJAMIN, Antônio Herman. Função ambiental in Dano Ambiental: Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
BRASIL. Agência Nacional de Águas- ANA, Balanço das Águas 2013. Dispo-nível em: <http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/balancoDasAguas /balancoDasAguas2013.pdf>. Acesso em 03 de junho de 2014.
BRASIL. Código Civil Brasileiro, 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso: 06 de maio de 2014.
BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao>. Acesso em: 06 de maio de 2014.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 165
BRASIL. Lei 6.938. Política Nacional de Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso: 06 de maio de 2014.
BRASIL. Lei 9.433/1997. Política Nacional de Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.HTM>. Acesso em: 07 de maio de 2014.
BRASIL. Resolução Conama 357. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em 07 de maio de 2014.
CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.
COSTA, Beatriz Souza. Meio Ambiente como Direito à Vida: Brasil, Portugal e Espanha. 2. ed. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2013.
DIMOND, Jared. Colapso – como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Tradução: Alexandre Raposo. Rio de Janeiro: Record, 2005.
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
ESPAÑA. Ley 62 de 30 de deciembre e 2003. De medidas fiscales, administra-tivas y del orden social. Disponível em <http://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf> acessado em 02/06/2014.
ESPAÑA. Constitución Española. 18ª ed. Madrid: Tecnos, 2012.
ESPAÑA. Ley 7 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen Local. Última modificación: 30 de diciembre de 2013. In: JEFATURA DEL ESTADO. «BOE» núm. 80, de 3 de abril de 1985. Disponivel em <http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf> acessado em 02/06/2014.
ESPAÑA. Ley de águas de 13 de junio de 1979. Disponível em <http://sirio.ua.es/libros/BGeografia/ley_de_aguas/ima0007.htm>. Acesso em 02/06/2014.

166 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
ESPAÑA. Real Decreto Legislativo 1 de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de águas. Disponível em <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276> acessado em 02/06/2014.
GARRIDO, Alberto. Analysis of Spanish Water Law Reform. In: BRUNS, Bryan Randolph. RINGLER, Claudia. MEINZEN-DICK, Ruth. Water rights reform: lessons for institutional design. Washington, D.C, IFPRI, 2005. p.217-235, Ilus. Disponível em <http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base= REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=31797&index Search=ID> acessado em 02/06/2014.
GRUBBA, Leilane Sertine. Direito Ambiental e Humano: A complexidade na questão da água. Revista Veredas do Direito. 2012; Vol.9, n. 18:37-57.
GUERRA, Eduardo José Mitri. El Derecho al água: Naturaleza jurídica y proteccion legal em los âmbitos nacionales e internacional. Madrid: Iustel, 2012.
HIRATA, Ricardo. Recursos Hídricos. In: Teixeira, Wilson; TOLEDO, M. Cristina Motta de et al (orgs.). Decifrando a Terra. 3. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.
JOANESBURGO. Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sus-tentável. Disponível em <www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?= temas&cd=598>. Acesso: 04 de jun. De 2014.
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22. ed. S.Paulo: Malheiros, 2014.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – conceito e legiti-mação para agir. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
MEIRELLES, Direito administrativo brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malhei- ros, 2000.
MEDEIROS, Fernanda Luiza fontoura. Meio Ambiente Direito e Dever Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 167
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente- a gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código Civil ano-tado e legislação extravagante. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000.
POMPEU, Cid Tomanik. Águas doces no Direito brasileiro. In: REBOUÇAS, Aldo da Cunha et al (org). Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006.
REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Aldo Cunha Rebouças at al (orgs.). In: Águas Doces no Brasil: Capital ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 2006.
SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
SILVA, José Robson da. Paradigma Biocêntrico: do Patrimônio Privado ao Patrimônio Ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de octubre de 2012. Comisión Europea contra Reino de España. Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Planes hidrológicos de cuenca - Publicación y notificación a la Comisión - Información y consulta públicas - Inexistencia. Asunto C-403/11. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/;jsessionid=tGWJTTyVmqhq GvMYPnxKbRF9KT8s1MncDWJPc81Vc3p6NzgsPCT7!1770240370? uri=CELEX:62011CJ0403> acessado em 02/06/2014.
UNION EUROPEA. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000. por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de águas. Disponível em <http://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf> acessado em 02/06/2014.
WATERTIME. D10k: Watertime National Context Report – Spain. Dis-ponível em <http://www.watertime.net/wt_reports.html> acessado em 02/06/2014.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 169
a política nacional sobre mudança do clima e a responsabilidade comum,
porém diferenciada
Fernanda Brusa Molino1
Luciana Cordeiro de Souza2
Resumo
O presente trabalho busca apresentar as principais características da Lei Fe- deral nº 12.187/09, conhecida popularmente como Política Nacional sobre Mu-dança do Clima (PNMC), de forma a evidenciar o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, consagrado no Direito Internacional Ambiental, o qual é de grande relevância para a efetivação desta Política, tanto interna como externamente. Outrossim, tendo em vista o fato de que o estado de São Paulo instituiu uma Política Estadual sobre Mudança do Clima - Lei estadual nº 13.798/2009, e o município de São Paulo também legislou neste sentido através da Lei municipal nº 14.933/2009, trazemos um breve comparativo entre estas Políticas e a Política Nacional de Mudança do Clima.
Palavras-chave
Mudança climática; Responsabilidade comum, porém diferenciada; Equi-dade.
Abstract
This study presents the main features of the Federal Law No. 12.187/09, popularly known as the National Policy on Climate Change (NPCC), in order to show the principle of common but differentiated responsibility established in the International Environmental Law, which is of great important for the realization
1 Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. Advogada e Professora Mestra de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCC e do Centro Universitário SENAC de São Paulo. E-mail: [email protected].
2 Professora Doutora de Direito da Faculdade de Ciências Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas –UNICAMP. Rua Pedro Zaccaria, 1300 - Jd. Santa Luiza, CEP 13484-350, Limeira, SP, Brasil. E-mail: [email protected].

170 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
of this Policy, both internally and externally. Furthermore, in view of the fact that the state of São Paulo established a State Policy on Climate Change – State Law n.13.798/2009, and the city of São Paulo also legislated to that effect by Bylaw n. 14933/2009, bring a brief comparison between these policies and the National Policy on Climate Change.
Key words
Climate Change; Common but differentiated responsibilities; Equity.
1. introdução
Os acontecimentos naturais mais devastadores que ocorreram nos últimos anos, como tsunamis, terremotos, enchentes e secas descomunais nas mais diversas regiões do planeta, nos leva a analisar e refletir sobre nossas atitudes para com nossa casa Terra.
Tudo o que está acontecendo no planeta será o reflexo de nossas condutas? Nossas atividades pouco planejadas, almejando apenas a lucratividade e um desenvolvimento sem o cuidado com o meio ambiente podem ter influenciado e gerado tais consequências ambientais.
Vemos que esta é uma preocupação atual, e apesar de há muito já ser dis-cutida, esta questão evidencia-se na década de 80 com a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (Intergovernmental Panelon Climate Change – IPCC).
O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima publicou em seu Relatório Especial sobre Gerenciamento de Riscos de Eventos Extremos e Desastres para o Avanço da Adaptação à Mudança Climática, datado de 2012, que “extremos climáticos, ou mesmo uma série de não eventos extremos, combinados com vulnerabilidades sociais e exposição ariscos pode causar desastres relacionados ao clima”3.
3 “Climate extremes, or even a series of non-extreme events, in combination with social vulnerabilities and exposure to risks can produce climate-related disasters, the IPCC said in its Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 171
Neste Relatório (SREX) do IPCC foram avaliados novos estudos e resultados de modelagem global e regional que não estavam disponíveis quando foi elaborado o seu quarto relatório de avaliação em 2007, considerado o último documento que tratava da maior avaliação no tema relacionado à mudança climática e, a partir disto chegaram as seguintes conclusões:
- Poderá ocorrer o aumento no comprimento ou no número de períodos quentes ou ondas de calor em muitas regiões do globo;
- Provável aumento na frequência de eventos de precipitação intensa ou aumento na proporção do total de chuvas pesadas em muitas áreas do globo, em especial nas latitudes elevadas e regiões tropicais;
- Projeção de aumento na duração e intensidade de secas em algumas regiões do mundo, incluindo o sul da Europa e da região mediterrânea, Europa Central, América do Norte, América Central e México, nordeste do Brasil e África do Sul4.
Desta forma, podemos afirmar com veemência que o aquecimento global ocasionado pela emissão de gases de efeito estufa que geram o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar ocorrem e continuam a ocorrer, contrariamente ao que foi informado recentemente na mídia, de que esta preocupação não teria fundamentação científica.
Tal entendimento pode ser retomado ainda como clara preocupação do mundo nos debates da Rio+20. Tanto que no encontro do C40, reunião entre os 40 prefeitos das principais cidades do mundo, estes objetivavam firmar um
Climate Change Adaptation (SREX)”. Disponível em <http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/srex/srex_press_release.pdf.>. Acesso em 5 jun 2012.
4 “The SREX has assessed a wealth of new studies, and new global and regional modeling results that were not available at the time of the Fourth Assessment Report in 2007, its last major assessment of climate change science. Some important conclusions delivered by the SREX therefore include: - Medium confidence in an observed increase in the length or number of warm spells or heat waves in many regions of the globe.- Likely increase in frequency of heavy precipitation events or increase in proportion of total rainfall from heavy falls over many areas of the globe, in particular in the high latitudes and tropical regions, and in winter in the northern mid-latitudes.- Medium confidence in projected increase in duration and intensity of droughts in some regions of the world, including southern Europe and the Mediterranean region, central Europe, central North America, Central America and Mexico, northeast Brazil, and southern Africa”. Disponível em <http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/srex/srex_press_release.pdf.>. Acesso em 5 jun 2012.

172 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
acordo almejando a redução da emissão de gases de efeito estufa. Tais autoridades visam aplicar políticas sustentáveis conjuntamente buscando soluções efetivas para a mudança climática5.
Notícia veiculada recentemente pela revista Nature, atesta estudos que “reve-lam que as constantes mudanças climáticas ameaçam a Terra, podendo provocar, em, algumas décadas, um fenômeno descrito em inglês como state shift que pode ser compreendido como mudança de Estado, no sentido de uma transformação radical dos mais variados ecossistemas”6.
Na mesma reportagem, o autor canadense da Simon FrasierUniversity afirma que é sabido que a biosfera está mudando em virtude da atividade humana, mas a dúvida persiste no sentido de que se “esta é uma questão sobre se será uma mudança gerenciável ou uma mudança abrupta”, e, complementa que, “devemos ter motivos para crer que poderá ser uma mudança abrupta e surpreendente”7.
Diante de tal cenário devemos adotar medidas para amenizar tais impactos ao planeta, e isto começa a tomar forma efetivamente através do Protocolo de Quioto e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
2. protocolo de quioto e a convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima aconte-ceu em 1992, sendo aberta à assinatura pelos Estados na Cúpula da Terra durante a RIO-92, reconhecendo a necessidade de ações mais eficazes objetivando a redução dos efeitos negativos ao meio ambiente.
5 Portal C40 Cities Climate Leadership Group. Disponível em:<http://www.c40.org/>. Acesso em 14 jun 2014.
6 MUNRO, Margaret. Postmedianews. Earth reaching an environmental ‘state shift’: Report. Disponível em <http://www.canada.com/technology/Earth+reaching+environmen tal+state+shift+Report/6739547/story.html.> Acesso em 7 jun 2012.
7 “It’s a question of whether it is going to be manageable change or abrupt change,” he says. “And we have reason to be the change may be abrupt and surprising.”Margaret Munro apud Arne Mooers. Postmedianews. Earth reaching an environmental ‘state shift’: Report. Disponível em <http://www.canada.com/technology/Earth+reaching+ environmental+state+shift+Report/6739547/story.html.> Acesso em 7 jun 2012.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 173
Justamente por existir um permanente debate sobre as mudanças climáticas com a Convenção, foi possível a adoção de compromissos adicionais para enfrentar as mudanças no clima.
A primeira revisão para adequar os compromissos estabelecidos pelos países desenvolvidos objetivando a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa aos níveis de 1990 até o ano 2000 ocorreu na primeira sessão da Convenção, durante a Conferência das Partes (COP-1) em Berlim no ano de 19958.
A segunda Conferência das Partes (COP-2) aconteceu em 1996 em Genebra. Nesta Conferência reconheceu-se o segundo Relatório de Avaliação do IPCC, e ainda evidenciou que o aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera nas medidas daquele ano levaria a uma interferência perigosa no sistema climático do planeta9.
Consequentemente, isto levou as Partes a decidirem pela criação de obrigações legais de metas de redução por meio da Declaração de Genebra. Permitiu-se o apoio financeiro, já que tomaram a decisão de que os países em desenvolvimento poderiam pedir à Conferência das Partes apoio financeiro visando o desenvolvimento de programas de redução de emissões através de recursos oriundos do Fundo Global para o Meio Ambiente10.
O texto que conhecemos como Protocolo de Quioto só foi aprovado na terceira sessão da Conferência das Partes (COP-3), que ocorreu em dezembro de 1997 na cidade de Quioto. Neste documento foi estabelecido as metas de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para os países desenvolvidos como também foram definidos critérios e diretrizes para a utilização dos mecanismos de mercado. Trata-se do documento ambiental mais importante feito pela ONU, justamente por tratar de uma proposta concreta para inicializar o processo de estabilização de emissões de gases de efeito estufa11.
8 UNFCCC. Conferencia das Partes. Primeira Sessão. Berlim, 28 de março – 7 abril de 1995. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf>. Acesso em 14 jun 2014.
9 UNFCCC. Conferencia das Partes. Segunda Sessão. Genebra, 8 a 19 de julho de 1996. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop2/15a01.pdf>. Acesso em 14 jun 2014.
10 UNFCCC, 1996.11 UNFCCC. Conferencia das Partes. Terceira Sessão. Quioto, 1 a 11 de dezembro de 1997.
Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf>. Acesso em 14 jun 2014.

174 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Através do Protocolo de Quioto os países desenvolvidos contidos no Anexo B12 do mesmo documento assumiram o compromisso de reduzir a emissão de poluentes em pelo menos cinco por cento (5%) abaixo dos níveis registrados em 1990, entre o período de 2008 a 201213, como se observa a seguir:
Artigo 3.1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas emissões antropogênicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não excedam as suas quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com os seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste Artigo, com vista à redução das suas emissões totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012.14
O Protocolo de Quioto apesar de celebrado em 1997, entrou em vigor somente em 16 de fevereiro de 2005 após a adesão da Rússia. Isto aconteceu porque a condição para a sua entrada em vigor se baseava na ratificação de um grupo de países, que em conjunto, respondessem por no mínimo cinquenta e cinco por cento (55%) das emissões globais de gases prejudiciais.
Seguindo a mesma tendência da Convenção-Quadro, o Protocolo de Quioto estabeleceu responsabilidades comuns, porém diferenciadas visando estimular o desenvolvimento sustentável do planeta.
Convém ressaltar que os países em desenvolvimento ainda não estão obriga-dos a cumprir metas de redução de emissões estabelecidas no Protocolo dentro do primeiro período do compromisso, ficando assim livres das obrigações os países participantes como Brasil, China e Índia.
12 Países integrantes do Anexo B do Protocolo de Quioto: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Checa, Romênia, Suécia, Suíça, Ucrânia.
13 De modo geral, as metas são de 5,2% das emissões de 1990, porém alguns países assumiram compromissos maiores: Japão – 6%, União Europeia – 8% e Estados Unidos, que acabaram não ratificando o acordo, 7%.
14 Protocolo de Quioto. Disponível em <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12425.pdf>. Acesso em: 1 jun 2012.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 175
Foi também estabelecido no Protocolo de Quioto mecanismos adicionais de implementação, permitindo que as reduções de emissão de GEE pelos países desenvolvidos sejam obtidas além de suas fronteiras nacionais.
Consequentemente, verifica-se três mecanismos de flexibilização no Protocolo: Implementação Conjunta (Joint Implementation – JI), Comércio Internacional de Emissões (Emission Trading – ET) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean DevelopmentMechanism- CDM). Tais mecanismos têm por escopo permitir aos países desenvolvidos o cumprimento de seus compromissos de redução de emissão além de seus territórios, através da troca de cotas de emissões e obtenção de crédito por meio da realização de projetos que objetivam a redução de emissões em outros países.
Tais mecanismos devem ser entendidos como um incentivo para que o Protocolo seja cumprido, tendo em vista que a redução de emissão acaba gerando benefícios globais, independentemente do local em que ocorreu, auxiliando na mitigação da mudança do clima do planeta.
Deve ser considerado que os mecanismos de flexibilização constituem instrumento de cooperação internacional no alcance ao objetivo final do Protocolo de Quioto e não como “licenças para poluir” ou “isenção da necessidade de implementar políticas domésticas de redução”, como salienta Alessandra Lehmen15.
No Brasil, o Protocolo foi firmado em 29 de abril de 1998 e, em junho de 2002 o Congresso Nacional aprovou o texto do Protocolo, sendo que ainda em 2002, o Brasil já havia ratificado o documento internacional.
Merece destaque o fato de que o Brasil foi o primeiro país emergente a criar normas de regulamentação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo antes mesmo da entrada em vigor do Protocolo de Quioto.
Em síntese, o Protocolo de Quioto tornou-se muito benéfico ao Brasil, justamente porque o país faz uso de mecanismos limpos e resgate de carbono na
15 Apud MENEGOTTO, Marília Gouveia. Protocolo de Kyoto no Brasil: o processo de certificação de projetos brasileiros no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 12, 2008, São Paulo. Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso sustentável de Energia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, V. 2, p 527.

176 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
atmosfera. Apesar disto devemos evidenciar que os principais focos de emissão de gases nocivos no Brasil acontecem através de desmatamento e queimadas.
2.1. princípios
Nos dois textos internacionais podemos elencar a presença de alguns princípios importantes para o direito internacional ambiental como o do direito ao desenvolvimento sustentável, da precaução, da equidade intergeracional, da cooperação e da responsabilidade comum, porém diferenciada.
Primeiramente trataremos do princípio ao desenvolvimento sustentável, sendo que este deve ser considerado um dos pilares do Direito Ambiental.
Teve como origem o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente das Nações Unidas denominado Nosso futuro comum (Our Common Future) ou Relatório de Brundtland quando a expressão apareceu no seguinte trecho: “é sustentável o desenvolvimento tal que permite satisfazer nossas necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas”16.
A expressão desenvolvimento sustentável só voltou a ter notoriedade com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 1992 – RIO-92, ou popularmente conhecida como ECO-92. Nesta Conferência foi elaborada a Agenda 21 que enfatizava novamente a ideia de desenvolvimento e de preservação do meio ambiente andando em compasso, de forma a contabilizar riquezas em coexistência com a preservação dos recursos minerais.
Neste sentido, ensina Alves que:
Por desenvolvimento sustentável devemos conceber o processo de crescimento econômico em que se procura preservar o meio ambiente, levando-se em conta os interesses das futuras gerações, como positivamente aponta o artigo 225 da Constituição Federal17.
Resumidamente podemos considerar que o princípio do desenvolvimento sustentável corresponde à compatibilização entre a proteção ao meio ambiente e
16 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Disponível em <http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#I>. Acesso em 01 jun 2012.
17 ALVES, Sergio Luiz Mendonça. Estado Poluidor. São Paulo: Juarez, 2003, p. 38.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 177
o progresso econômico, assim visa coadunar uma harmonização entre a mitigação dos possíveis danos ao meio ambiente e o desenvolvimento das atividades econômicas dos mais variados setores. Este princípio encontra-se insculpido no artigo 225, caput, bem como no artigo 170, VI da Constituição Federal brasileira.
O princípio da precaução é explicitado na Declaração do Rio, de 1992:
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental18. (grifo nosso)
Do mesmo modo, Antunes afirma:
O princípio da cautela é o princípio jurídico ambiental apto a lidar com situações nas quais o meio ambiente venha a sofrer impactos causados por novos produtos e tecnologias que ainda não possuam uma acumulação histórica de informações que assegurem, claramente, em relação ao conhecimento de um determinado tempo, quais as consequências que poderão advir de sua liberação no ambiente19.
Este princípio, em suma, visa justamente adotar medidas para precaver danos ao meio ambiente quando não há certeza científica de suas consequências, sendo de fundamental importância para o Direito Ambiental e tendo grande relevo na ordem interna de cada país. A precaução se encontra presente no artigo 225 da Constituição Federal.
Quanto ao princípio da cooperação entre os povos, ele está expresso em três principais textos internacionais ambientais sendo eles: a Agenda 21, a Convenção sobre Diversidade Biológica e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
18 Declaração Do Rio, artigo 15. Disponível em <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 07 jun 2012.
19 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 33.

178 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Tal primado também é encontrado na nossa Constituição Federal, em seu artigo 4º, IX:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
(...)
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; (grifo nosso)
(...)
Tal princípio é de extrema importância para o Direito Internacional, jus-tamente porque necessita da cooperação mútua entre vários Estados buscando atingir determinados objetivos, e neste caso veremos que será utilizado para mitigar danos ao meio ambiente do planeta como um todo, por se tratar de mudança climática que interage com variadas regiões, não sendo esta estática.
Vale ressaltar ainda o ensinamento de Milaré:
A implementação do princípio não importa em renúncia à soberania do Estado ou à autodeterminação dos povos, em alinhamento, aliás, com o disposto no princípio 2 da Declaração do Rio, segundo o qual “os Estados, de conformidade com a Carta das nações unidas e com os princípios de Direito Internacional, tem o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados oi de área além dos limites da jurisdição nacional”20.
O princípio da equidade ou solidariedade intergeracional é um princípio do Direito Internacional e muito presente em tratados internacionais ambientais, justamente por proteger o futuro das sociedades, evidenciando a responsabilidade da sociedade presente.
Evidencia-se ainda a preocupação com a preservação dos recursos naturais que são finitos e, por essa razão, deve-se ter responsabilidade no seu uso pela geração atual, para que as gerações futuras também venham a usufruir do mesmo recurso.
20 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6. Ed. São Paulo: RT, 2009, p. 835.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 179
Tal princípio também tem destaque em nossa Constituição Federal no artigo 225, caput:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (grifo nosso)
Veremos que este princípio se complementa com o do desenvolvimento sustentável, justamente visando a proteção do meio ambiente para o futuro, ou seja, de seus recursos naturais para atender as gerações ainda por vir.
Milaré ainda ressalta a existência da solidariedade sincrônica e diacrônica:
A primeira, sincrônica (“ao mesmo tempo”), fomenta as relações de cooperação com as gerações presentes, nossas contemporâneas. A segunda, a diacrônica (“através do tempo”), é aquela que se refere às gerações do após, ou seja, as que virão depois de nós, na sucessão do tempo21.
O princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada será tratada posteriormente, evidenciando sua importância para este trabalho.
3. lei federal nº 12.187/2009 - política nacional de mu-dança do clima
A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional de Mudança do Clima no Brasil. Referida Política surgiu posteriormente às legislações municipal e estadual de São Paulo sobre mudança climática, sendo todas instituídas no mesmo ano de 2009.
De forma a se compatibilizar com as demais Políticas Nacionais de natureza ambiental, esta lei oferece alguns conceitos básicos no seu artigo 2º, como das expressões sumidouro, mudança climática, mitigação, gases de efeito estufa entre outros, no sentido de oferecer a conceituação técnica para a aplicação da lei.
21 MILARÉ, 2009, p. 820.

180 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
No artigo 3º encontram-se elencados os princípios norteadores desta legisla-ção, os quais deverão ser observados nas ações decorrentes desta Política, a serem executadas sob a responsabilidade dos entes públicos e órgãos da administração pública, como o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio da participação cidadã, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas22, sendo este último no âmbito internacional.
Nesta esteira, de forma sucinta apresentaremos tais princípios, ressaltando que o princípio da precaução já foi brevemente explicado no ponto 1.2., assim passamos ao princípio da prevenção.
Convém salientar que as expressões: prevenção e precaução, para alguns doutrinadores são consideradas como sinônimos, causando diversos equívocos; no entanto, analisando com maior rigor e critério, veremos que a prevenção se distingue da precaução.
22 Art. 3º. A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte:
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional;
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas;
VI – (VETADO)

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 181
No caso da prevenção, este alcança danos já conhecidos para o meio ambiente, as consequências de determinados impactos já são conhecidas; diferentemente da precaução que, justamente em virtude da falta de certeza e conhecimento científico prima-se pela preservação por não se ter a informação suficiente que possa conferir certeza de que determinada atividade não gerará danos e riscos para o meio ambiente.
Analisando os ensinamentos de Antunes temos que “o princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros mais prováveis23”.
O princípio da participação cidadã se relaciona com o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, pois se trata da cooperação entre o Estado e a sociedade, colocando o cidadão e a sociedade como atores principais e não mais coadjuvantes na defesa do meio ambiente. Desta forma, abandona-se a ideia do indivíduo de figurar apenas no polo passivo, aguardando a reação da Administração Pública na defesa do meio ambiente.
Neste princípio pressupõe-se que o indivíduo também deva ter direito ao acesso à informação, pois sendo ofertadas as informações necessárias, melhores condições terá a sociedade em atuar e se articular para a tomada de decisões e busca de soluções relacionadas à temática de proteção ao meio ambiente. E para que a informação seja compreendida, a Educação Ambiental se torna uma ferramenta primordial.
Tal princípio também figura na Declaração do Rio de 1992 e no artigo 225 da Constituição Federal quando expressamente estabelece que “a coletividade tem o dever de defender e preservar o meio ambiente”.
Devemos ainda ressaltar a presença do princípio da equidade ou solidariedade intergeracional estampada no inciso I, do artigo 3º da Lei, tendo sido este também já abordado. O último princípio que trata da responsabilidade comum, porém diferenciada será brevemente tratada em um ponto específico.
23 ANTUNES, 2006, p. 39.

182 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
No artigo 4º encontram-se listados os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, consistentes na redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa, à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do clima, a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima e a preservação e recuperação de recursos ambientais especialmente como os biomas naturais, entre outros.
No artigo 5º, encontramos as diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima, considerando os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil entre eles a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto e outros tratados sobre mudança climática. Destacando-se que existirá a adoção de estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nas várias esferas como a local, regional e nacional e também o desenvolvimento de pesquisas cientificas visando a mitigação das mudanças no clima, entre outras diretrizes.
Importa salientar que o Brasil promoverá a cooperação internacional para o financiamento, capacitação, desenvolvimento e transferência de tecnologias e processos para implementar ações de mitigação e adaptação, permitindo inclusive o intercâmbio de informações.
Tais mecanismos também são adotados no Protocolo de Quioto, quando trata do financiamento e adoção de mecanismos de flexibilização, como o mecanismo de desenvolvimento limpo.
Outrossim, para efetivação desta Política Nacional diversos são os instrumen-tos criados pela Lei 12187/09, presentes no artigo 6º, são eles: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, os Pla- nos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas, a comunicação nacional do Brasil junto a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção dos gases de efeito estufa, o oferecimento de linhas de credito e financiamentos específicos de agentes financeiros, os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima que existam de acordo com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Protocolo de Quioto, entre outros.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 183
Cabe destacar neste ponto, o estímulo do uso de mecanismos de flexibilização presentes no Protocolo de Quioto.
No artigo 7º, destacam-se o Comitê Interministerial sobre Mudança do Cli-ma, a Comissão Ministerial, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima entre outros, tidos como instrumentos institucionais. Todos os entes mencionados foram criados em virtude da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto.
No artigo 9º ficou estabelecido que o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) será feito em bolsas de mercadorias e futuros, em bolsas de valores e entidades de balcão organizado, sempre autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), possibilitando a negociação de títulos mobiliários referentes à emissões de gases de efeito estufa evitadas e certificadas.
No parágrafo único do artigo 11, estabeleceu-se a realização de planos setoriais de mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas objetivando a consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono com o uso de mecanismos de desenvolvimento limpo nos seguintes setores:
• Geraçãoedistribuiçãodeenergiaelétrica;
• Transportepúblicourbano;
• Sistemasmodaisdetransporteinterestadualdecargaepassageiros;
• Indústriasdetransformação;
• Indústriasdebensdeconsumoduráveis;
• Indústriasquímicasfinaedebase;
• Indústriasdepapelecelulose;
• Mineração;
• Indústriadeconstruçãocivil;
• Serviçosdesaúde;
• Agropecuária.
No artigo a seguir encontramos a questão mais polêmica presente nesta Lei em debate:

184 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
Assim vemos que o Brasil estabeleceu uma meta de redução de emissão de ga- ses causadores de efeito estufa em níveis que variam de 36% a quase 39%. Até então, em nenhum outro texto legal encontraremos metas de redução estabelecidas para o Brasil, nem mesmo no Protocolo de Quioto, o qual desobrigou os países em desenvolvimento na redução. O que devemos ressaltar é que se trata de um compromisso voluntário. Isto se justifica pelo fato da desobrigação que o Protocolo de Quioto estabeleceu e que foi recepcionado por nossa legislação interna.
4. o princípio da responsabilidade comum, porém di-ferenciada
A ideia princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada teve origem no conceito de equidade presente no Direito Internacional. Entretanto, no âmbito do Direito Ambiental esta equidade não pode ser traduzida para a mera expressão de igualdade, mas sim deve se adotar um tratamento diferenciado a cada grupo de países, como aconteceu no Direito Comercial Internacional ao retratar a nova ordem econômica internacional com a adoção da Cláusula da Nação mais favorecida.
Outrossim, na seara internacional todos os países devem ter um tratamento igualitário, mas como sabido, estes não são iguais em suas características, sendo assim, é adotado no campo comercial internacional um tratamento diferenciado para cada grupo de países.
No âmbito Ambiental, a ideia de igualdade está presente, e ao se adotar uma comparação com a seara comercial, verificamos as diferenças entre os vários países, notadamente quanto ao grau de desenvolvimento e poluição gerada esta diferenciação se estabelece.
Diante de tal explicação, ante a necessária preservação do meio ambiente, todos os países possuem responsabilidade, sendo este um interesse comum de

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 185
todos, devendo todos contribuir para tal finalidade, quer se trate de um país desenvolvido ou em desenvolvimento.
Data vênia, conclui-se que a responsabilidade de cada país será diferenciada, ou seja, sua cota de responsabilidade será distinta entre os vários países, prin-cipalmente no campo ambiental, posto que os países desenvolvidos e mais industrializados, historicamente contribuíram muito mais com a poluição ora existente em nosso planeta.
Desta feita, às emissões de gases causadores de efeito estufa que contribuem para a mudança no clima, devemos aplicar cotas diferenciadas de responsabilidade para a redução e mitigação desses efeitos em virtude da maior contribuição de emissão de gases por parte dos países desenvolvidos.
Assim, o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada surgiu em virtude dos problemas ambientais de grandes proporções, especialmente aqueles envolvendo a proteção da atmosfera e das mudanças climáticas. Estando este presente também na Convenção-Quadro nas Nações Unidas sobre Mudança do Clima e se repetindo nas legislações nacionais sobre a mesma temática.
Assim, o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada visa estabelecer uma equidade de tratamento aos países já que possuem graus de poluição diferenciados, como leciona Consuelo Yoshida:
O princípio em apreço, previsto nos artigos 3.1 e 3.2 da Convenção-Quadro, afirma que devem ser consideradas as necessidades específicas e as circunstâncias especiais das Partes Países em Desenvolvimento, e, tendo em vista a situação mais frágil destes últimos, que a iniciativa de ações de combate à mudança do clima e seus efeitos advenha dos países desenvolvidos. Preconiza ainda que aquele que utiliza técnicas intensivas de carbono (ou seja, os países desenvolvidos) há mais tempo que os menos desenvolvidos, por questão de equidade, tem o dever de contribuir proporcionalmente às emissões históricas, arcando com a maior parte do ônus de mitigar os efeitos adversos da mudança do clima 24.
24 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda M. Mudanças Climáticas, Protocolo de Quioto e o Princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. A posição estratégica singular do Brasil.

186 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Em síntese podemos considerar que este princípio objetiva estabelecer as responsabilidades históricas de cada Estado frente ao dano causado, que no nosso estudo trata-se das mudanças climáticas ocasionadas pela emissão de gases de efeito estufa.
Com a aplicação do princípio da responsabilidade comum, porém diferencia-da, vemos que todos serão responsabilizados pelas emissões, no entanto, deve-se estabelecer a gradação de emissões ao longo dos tempos, levando em conta que com o crescimento industrial dos países desenvolvidos, que aconteceu muito anteriormente aos países em desenvolvimento, estes deveriam arcar com uma carga maior de responsabilidade, visando estabelecer uma equidade de tratamento entre todos os Estados de modo equivalente.
Através deste princípio evita-se a imposição de sanções acima do que realmente deveriam ser impostas, auxiliando assim no oferecimento de condições igualitárias de desenvolvimento econômico e industrial dos países em desenvolvimento que contam com um decréscimo se comparados com os países desenvolvidos.
A ideia deste princípio fundamenta-se na questão histórica e também na questão econômica-social. Analisando a história, veremos que a industrialização aconteceu primeiramente nos países que hoje são considerados desenvolvidos, como o Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha.
Diante deste fato histórico, através de um raciocínio lógico, veremos que os níveis de emissões de gases de efeito estufa foram lançados em maior número do que se compararmos com os países em desenvolvimento como o Brasil, China e Índia.
Através desta análise, conclui-se que justamente em decorrência da indus-trialização precoce, existiu um avanço econômico e social destes países atualmente considerados desenvolvidos, o que acabou prejudicando o meio ambiente com a emissão de poluentes.
Não podemos neste caso aplicar o mesmo grau de responsabilidade pela poluição de países desenvolvidos e em desenvolvimento, justamente porque
Alternativas energéticas, avaliação de impactos, teses desenvolvimentistas e o papel do Judiciário. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 12, 2008, São Paulo. Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso sustentável de Energia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, V. 1, p 95.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 187
os níveis de emissão são distintos, bem como o seu grau de industrialização, o acúmulo de riquezas e desenvolvimento social.
Caso apliquemos um único patamar de responsabilização, estaríamos prejudicando e muito os países em desenvolvimento que ainda não atingiram o mesmo grau de desenvolvimento industrial, econômico e social que os desenvolvidos.
Desta forma, diante desse raciocínio justifica-se a aplicação de responsabilida-des diferenciadas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, no tocante a questão de emissão de gases de efeito estufa.
Importante ressaltar que esse princípio não estimula a poluição dos países em desenvolvimento até atingir o mesmo grau que os países desenvolvidos. Ocorre justamente o contrário, porque através deste princípio os países em desenvolvimento são incentivados a criarem e utilizarem mecanismos mais limpos para o desenvolvimento industrial-econômico, e ainda os conscientiza de que em virtude da poluição desenfreada ocasionada pelos países desenvolvidos, deve a história seguir outro rumo primando pela preservação do meio ambiente, uma vez que no mesmo encontram-se limitações e não se constituem como fonte inesgotável de recursos.
Outro aspecto importante a ser destacado diz respeito a obrigação de assistência, como ensina Fontana:
Países desenvolvidos devem auxiliar países em desenvolvimento no cumprimento das obrigações assumidas no âmbito internacional, através da transferência de tecnologia e de recursos financeiros. Trata-se da “ajuda para auto-ajuda”, na forma da chamada capacitybuilding25.
Com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima fi-cou estabelecida apenas a obrigação dos países desenvolvidos na redução de emissões de gases causadores de efeito estufa.
25 FONTANA, Bernardo Becker. Responsabilidades Comuns, porem diferenciadas, na proteção do clima global. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 12, 2008, São Paulo. Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso sustentável de Energia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, V. 2. p. 11.

188 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Assim, considerando o princípio da responsabilidade comum, porém di-ferenciada, o Brasil não tem obrigação alguma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), sendo que a única responsabilidade que o Brasil tem consiste na elaboração e publicação periódica do inventário nacional de emissões antrópicas, bem como de informar à Conferência das Partes (COP) as medidas adotadas para implementação da Convenção.
No âmbito da legislação interna, considerando a Política Nacional de Mudança no Clima verificamos também a diferenciação das responsabilidades e assim passaremos a analisar os principais responsáveis em conformidade com este princípio, com base no ordenamento supra mencionado.
4.1. administração pública
O papel da Administração Pública é atribuído aos entes públicos nas variadas esferas, seja municipal, estadual e federal, conforme estabelecem os artigos 3º, V, e 5º, V da Lei nº 12.187/09, e o princípio constitucional da obrigatoriedade da intervenção estatal, insculpido no art. 225, caput, parte final.
Ao discutir o tema sob esta ótica devemos considerar as pessoas de direito público interno, justamente porque estas têm o dever de fiscalização, posto seu dever constitucional de defesa e preservação do meio ambiente e, a par disto, também pode figurar como ente poluidor propriamente dito.
E mesmo no caso desta figurar como poluidora indireta, devemos analisar a solidariedade da União, do Estado e do Município em danos ambientais provocados por terceiros, neste sentido aduz Milaré que “o Estado também pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais provocados por terceiros, já que é seu dever fiscalizar e impedir que tais danos aconteçam” 26.
Assim, as pessoas jurídicas de direito público interno também são responsáveis segundo o princípio da responsabilidade comum, porem diferenciada.
4.2. a sociedade
Consideraremos aqui também o princípio da participação cidadã, justamente porque a sociedade não pode mais figurar somente no pólo passivo das questões
26 MILARÉ, 2009, p. 966.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 189
ambientais, devendo assumir um papel ativo nessas questões, tornando-se pro-tagonista e não mais mero espectador na importante missão da defesa e proteção do meio ambiental, e para tanto, devemos relacionar este princípio com o direito a informação presente na Política Nacional de Meio Ambiente, ainda mais por pertencer a um país considerado democrático, a sociedade deve agir ante os impactos que afrontem o equilíbrio ambiental garantido pela atual Constituição Federal. Assim, este agir torna-se essencial para efetivação desta garantia.
A sociedade atualmente exerce um grande papel no cenário ambiental, implantando a ideia ecológica e de sustentabilidade acaba se materializando na sociedade através da educação ambiental.
Assim, por meio da Política Nacional de Mudança do Clima a sociedade também será responsável, uma vez que adota medidas e as solidifica dentro do cenário nacional, gera poluição ambiental e deve adotar medidas para redução de emissão de gases de efeito estufa.
A sociedade acaba estampando o ordenamento anteriormente citado em muitos de seus dispositivos, participando desde o debate até mesmo na adoção de medidas que auxiliem na mitigação desta problemática.
4.3. setores econômicos
Por último, não devemos nos esquecer de alguns setores que contribuem de modo mais direto para a emissão de gases de efeito estufa, como o caso das indústrias dos mais diversos setores, que foram elencadas no parágrafo único do artigo 11 da Lei em debate.
Os setores em destaque aqui são os de geração e distribuição de energia elé-trica; transporte público urbano e interestadual de carga e de passageiros; indústria de transformação; indústria de bens de consumo duráveis; indústrias químicas fina e de base; indústria de papel e celulose; mineração; indústria de construção civil; serviços de saúde e agropecuária.
Analisando a Política Nacional de Mudança do Clima vemos que estes setores econômicos são os que mais contribuem na emissão de gases de efeitos estufa (GEEs), contribuindo com a emissão de grandes quantidades de metano e dióxido de carbono entre outros gases.

190 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Assim, a Política Nacional de Mudança do Clima elencou os principais setores visando que estes adotem medidas para mitigar a poluição, utilizando medidas e políticas verdes.
Ainda, incentivou-se, na referida Lei, o desenvolvimento de mecanismos de flexibilização, presentes no Protocolo de Quioto, o que acaba auxiliando em muito, não só as indústrias, o setor industrial, mas também o Brasil como um todo, em todos os seus setores produtivos, pois acaba reduzindo os níveis considerados de emissão e, em contrapartida, a redução certificada de emissão poderá ser comercializada nas Bolsas de Valores.
Assim, percebemos que este princípio também pode ser entendido como uma responsabilidade compartilhada entre os vários entes, e o resultado que, a princípio se apresenta apenas como interno, poderá surtir efeitos globais.
5. breve comparativo da política nacional com as políticas do estado de são paulo e a do município de são paulo sobre mudança do clima
Numa breve análise comparativa entre a Política Nacional e a Política Esta-dual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo (Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009), verificamos que a Política Estadual paulista é anterior à Nacional. Além disso, a Política Estadual mostra-se muito mais completa que a Política Nacional, pois legisla sobre medidas mais concretas que a Nacional, abarcando também a questão dos recursos hídricos, do transporte, do uso do solo entre outros.
Quanto aos princípios, quase todos são mencionados, com exceção do poluidor pagador que não figura na Política Nacional.
No tocante ao princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, Políticas tratam também da cooperação entre os vários setores, entre eles as indústrias, Administração pública e sociedade. Sendo que os setores econômicos abarcados são praticamente os mesmo citados na Política Nacional.
A Política Estadual trata ainda da avaliação ambiental e do registro público das emissões, ferramentas informativas que não estão presentes na Política Nacional.
E, quanto a Política Municipal de Mudanças do Clima de São Paulo (Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009), ao ser comparada a Política Nacional, percebe-se

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 191
também que a Política Municipal é anterior a Nacional. Entretanto, verificamos que ambas estabelecem uma meta de redução de emissões, que no caso da Política Municipal corresponde a porcentagem de 30% no ano de 201227.
Cabe destacar o fato de que na Política Municipal foi estabelecido um Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA), que a respeito dos princípios desta, salientamos que além dos encontrados na Política Nacional, abarca ainda o princípio do poluidor pagador e da abordagem holística. E, agrega todos os setores da sociedade, indústrias, entes públicos e sociedade.
Outrossim, a Política Municipal mostra-se muito mais completa que a Nacional abarcando questões sobre o uso do solo, transporte, construção, energia, gerenciamento de resíduos entre outros.
Em suma, vemos que as Políticas Estadual e Municipal paulista se asseme-lham muito com a Nacional, evidenciando uma preocupação presente em todas no tocante a mitigação da emissão de gases que afetem o clima e a adoção de novos mecanismos que permitam isso.
6. conclusões
Diante do exposto é latente que a mudança no clima é uma preocupação em todas as regiões do mundo, sendo adotadas medidas locais visando assim atingir os objetivos internacionais primeiramente estabelecidos.
Notamos que o Brasil é um dos países que mais se preocupa com a temática, e também acaba sendo um dos personagens que mais faz uso de energias limpas, mas mesmo assim não apresenta um cenário ideal.
Os princípios elencados na Política em debate complementam e justificam a problemática do efeito estufa e da sua mitigação. Quanto ao princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada verificamos a sua importância
27 Lei nº 14.933/09. Art. 5º. Para a consecução do objetivo da política ora instituída, fica estabelecida para o ano de 2012 uma meta de redução de 30% (trinta por cento) das emissões antrópicas agregadas oriundas do Município, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Protocolo de Quioto (anexo A), em relação ao patamar expresso no inventário realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e concluído em 2005.
Parágrafo único. As metas dos períodos subsequentes serão definidas por lei 2 (dois) anos antes do final de cada período de compromisso.

192 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
para a questão da mudança climática no âmbito global, uma vez que se encontra assentado nos diferentes níveis de poluição dos países, sem olvidar para um ponto fundamental que é o interesse comum em preservar o meio ambiente, independente de seu grau como poluidor.
Realizando este estudo de legislações nacionais e internacionais tem-se um entendimento mais amplo da razão e da importância da mitigação de emissão de gases de efeito estufa e, acima de tudo, na divulgação e alerta sobre a reversão do cenário atual para um nível cada vez menor, evidenciado a importância de participação da sociedade como um todo e não apenas de alguns poucos entes rotulados como poluidores diretos.
Todo cidadão deve ter a consciência de que toda atitude, por menor que seja, influencia no nível de poluição do planeta, e não devemos apenas nos preocupar com o aspecto global, mas precipuamente com o que nos é mais próximo, como nossas cidades, onde verdadeiramente a vida acontece. De forma a adotar, a partir desta constatação, uma visão ampla dos efeitos que nossas decisões poderão refletir na melhoria das condições ambientais.
Assim, mesmo destacando toda a proatividade e a iniciativa do Brasil na ado-ção de Políticas sobre mudança climática em vários âmbitos e esferas de governo, como também na implementação do Protocolo de Quioto e da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, vemos que o Brasil ain- da tem muito a fazer, principalmente com o desenvolvimento maior de meca-nismos que permitam o sequestro de carbono e a mitigação de emissões.
7. referências
ALVES, Sergio Luiz Mendonça. Estado Poluidor. São Paulo: Juarez, 2003.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade Civil e Proteção ao Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 2010.
BRASIL, Constituição Federal de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 10 jun 2014.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 193
BRASIL, Lei 12.187/09. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em 10 jun 2014.
DANTAS, Marcelo Buzaglo; SEGUIN, Elida; AHMED, Flavio(coord.). O Direito Ambiental na Atualidade: Estudos em homenagem a Guilherme José Purvin de Figueiredo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
GALLI, Alessandra (coord.). Direito Socioambiental: homenagem a Vladimir Passos de Freitas. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2011. V. 1.
______. Direito Socioambiental: homenagem a Vladimir Passos de Freitas. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2011. V. 2.
FONTANA, Bernardo Becker. Responsabilidades Comuns, porem diferenciadas, na proteção do clima global. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 12, 2008, São Paulo. Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso sustentável de Energia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, V. 2. p. 3 – 16.
MENEGOTTO, Marília Gouveia. Protocolo de Kyoto no Brasil: o processo de certificação de projetos brasileiros no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AM-BIENTAL, 12, 2008, São Paulo. Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso sustentável de Energia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, V. 2. p 525 – 539.
MCT. Protocolo de Quioto. Disponível em <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12425.pdf>. Acesso em: 1 jun 2012.
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6. Ed. São Paulo: RT, 2009.
MUNRO, Margaret. Postmedianews. Earth reaching an environmental ‘state shift’: Report. Disponível em: <http://www.canada.com/technology/Ear th+reaching+environmental+state+shift+Report/6739547/story.html.> Acesso em 7 jun 2012.
ONU, Declaração Do Rio. Disponível em <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 07 jun 2012.

194 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
PHILIPPI JR, Arlindo; ALVES, Alaor Caffe; ROMERO, Marcelo de Andrade (edit.). Meio Ambiente, Direito e Cidadania. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Direito, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Núcleo de Informações em Saúde Ambiental: Signus Editores, 2002.
PORTAL C40 CITIES Climate Leadership Group. Disponível em: <http://www.c40.org/>. Acesso em 14 jun 2014.
SÃO PAULO. Lei 13798/09. Disponível em: <http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/820042/politica-estadual-de-mudancas-climaticas-lei-13798-09>.
SÃO PAULO. Lei 14.933/09. Disponível em: <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt= 06062009L%20149330000>.
SOUZA, Rafael Pereira de (coord.) Aquecimento Global e Créditos de Carbo-no: aspectos jurídicos e técnicos. São Paulo: QuartierLatin, 2007.
UNFCCC. Conferencia das Partes. Primeira Sessão. Berlim, 28 de março – 7 abril de 1995. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf>. Acesso em 14 jun 2014.
______. Conferencia das Partes. Segunda Sessão. Genebra, 8 a 19 de julho de 1996. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop2/15a01.pdf>. Acesso em 14 jun 2014.
______. Conferencia das Partes. Terceira Sessão. Quioto, 1 a 11 de dezembro de 1997. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf>. Acesso em 14 jun 2014.
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda M. Mudanças Climáticas, Protocolo de Quioto e o Princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. A posição estratégica singular do Brasil. Alternativas energéticas, avaliação de impactos, teses desenvolvimentistas e o papel do Judiciário. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 12, 2008, São Paulo. Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso sustentável de Energia. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, V. 1. p. 93 – 112.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 195
a proteção da propiedade intelectual e cultural dos indígenas na américa do
sul: o papel do mercosul
Anna Walléria Guerra Uchôa1
Valmir César Pozzetti2
Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo tratar do desenvolvimento de normas de reconhecimento e proteção aos direitos indígenas na América do Sul em virtude da união e cooperação entre os países membros do Mercosul, a partir da complexidade das normas de Direito Comunitário Positivo frente à integração entre normas constitucionais nacionais e normas internacionais de cunho econômico e cultural, ou seja, normas de direito internacional público embasadas na validade interestatal dos tratados comunitários, em especial no âmbito do direito latino-americano que consolida a integração do Mercosul. Dessa forma conclui-se que a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos deve atingir os direitos indígenas às suas terras e recursos nela existentes, assim como o chamado etnoconhecimento destas comunidades tradicionais. O desenvolvimento de normas para reconhecimento e proteção dos direitos indígenas na américa do Sul, tem um impacto direto sobre a necessidade da proteção da biodiversidade mundial e uso de recursos naturais e genéticos, que se encontram em terras indígenas. A metodologia utilizada nesta pesquisa é a bibliográfica, de cunho qualitativo, com uso da legislação, doutrina, jurisprudência e Tratados Internacionais.
1 Doutoranda em Ciências Jurídicas pela UCA – Universidade Católica da Argentina – Buenos Aires. Co-orientanda do Prof. Dr. Valmir César Pozzetti; Mestra em Direito Público pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catariana; Advogada; Professora do Centro de Ensino Superior do Amazonas.
2 Doutor em Direito Ambiental pela Universitè de Limoges/França. Professor Adjunto da UFAM – Univ. Federal do Amazonas; Professor Adjunto da UEA – Univ. do Estado do Amazonas; Coordenador do Mestrado em Direito Ambiental da UEA; Co-orientador de teses na UCA – Universidade Católica da Argentina, Buenos Aires.

196 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Palavras-chave
Mercosul; Indígenas; Etnoconhecimento.
Resumen
Esta investigación tiene como objetivo comprender el desarrollo de normas pa-ra el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas en América del Sur debido a la unidad y la cooperación entre los países miembros del Mercosur, de la complejidad de las normas del Derecho comunitario positivo hacia la integración entre los organismos nacionales constitucionales y normas internacionales de carácter económico y cultural; es decir, las normas del derecho internacional público sobre la base de la validez interestatal de los Tratados comunitarios, en particular en el contexto de la legislación latinoamericana, que consolida la integración del Mercosur. Por lo tanto se concluye que la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos debe llegar a los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos de los mismos, así también el etnoconocimiento de estas comunidades tradicionales. El desarrollo de normas para el reconocimiento y protección de los derechos indígenas en América del Sur tiene un impacto directo sobre la necesidad de protección de la biodiversidad mundial y el uso de los recursos naturales y los recursos genéticos que se encuentran en tierras indígenas. A metodologia utilizada nesta pesquisa é a bibliográfica, de cunho qualitativo, com uso da legislação, doutrina, jurisprudência e Tratados Internacionais. La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa com literatura orientada, con el uso de la legislación, doctrina, jurisprudencia y tratados internacionales.
Palabras clave
Mercosur; Indígenas; Etnoconocimiento.
1. introdução
O desenvolvimento de normas de reconhecimento e proteção aos direitos indígenas na América do Sul tem repercussão direta na necessidade de proteção da biodiversidade mundial, tendo em vista o alto potencial biotecnológico da região. A utilização dos recursos naturais e do patrimônio genético encontrado

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 197
nas regiões amazônicas, por exemplo, impulsiona a comunidade científica a desenvolver tecnologias importantes para a indústria e o comércio mundial.
Neste cenário atual, a comunidade internacional busca soluções na in-tegração regional para o fortalecimento dos diversos setores da economia, sem perder de vista a sustentabilidade. Neste mesmo caminho pode-se entender a união e cooperação entre os países membros do Mercosul, que apesar de sua fraca efetividade contemporânea, deve buscar sua real existência a partir da complexidade das normas de Direito Comunitário Positivo, frente à integração entre normas constitucionais nacionais e normas internacionais de cunho econômico e cultural; ou seja, normas de direito internacional público embasadas na validade interestatal dos tratados comunitários, em especial no âmbito do direito latino-americano que consolida a integração do Mercosul.
Em contrapartida, a partir da ampla contribuição das comunidades tradicio-nais para o desenvolvimento sustentável da biodiversidade do planeta, pois elas possuem o conhecimento especializado da biodiversidade de seu ambiente, faz-se necessário o aprimoramento da discussão na comunidade internacional acerca da repartição dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais.
Com base nessa integração regional fundada no fenômeno comunitário, tam-bém a garantia dos direitos humanos nasce como uma forma de reconhecimento da dignidade essencial da pessoa humana, não apenas no âmbito regional de Estados que integram as comunidades, mas também no direito internacional dos Tratados, consolidando a universalização da igualdade dos direitos humanos, inclusive dos povos indígenas em sua peculiaridade cultural.
A Constituição Brasileira de 1988 estabelece em seu Art. 4º, parágrafo único, “ a formação de uma comunidade latino-americana das nações, pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da Amércia Latina”.
Este cenário consolida a necessidade de união para garantir a efetividade da proteção aos direitos das minorias, incluindo os indígenas e outras sociedades tradicionais, especialmente no que se refere aos direitos humanos, aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado. Esta posição é essencial para a sustentabilidade da biodiversidade mundial na atualidade.

198 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
O reconhecimento dos direitos humanos na construção da integração inter-nacional do Direito Comunitário, seja regional ou universal, está vinculado à garantia do reconhecimento dos direitos indígenas, especialmente no que diz respeito ao seu modo de vida, à riqueza de seu conhecimento acerca do seu habitat e à propriedade inerente à sua diversidade cultural. A proteção universal dos direitos humanos tornou-se essencial e imperativo ante o fenômeno da globalização e transcende os limites do Estado e até mesmo do Direito Comunitário.
Um dos mais importantes instrumentos internacionais de proteção da bio-diversidade mundial é a Convenção Nacional sobre a Diversidade Biológica (CDB), firmada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente (CNUMAD) em 1992, no Rio de Janeiro.
Esta Convenção tem três bases principais: a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. E ainda, a CDB se refere à biodiversidade em três níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos.
Portanto, a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da uti-lização os recursos genéticos deve atingir, efetivamente, os direitos indígenas às suas terras e recursos nela existentes, assim como o chamado etnoconhecimento.
Esta pesquisa não pretende fazer um exaustivo exame da atuação legal de cada país integrante do Mercosul na proteção da propriedade intelectual indígena, mas abordar o contexto internacional relacionado ao tema e demonstrar a importância da inserção de normas efetivas no âmbito do Mercosul, tendo em vista o alto potencial econômico dos recursos naturais das terras indígenas e do conhecimento tradicional desenvolvido pelos povos indígenas nestas áreas, cobiçados por todos os países dos demais blocos regionais.
2. o mercosul como modelo de integração e desen-volvimento dos países da américa do sul
A união aduaneira dos países da América do Sul, conhecido como o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, tem o objetivo de estabelecer o livre-comércio entre os países Membros e o desenvolvimento da política comercial comum, mas

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 199
também de fortalecer a união dos países da América do Sul no contexto político mundial.
Hoje, o Mercosul é composto pela seguintes países : República Argentina, República Federativa de Brasil, República do Paraguai, República do Uruguai e República Bolivariana da Venezuela. A Bolívia solicitou o seu ingresso no Bloco a partir de dezembro de 2012 e se encontra em proceso de adesão.
Ademais, existem outros países da América do sul que tem feito acordos com o Mercosul, eles são : Chile, Colômbia, Equador e Peru. Estes são chamados de Estados Associados.
A América do Sul passou por importantes fatos históricos no processo de emancipação política no século XIX, o que destacou os contrastes existentes entre os países sul americanos. O fortalecimento da união entre os países da América do Sul alcança obstáculos em suas próprias relações diplomáticas. Entre estes mais importantes fatos está a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai, a independência da República Oriental do Uruguai, a Revolução Farroupilha, a disputa entre unitários e federalistas na Argentina.
O Brasil, por exemplo, consolidou constitucionalmente a integração latino americana, quando estabeleceu em sua Carta Maior:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas rela- ções internacionais pelos seguintes princípios:
(...) omissis.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. (grifou-se).
No entanto, de acordo com Borges (2009, p. 204), “a eficácia desta norma constitucional brasileira não é plena, mas depende dos tratados internacionais como instrumento juridicamente adequado para a sua integração, inclusive o MERCOSUL”.
Para Borges (2009, p. 204), esta norma “deve ser efetivada por tratados internacionais, como o Tratado de Assunção, institutivo do MERCOSUL”.

200 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Assim, importante é falarmos um pouco sobre o Mercosul, para entendermos o contexto e o alcance dos normas juridicas nele produzidas.
2.1. mercosul: breve histórico
Foi durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, que o Brasil e a Argentina tentaram, pela primeira vez, a criação de uma União Aduaneira entre as suas economias, mas seus diferentes pontos de vista em relação às políticas do Eixo, após o ataque a Pearl Harbor, não permitiram a concretização da aliança. Mesmo com o fim da guerra e a formação de diversos blocos econômicos para alavancar o desenvolvimento dos países atingidos pelos conflitos, a América Latina não conseguiu resultados satisfatórios.
A Declaração do Iguaçu, em 1985, assinada pelo Brasil e Argentina, estabele-ceu uma comissão bilateral e uma série de acordos comerciais que serviram de ponto de partida para o fortalecimento da união, e em 1988, estes países assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que fixou como meta o estabelecimento de um mercado comum para os países latino-americanos.
Em 1991, o Paraguai e o Uruguai também se uniram ao Brasil e à Argentina, e se tornaram signatários do Tratado de Assunção, que estabeleceu o MERCADO COMUM DO SUL, visando dinamizar a economia regional.
Portanto, originalmente o bloco foi composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas o Paraguai foi temporariamente suspenso em virtude da saída do seu Presidente, Fernando Lugo, o que tornou possível, em 31 de julho de 2012, a adesão da Venezuela, pois até então o Paraguai vetava sua participação como membro pleno.
Atualmente, a Bolívia e o Chile adquiriram o status de associados.
Segundo Borges (2009, p. 210), “ a falta de um tribunal permanente era tido como uma das fontes de insegurança jurídica nesse bloco de integração, mas o Protocolo de Olivos, em vigor desde 2004, criou o Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do Mercosul, com sede na cidade de Assunção”.
É no artigo 1º do Tratado de Asunción, que encontramos a definição do Mercosul:

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 201
Art. 1º. El tratado constitutivo del bloque, el MERCOSUR implica:
1. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;
2. el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales;
3. la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;
4. el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”
De acordo com Francisco Rezek (2011, p. 314):
O Mercosul está em vias de superar a fase da zona de livre comércio (...) tornando-se em pouco tempo mais, uma perfeita união aduaneira”. E ainda que o “seu objetivo vai além, e em algum tempo mais essa organização regional poderá configurar um mercado comum, onde o planejamento da economia seja feito pelo grupo.
Esta afirmação revela que o Mercosul ainda está em fase de estruturação e efetivo aprimoramento, tendo em vista que não conseguiu desenvolver os objetivos firmados de forma satisfatória.
No entanto, de acordo com José Borges (2009, p. 329), “ o MERCOSUL não pode ser considerado exclusivamente econômico, tendo em vista que o modelo de integração inclui entre os seus objetivos, por exemplo, “a proteção ao meio ambiente, como o faz o Tratado de Assunção”.
E segue Borges (2009, p. 329) informando que:

202 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Apesar da separação conceitual entre direitos humanos e as liber-dades fundamentais do espaço comunitário, liberdade de circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais, a preservação destas liberdades “implica o reconhecimento e a garantia de direitos humanos pelos Estados-partes.
Já para Rechsteiner (2012, p. 383), apesar da contínua evolução da integra- ção econômica, o Mercosul “não se caracteriza ainda como organização supra-nacional porque não é composto por órgãos comunitários com a competência de legislar com autonomia em relação aos Estados-membros do Mercosul”.
Esta questão se dá porque nem todos as Constituições nacionais dos países participantes do Mercosul permitem a transferência de parte de sua soberania para órgãos comunitários.
A perpectiva da universalidade dos direitos humanos tem caráter suprana-cional, vale dizer que a efetiva integração comunitária dos direitos humanos depende da institucionalização desses direitos no texto constitucional de cada Estado-parte.
Rechsteiner (2012, p. 383) declara que “o direito comunitário se manifesta, porém, com maior ou menor âmbito de integração, como um fenômeno regional, constituído assim, por blocos de Estados, como a União e as Comunidades Européias e o MERCOSUL”.
Com base nesse cenário, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, firmaram em 2005, o Protocolo de Assunção sobre o Compromisso com a Promoção dos Direitos Humanos no MERCOSUL.
Vejamos, então, quais são esses direitos que o bloco assegura como funda-mentais, para se manter a harmonia e a rpoteção jurídica.
2.2. os direitos humanos no mercosul
A construção normativa jurídico-economica dos blocos regionais está associada à integração político fundamental que visa preservar e fortalecer o regime democrático dos Estados membros.
Neste sentido, Borges (2009, p. 330) esclarece que:
Em se tratando de MERCOSUL podemos perceber, a partir de certo nível de integração comunitária, que as liberdades

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 203
individuais, manifestação do direito à vida, são incompatíveis com regimes políticos totalitários; são incompatíveis com a dimensão internacional de direitos humanos (...) a formação e a integração de um mercado comum que não privilegie, entre seus objetivos fundamentais, a proteção desses direitos no espaço comunitário.
Diversos Protocolos foram anexados ao Tratado de Assunção para ade- quar a estrutura do Mercosul às mudanças ocorridas em razão da dinâmica presente no processo de integração ao longo do tempo. Entre os principais protocolos firmados pelos países participantes do Mercosul destaca-se, por sua importância, o Protocolo de Assunção, firmado em 2005, sobre o Compromisso com a Promoção e Proteção dos direitos Humanos no Mercosul.
Nesta perspectiva, o Protocolo de Assunção deverá ser aplicado aos casos de violações graves e sistemáticas aos direitos humanos e às liberdades fundamentais em países-membros do Mercosul quando de crise institucional ou de vigência de estado de exceção.
O Protocolo de Assunção sobre o Compromisso com a Promoção dos Direi-tos Humanos no MERCOSUL determina normas de proteção, promoção e garantia dos Direitos Humanos e liberdades individuais como fundamental e indispensável para a consolidação do processo de integração.
O Conselho do Mercado comum informa, neste Protocolo, que esta decisão não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes, por regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do MERCOSUL.
Vejamos o que o Protocolo estabelece:
[...]
REAFIRMANDO os princípios e normas contidos na Declara-ção Americana de Direitos e deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e outros instrumentos regionais de direitos humanos, assim como na Carta Democrática Interamericana;
RESSALTANDO o expressado na Declaração e no Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, que a democracia, o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais são conceitos interdependentes que se reforçam mutuamente;

204 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
SUBLINHANDO o expressado em distintas resoluções da As-sembléia Geral e da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, que o respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais são elementos essenciais da democracia;
RECONHECENDO a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e inter-relação de todos os direitos humanos, sejam direitos econômicos, sociais, culturais, civis ou políticos;
REITERANDO a Declaração Presidencial de Porto Iguaçu de 8 de julho de 2004 na qual os Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL destacaram a alta prioridade atribuída à proteção, promoção e garantia dos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas que habitam o MERCOSUL;
REAFIRMANDO que a vigência da ordem democrática constitui uma garantia indispensável para o exercício efetivo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, e que toda ruptura ou ameaça ao normal desenvolvimento do processo democrático em uma das Partes põe em risco o gozo efetivo dos direitos humanos;
[...]
ACORDAM O SEGUINTE:
ARTIGO 1 A plena vigência das instituições democráticas e o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais são condições essenciais para a vigência e evolução do processo de integração entre as Partes.
ARTIGO 2 As Partes cooperarão mutuamente para a promoção e proteção efetiva dos direitos humanos e liberdades fundamentais através dos mecanismos institucionais estabelecidos no MERCOSUL.
ARTIGO 3 O presente Protocolo se aplicará em caso de que se registrem graves e sistemáticas violações dos direitos humanos e liberdades fundamentais em uma das Partes em situações de crise institucional ou durante a vigência de estados de exceção previstos nos ordenamentos constitucionais respectivos. A tal efeito, as demais Partes promoverão as consultas pertinentes entre si e com a Parte afetada.
ARTIGO 4

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 205
Quando as consultas mencionadas no artigo anterior resultarem ineficazes, as demais Partes considerarão a natureza e o alcance das medidas a aplicar, tendo em vista a gravidade da situação existente.
Tais medidas abarcarão desde a suspensão do direito a participar deste processo de integração até a suspensão dos direitos e obrigações emergentes do mesmo.
ARTIGO 5 As medidas previstas no artigo 4 serão adotadas por consenso pelas Partes e comunicadas à Parte afetada, a qual não participará no processo decisório pertinente. Essas medidas entrarão em vigência na data em que se realize a comunicação respectiva à Parte afetada.
ARTIGO 6 As medidas a que se refere o artigo 4 aplicadas à Parte afetada, cessarão a partir da data da comunicação a dita Parte de que as causas que as motivaram foram sanadas. Tal comunicação será transmitida pelas Partes que adotaram tais medidas.
Com base neste texto, pode-se perceber que o Mercosul tem papel fundamental no desenvolvimento de normas que garantam a proteção dos direitos econômicos, sociais, civis, políticos, e até mesmo dos direitos ditos culturais; portanto, também exerce importante função na proteção dos direitos indígenas dos países membros.
Os direitos humanos não era tema do direito interncional até o século XX. A Carta de São Francisco, em 1946, consolidou os direitos humanos na Organização das Nações Unidas (ONU), mas foi em 1948 que a Declaração Universal dos Direitos do Homem aclamou as normas substantivas que inspiraram a legislação dos Estados soberanos integrantes da ONU.
No entanto, conforme Rezek (2011, p. 255), “essa declaração não institui qualquer órgão internacional de índole judiciária ou semelhante para garantir a eficácia de seus princípios, nem abre ao ser humano, enquanto objeto de proteção, vias concreta de ação contra o procedimento estatal, caso ofensivo aos seus direitos”.
Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica, através de órgãos destinados para acompanhar o cumprimento

206 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
dos compromissos firmados entre os Estados pactuantes, garante vigência à Convenção sobre os direitos do homem, de 1969.
Neste sentido, podemos dizer com tranquilidade que, no âmbito do Direito Internacional há várias normas protetivas dos Direitos Humanos, e Culturais dos Indígenas, conforme veremos a seguir.
3. direitos econômicos, sociais e culturais dos po-vos indígenas
A efetividade, da obrigatoriedade imposta à sociedade internacional, dos compromissos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos foi estabelecida pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1966, juntamente com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
A partir deste pacto foi possível exigir a responsabilidade internacio-nal dos Estados signatários, em caso de violação dos direitos ali consagrados. Cabe aos Estados-partes o acompanhamento da situação destes direitos. Este acompanhamento deve permitir ao Estado a elaboração de relatórios periódicos, avaliando o grau de sua implementação, e as dificuldades para fazê-lo, enquanto a supervisão do Pacto cabe ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU.
Os direitos econômicos, sociais e culturais são universais e indivisíveis, cujo conceito se confunde com o conceito de direitos humanos. Tal atributo foi reconhecido de forma incontestável pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, de Viena, em 1993.
A relação indissociável entre os aspectos econômico, social e cultural com o civil e político dos direitos humanos, foi objeto de eloqüente advertência do juris-ta Antônio Augusto Cançado Trindade, em memorável palestra na IV Conferên-cia Nacional de Direitos Humanos, proferida nos seguintes termos3:
3 Relatório da Sociedade Civil sobre o Cumprimento, pelo Brasil, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Brasília, 2000, in www.camara.gov.br, acesso em 04 de julho de 2013.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 207
De que vale o direito à vida sem o provimento de condições mí- nimas de uma existência digna, se não de sobrevivência (ali-mentação, moradia, vestuário)? De que vale o direito à liberdade de locomoção sem o direito à moradia adequada? De que vale o direito à liberdade de expressão sem o acesso à instrução e educação básica? De que valem os direitos políticos sem o direito ao trabalho? De que vale o direito ao trabalho sem um salário justo, capaz de atender às necessidades humanas básicas? De que vale o direito à liberdade de associação sem o direito à saúde? De que vale o direito à igualdade perante a lei sem as garantias do devido processo legal? E os exemplos se multiplicam. Daí a importância da visão holística ou integral dos direitos humanos, tomados todos conjuntamente. Todos experimentamos a indivisibilidade dos direitos humanos no quotidiano de nossas vidas. Todos os direitos humanos para todos, é este o único caminho seguro para a atuação lúcida no campo da proteção dos direitos humanos. Voltar as atenções igualmente aos direitos econômicos, sociais e culturais, face à diversificação das fontes de violações dos direitos humanos, é o que recomenda a concepção, de aceitação universal em nossos dias, da interrelação ou indivisibilidade de todos os direitos humanos.
O reconhecimento internacional dos costumes e valores das populações indígenas é essencial para a construção de normas jurídicas que garantam o respeito aos direitos indígenas. Neste sentido, conforme veremos a seguir, esses diversos mecanismos jurídicos, no âmbito do Direito Internacional.
3.1. acordos de cooperação internacional para o re- conhecimento dos direitos indígenas e do conhe-cimento tradicional associado
Diversos Acordos e Tratados Internacionais discutem a importância da preser-vação ambiental e da proteção dos povos indígenas como importante instrumen-to de sustentabilidade ambiental, tendo em vista o reconhecimento da gestão harmônica do patrimônio ambiental das terras indígenas e dos conhecimentos tradicionais destes povos como fonte de riqueza para o desenvolvimento das nações.
A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) de 1992, gerada no Rio de Janeiro na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD),

208 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
é um dos mais importantes instrumentos legais de proteção e conservação ambiental da atualidade. Os objetivos da CDB são:
1. Conservação da diversidade biológica;
2. A utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a trans-ferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias e mediante financiamento adequado.
Tendo em vista que a cooperação regional é um mecanismo de utilização e proteção dos recursos biológicos da América do Sul, o MERCOSUL tem papel fundamental no desenvolvimento de normas de cooperação internacional entre os países Membros, que efetivem a proteção dos direitos indígenas para a garantia da perfeita harmonia entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade dos recursos naturais potencialmente econômicos existentes nas terras indígenas, especialmente do conhecimento tradicional dos povos indígenas, acerca da biodiversidade destas áreas.
A CDB também estabelece em seu preâmbulo, entre outras, a importância e a necessidade de promover a cooperação internacional, regional e mundial entre os Estados e as organizações intergovernamentais e o setor não governamental, para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes.
De acordo com Antunes (2012, p. 458):
A CDB reconhece, também, que as populações indígenas e comunidades locais têm colaborado ativamente na conservação da diversidade biológica e que, em função disso, tais comunidades devem merecer o devido reconhecimento internacional, sendo recompensados não só pela conservação, mas igualmente, em razão do conhecimento tradicional que detêm sobre os segredos existentes em seu habitats.
Outro importante instrumento internacional de proteção dos direitos dos povos indígenas e tribais é a Convenção 169 da Organização Internacional do

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 209
Trabalho (OIT), que reconheceu os direitos indígenas à sua identidade, línguas e crenças, de acordo com seus próprios costumes, dentro dos Estados nacionais em que se encontrem.
E ainda, outro documento importante no campo da cooperação internacional entre os países americanos é o Tratado de Cooperação Amazônica, assinado em 1978, pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Este Tratado reconheceu a importância dos povos indígenas e do meio ambiente na região amazônica internacional. No entanto, este tratado não contempla a proteção dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas.
O direito dos povos indígenas aos benefícios gerados pelo acesso aos recursos naturais de suas terras e a utilização de seus conhecimentos tradicionais, contextualiza o atual panorama internacional que se molda no princípio do desenvolvimento sustentável. Neste cenário, a Convenção 169 da OIT reconheceu a contribuição dos povos indígenas à diversidade cultural e à sustentabilidade ambiental.
De acordo com a Convenção 169 da OIT, os povos indígenas têm o direito aos recursos naturais existentes em suas terras e devem ser consultados sobre a exploração ou prospecção desses recursos, e ainda que, os povos indígenas têm o direito de participar dos benefícios que as atividades exploratórias produzirem.
Esta Convenção adota o critério de auto identificação para o reconhecimento dos povos indígenas, estabelecendo no item 2 do seu artigo 1º, que a consciência da identidade indígena deverá ser considerada critério fundamental para determinar os grupos a que se aplicam as disposições da Convenção.
Outra importante medida da Convenção 169 da OIT, conforme relata Stefanello (2011, p. 45) : “ está disposto no artigo 7º, que estabelece a adoção de medidas de cooperação pelos governos “com os povos para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam”.
E complementa Stefanello (2011, p.46) que “além de contemplar a preser- vação ambiental como importante forma de manutenção da cultura e sobrevivên-cia dos povos, tal dispositivo também assegura o direito destas comunidades de habitarem seus territórios tradicionais”.

210 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Assim, percebe-se que os direitos dos povos indígenas está assegurado por normas Internacionais, no âmbito dos direitos humanos, devendo ter aplicação imediata no regramento interno dos países partícipes deste instrumentos internacionais.
3.2. o conhecimento tradicional dos povos indígenas acerca da biodiversidade que os cercam
A biodiversidade é, atualmente, o centro das atenções na busca por avanços na área de biotecnologia. Os Estados ricos em biodiversidade são tidos como pontos estratégicos para o desenvolvimento sustentável mundial, e o acesso a esta riqueza é imprescindível para o desenvolvimento biotecnológico; portanto, alvo de constantes disputas e debates.
Atualmente, a comunidade internacional busca compatibilizar, através das conferências e tratados internacionais, valores aparentemente antagônicos: o crescimento econômico e tecnológico e a proteção ambiental.
O desenvolvimento sustentável tornou-se tema de alta relevância para a garan-tia de futuro no planeta, devendo ser observado em qualquer área e por qualquer nação, pois o uso sustentável do patrimônio genético gera mais riquezas para o Estado que o detêm, além de garantir a criação de novas atividades econômicas.
Nesta seara, a maioria dos povos indígenas, que vivem em áreas ambiental-mente ricas, tem conseguido manter sua biodiversidade intacta, e durante muitas gerações utilizam os recursos naturais de forma sustentável para viver em harmonia com a natureza. O uso tradicional destes recursos lhes garante alimentação saudável, a cura de enfermidades, entre outros benefícios e atividades.
As comunidades tradicionais e os povos indígenas são detentoras, não só de terras altamente ricas em biodiversidade, como também do conhecimento acerca da melhor forma de utilização destes recursos. Portanto, tem alto potencial de desenvolvimento industrial (ou de outra natureza) o acesso ao conhecimento tradicional associado através da obtenção de informação destas comunidades (especialmente de comunidades indígenas), para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou, ainda, a bioprospecção; ou seja, a atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e a informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 211
Importante destacar que o acesso e a utilização desse conhecimento profundo acerca da biodiversidade (que as comunidades tradicionais desenvolveram ao lon-go do tempo, sejam os povos indígenas, os seringueiros ou os ribeirinhos), retirado de forma gratuita por quem o explore, leva ao desenvolvimento de pesquisas fundamentais para humanidade, sendo, na grande maioria das vezes, o resultado destas pesquisas e processos de obtenção de novas tecnologias patenteadas, sem a devida repartição dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos associados.
As terras indígenas, na maioria das vezes, são áreas ainda não atingidas pela urbanização e transformações humanas, com ampla vegetação nativa e animais de variadas espécies, tendo um alto potencial biológico, sendo alvo de coleta irregular de material para pesquisa em diversas áreas.
No entanto, nem sempre o acesso aos recursos destas áreas ou a própria pesqui-sa é autorizada pelo Estado, e nem sempre tem o conhecimento e o consentimento prévio das comunidades pesquisadas. Este consentimento é essencial para a garantia do respeito aos povos indígenas e os direitos que possam gerar.
O conhecimento das populações indígenas, passado de geração a geração, acerca de uma planta que utilizam para determinados problemas de saúde, ou do veneno de um animal e seus antídotos, é uma riqueza imensurável para pesquisadores e laboratórios, pois este conhecimento tradicional associado aos recursos biológicos diminui em muitos anos o desenvolvimento da pesquisa, que passa a ser mais segura e menos dispendiosa, pois milhões de dólares também são economizados.
Os benefícios do uso comercial ou industrial do chamado etnoconhecimento deve ser elencado como um direito indígena, respeitado pelas nações que se apropriam desse patrimônio, sendo garantida a repartição destes benefícios às populações indígenas, inclusive o direito de decidirem sobre o uso deste saber.
4. a biopirataria: desrespeito à propriedade intelec-tual e ao patrimônio genético dos povos indígenas
A rica biodiversidade dos países da América do Sul é alvo dos interesses econômicos dos países mais ricos do planeta, pois o potencial econômico desse

212 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
patrimônio é imensurável. O patrimônio genético destes países, especialmente da região amazônica, é de suma importância para o desenvolvimento de novos medicamentos e tecnologias.
Apesar de muitas discussões acerca da biodiversidade mundial e de diversos Acordos e Tratados Internacionais envolvendo o tema, não existe legis-lação específica na maioria dos países acerca da troca de material genético e conhecimentos tradicionais, permitindo não só o uso indevido dos recursos naturais como também a apropriação do saber das populações indígenas sem a devida repartição dos benefícios.
Este cenário, de omissão e ineficiência legal, estimula a biopirataria e o pa-tenteamento indevido de material genético das populações indígenas, pois estas são hipossuficientes em relação às grandes empresas e países detentores de tecnologias e capacitação para o desenvolvimento de pesquisas, que proporcionem o desenvolvimento econômico das diversas áreas de estudo.
É necessário garantir uma legislação eficiente que impeça a utilização indevi-da dos recursos naturais dos países da América do Sul, e a união entre estes países para coibir o patenteamento fora de cada um deles, da sua riqueza ambiental.
O direito internacional público trabalha com o conceito de segurança ambiental, entendida como a proteção ambiental em longo prazo, garantindo a segurança das espécies e da atmosfera.
A biopirataria é a forma mais grave e prejudicial ao conhecimento tradicio-nal dos povos indígenas associado à biodiversidade, do ponto de vista ambiental, ético e econômico. Outro problema que afeta a perpetuação e a transmissão do conhecimento através das gerações é a extinção dessas populações.
Por tudo isso, é extremamente necessário que os Estados busquem incorporar e regulamentar em suas legislações internas, os Tratados Internacionais e ainda, efetivamente fiscalizar com rigidez o cumprimento destas normas.
4.1. a propriedade intelectual e cultural dos povos in- dígenas
Segundo a Organizção das Nações Unidas e a Convenção da Organização Mundial da Propiedade Intelectual, o conceito de propriedade intelectual está

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 213
ligado ao monopólio concedido pelo Estado aos direitos relativos às obras literá-rias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.
Aqui se faz importante destacar o Acordo TRIPS (ADICPS), assinado por 127 países. Este Acordo trata especificamente dos direitos de propriedade intelectual e faz parte do Tratado geral que criou a OMC, que consolidou os aspectos gerais do relacionamento comercial entre os países e que concluiu a chamada “Rodada do Uruguai” do GATT (Acordo geral de tarifas e comércio).
Por sua vez, os direitos de propriedade intelectual podem definir-se como aqueles que se conferem às pessoas sobre as suas criações, podendo se tratar de direitos autorais ou direitos de propriedade industrial. Os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas acerca da biodiversidade que o cerca podem ser de- nominados de direitos autorais, enquanto toda e qualquer descoberta que tenha origem na fauna ou na flora, recursos naturais encontrados em terras indígenas, e que possa gerar tecnologia ou invenção, denominamos de direitos de propriedade industrial.
Estabelece o TRIPS, que um membro poderá recusar-se a patentear uma invenção em função de três fatores:
a) Proteção da ordem pública e da moralidade
b) Proteção da vida ou da saúde humana, animal ou vegetal
c) Proteção do meio ambiente
O art. 27.3 do Acordo Trips trata da patente de plantas e animais e da proteção do conhecimento tradicional. O titular de patente de um produto tem o direito de impedir que terceiros, sem sua autorização, usem, vendam ou ofereçam à venda, ou ainda importem tal produto.

214 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Para os Estados Unidos da América o TRIPS não é compatível com a Conven-ção da Biodiversidade. Para o Brasil e para a União Européia há compatibilidade. No entanto, enquanto a União Européia entende que a revisão do acordo deve ser apenas uma adequação de linguagem, o Brasil entende que o artigo 27.3 deve ser reescrito, incorporando os dispositivos da CDB.
A Conferência Internacional sobre direitos de propriedade intelectual e cultural dos povos indígenas, realizada na Nova Zelândia em 1993, reconheceu a insuficiência dos modelos oficiais de proteção da propriedade intelectual para assegurar os direitos dos povos indígenas.
De acordo com Antunes (2012, p. 561), merecem destaque as seguintes recomendações desta Conferência:
1. Desenvolver um código de ética que assegure que, quando houver uti-lização, por meio de qualquer mídia, de um conhecimento tradicional, não sejam violadas regras costumeiras de respeito de tal conhecimento tradicional;
2. Estabelecer regras apropriadas para: a) preservar e monitorar a utili-zação comercial de conhecimentos tradicionais que se encontrem em domínio público, b) assessorar os povos indígenas na preservação de sua herança cultural, c) fomentar mecanismos de consultas obrigatórias para a elaboração de qualquer nova legislação que afete a cultura dos povos indígenas e os seus direitos de propriedade intelectual.
Dessa forma, diante de todas as Diretivas Legais já produzidas no âmbito do Direito Internacional, é de vital importância que o Mercosul, com a importante estrutura que possui, proteja os direitos indígenas aqui elencados, buscando mecanismos eficientes para estabelecer normas que assegurem os direitos e repartição dos benefícios aos povos indígenas, vez que estes direitos estão sendo usurpados e, assim sendo, perdem os povos indígenas e perde a humanidade que necessita dos recursos naturais, tão bem protegidos e amparados pelos povos indígenas, que convivem em harmonia e proteção à natureza.
Tendo importância na integração dos povos sul americanos, o Mercosul estabelecerá regras que devem ser harmonizadas pelos Estados Membros, uma vez

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 215
que essa unificação terá a força de combater a biopirataria, pois sendo o feixe de normas único, falar-se-á a mesma linguagem jurídica protetiva dos direitos aos povos tradicionais, quer seja do Brasil, da Argentina ou de qualquer nação Sul americana.
5. conclusões
Atualmente, os recursos naturais e o patrimônio genético têm sido vistos como um potencial econômico importante para o desenvolvimento de qualquer país, tanto no campo medicinal e farmacêutico, quanto no ramo alimentício, têxtil e estético. No entanto, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento destes recursos nos países da América do Sul e em outros países é a falta de legislação específica que delimite e aplique com solidez e segurança os acordos internacio- nais envolvendo a proteção de patentes e o comércio, especialmente da bio-diversidade e do conhecimento tradicional dos povos indígenas.
Os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas são muito importantes para o desenvolvimento econômico dos países da América do Sul, tendo em vista o alto potencial biológico existente nas terras ocupadas por estas populações.
O reconhecimento dos conhecimentos tradicionais e a construção normativa nacional estão em diferentes estágios nos diversos países da América do Sul, sendo que o acesso aos benefícios oriundos da utilização do patrimônio genético pelos povos detentores dos conhecimentos tradicionais associados é um dos mais complexos temas internacionais de proteção da diversidade biológica atual. Cada nação vem desenvolvendo mecanismos de proteção e repartição justa destes benefícios, em decorrência de inúmeros acordos e tratados internacionais que impõe estas medidas.
A sociedade internacional, nos diversos documentos internacionais aqui tratados, já reconheceu a importância da repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização de produto ou processo desenvolvido a partir do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado. No entanto, pouco se tem concretizado quanto aos aspectos relativos às populações autóctones das áreas de fronteiras, em especial da América do Sul, que existem em grande quantidade.

216 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
O Mercosul tem diversos mecanismos de cooperação internacional que podem efetivamente fortalecer os aspectos econômicos, sociais e culturais dos povos indígenas e estabelecer meios de integração para a garantia dos direitos indígenas, fortalecendo a economia dos países do bloco e cumprindo as normas internacionais de reconhecimento dos direitos indígenas. Estas medidas podem garantir a divisão de lucros; o pagamento de royalties; o acesso e transferência de tecnologias; o licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos; e a capacitação de recursos humanos.
Sem legislar e sem fiscalizar, os indígenas jamais terão seus direitos as-segurados; logo o Mercosul exerce um papel vital na construção e proteção dos etnoconhecimento.
6. referências
ALTERINI, Jorge Horacio; Corna, Pablo María; Vásquez, Gabriela Alejandra. Propiedad Indígena. 1ª. Ed. – Buenos Aires: Educa, 2005, 208 p. ISBN 987-1190-30-1.
ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito Ambiental, 14 ed., São Paulo, Saraiva, 2012.
ARAÚJO, Ana Valéria et al. Povos indígenas e a “lei dos brancos”: o direito à diferença. Ministério da Educação, Secretaria de educação continuada, alfabetização e diversidade; LACED/Museu Nacional, Brasília, 2006.
BENCHIMOL, Samuel. Estrutura Geo-social e econômica da Amazônia. 1º volume. Série Euclides da Cunha. Manaus: Governo do Estado do Amazonas, 1966.
BORGES, José Souto Maior, Curso de Direito Comunitário: Instituições de Direito Comunitário Comparado: União Europeia e Mercosul, 2 ed., São Paulo, Saraiva, 2009.
BRASIL, Constituição da Republica Federativa do. Congresso Nacional, Brasilia, 1988.
CANDEAS, Alessandro. Trópico, cultura e desenvolvimento: a reflexão da UNESCO e a Tropicologia de Gilberto Freyre. Unesco, Liber Livro, Brasília, 2010.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 217
CASELLA, Paulo Borba, Accioly, Hildebrando, do Nascimento e Silva, G.E, Manual de Direito Internacional Público, São Paulo, Saraiva, 2012.
GALLOIS, Dominique Tilkin. Culturas indígenas e processos de Patri-monialização. In: BaARROS, Benedita da Silva; LÓPEZ-GARSÉS, Cláudia Leonor; MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PINHEIRO, Antônio do Socorro Ferreira. Proteção aos conhecimentos das sociedades tradicionais. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi: Centro Universitário do Pará, 2006.
LORRAÍN, América. A Patrimonialização da Arte e da Cultura Indígena na Colômbia. O caso do Sombrero Vueltiao. En: Brasil . Tellus ISSN: 0040-2826 ed: v.17 fasc.1 p.207 - 229, 2009.
MERCOSUL, Mercado Comum do Sul. Informações disponíveis em: <www.mercosur.int>, acesso em 02 de maio de 2014.
RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: Teoria e Prá-tica. São Paulo, Saraiva, 2012.
REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. São Paulo, Saraiva, 2011.
SANTAGATI, Claudio Jesús, Manual de Derechos Humanos. Buenos Aires, Ediciones Juridicas, 2012.
STEFANELLO, Alaim Giovani Fortes. Reflexões jurídicas acerca dos direitos dos povos e seus conhecimentos tadicionais, in Hiléia: Revista do Direi-to Ambiental da Amazônia, ano 8, n. 15, Manaus, UEA, 2011, p. 37-52.
URT, João Nackle. Para compreender a emergência dos povos indígenas no mundo contemporâneo. Meridiano 47, vol.12, n. 124, mar.-abr. 2011.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 219
a redução da discricionariedade administrativa frente ao princípio da
sustentabilidade urbana: novos desafios para a elaboração de políticas públicas
Angela Cassia Costaldello1
Karin Kässmayer2
Resumo
O presente artigo objetiva analisar um dos grandes desafios da Administração Pública: a redução da discricionariedade administrativa frente à consagração do princípio da sustentabilidade na elaboração de políticas públicas de mobilidade urbana. Parte-se da análise das cidades, dos riscos e impactos socioambientais urbanos, da consagração do direito constitucional ao meio ambiente e do dever de agir da Administração Pública de modo a garantir o direito à cidade sustentável para, enfim, tecer considerações acerca da discricionariedade administrativa no sentido de apresentar a alteração do conteúdo desta faculdade do administrador, a
1 Professora de Direito Administrativo e Urbanístico do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito e do Programa da Pós-graduação em Direito da UFPR. Especialização pela Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano (1995/96), Mestrado (1990) e Doutorado (1998) pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Coordenadora do Núcleo de Estudos de Direito Administrativo, Urbanístico, Ambiental e Desenvolvimento - PRO POLIS, vinculado do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da UFPR.
2 Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2003), mestre em Direito Econômico e Social (linha de pesquisa Direito Socioambiental) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2005) e é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná (2009), tendo realizado Doutorado Sanduíche na Universidade de Tübingen, Alemanha (2007-2008) sob orientação do Prof. Otfried Höffe. Sua tese, entitulada “Cidade, Riscos e Conflitos Socioambientais Urbanos: desafios à regulamentação jurídica na perspectiva da justiça socioambiental”; foi aprovada com menção de distinção e louvor e obteve o prêmio ANNPAS de melhor tese de doutorado em 2010. De 2005 a 2014 foi professora do Centro Universitário UniFAE. Em 2010 foi aprovada em 1º lugar no Concurso para Professor de Direito Ambiental da UFPR. Exerce a advocacia ambiental. Desde junho de 2014 é Consultora Legislativa do Senado Federal, na área de Meio Ambiente. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: direito ambiental, direitos humanos e fundamentais, desenvolvimento sustentável, direito urbanístico e gestão urbano-ambiental.

220 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
qual, em razão das diretrizes constitucionais garantidoras de direitos fundamentais, passa a reduzir o espaço de liberdade de escolha do administrador público, vinculando-o em profundidade e extensão.
Palavras-chave
Sustentabilidade Urbana; Políticas Públicas; Discricionariedade Administra-tiva; Mobilidade Urbana.
Abstract
This article aims to analyze one of the biggest challenges of the public administration: the reduction of administrative discretion against the garanty of sustainability as a principle in the development of public policies for urban mobility. It analises the cities, urban environmental risks and impacts, the consecration of the constitutional environmental right and the duty to act in the public administration in order to guarantee the right to a sustainable city to finally make considerations about administrative discretion in order to present the change of the contents of this faculty of the administrator. Because of the existence of constitutional guidelines that guarantee fundamental rights, the freedom of choice of the public administrator decision shall reduced.
Key words
Urban Sustainability; Public Policies; Discretion; Urban Mobility.
1. introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar um dos grandes desafios da Ad-ministração Pública atual: a redução da discricionariedade administrativa frente à consagração do princípio da sustentabilidade previsto no texto constitucional brasileiro. O foco do estudo, entretanto, direciona-se à elaboração de políticas públicas de mobilidade urbana.
A constatação de haver, conforme Sarlet (2010, p. 17), uma clara limitação do poder-dever no exercício da discricionariedade, de modo a restringir o espaço de liberdade do Poder Executivo na escolha das medidas protetivas do ambiente, visa propiciar a maior eficácia possível do direito fundamental ao meio ambiente, abre

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 221
margem à discussão da redução de discricionariedade da Administração Pública no âmbito da administração urbanoambiental, eis que as normas constitucionais impõem o dever de agir voltado à garantia da sustentabilidade urbana.
Certamente, para alcançar os objetivos colimados, far-se-á uma incursão nas mazelas urbanas derivadas dos riscos e impactos socioambientais verificados nos espaços diversos e fragmentados que caracterizam as cidades. Em seguida, serão apresentados os fundamentos constitucionais e legais que embasam o dever de agir da Administração Pública de modo a garantir o direito à cidade sustentável. Por fim, serão tecidas considerações acerca da discricionariedade administrativa no sentido de apresentar a alteração do conteúdo desta faculdade do administrador, a qual, em razão das diretrizes constitucionais garantidoras de direitos fundamentais, passa a reduzir a sua liberdade de escolha, vinculando-o em profundidade e extensão, a ponto de tratar-se, hoje, de uma “discricionariedade intensamente vinculada”.
Neste contexto, a Lei nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012), será objeto de análise, com a finalidade de identificar, em um instrumento legal concreto, diretrizes normativas capazes de mitigar, delimitar e condicionar a atuação e as escolhas do administrador.
2. os espaços urbanos: as cidades e os reflexos da crise ambiental
Decifrar o perfil urbano auxilia na compreensão da rede de relações sociais em um espaço constituído por artefatos e natureza peculiares, espaço este denominado “cidade”. O tempo da cidade engloba todos os tempos presentes em um território. Quando analisado o panorama mundial, tem-se o tempo das cidades-globais, dimensionado por transações financeiras e fluxos de informações transmitidas por meios comunicacionais instantâneos. Focalizadas sob esta perspectiva, as cidades não cessam seus processos de transformação inter-relacionais. São, pois inexauríveis. Há, portanto, inúmeras temporalidades em conflitos, que desaguam na ambiguidade dos espaços urbanos: injustos, legais, ilegais, limpos, violentos, degradados. Cenários que se opõem e que denunciam a falta de planejamento e o direcionamento prioritário de políticas públicas a áreas abastadas. Eis a realidade urbanoambiental brasileira.

222 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A crise ambiental torna-se outro fator interligado à temática da vida nas grandes cidades, já que potencializada. As perturbações do sistema ecológico-urbano decorrem principalmente da aglomeração populacional, das precárias condições de habitação e da superpopulação, causada na medida em que as cidades se desenvolveram sem planejamento e a expectativa de vida aumentou.
Nas aglomerações subnormais, localizadas geralmente nas periferias das gran-des cidades, o esgoto corre a céu aberto, os resíduos não são coletados devidamente e há potencial de risco à saúde da população. As condições não só de higiene (e consequentemente de saúde), mas de vida e segurança dos seus moradores estão abaixo do mínimo de dignidade. A educação é insuficiente e a possibilidade de mobilidade social e de melhoria da sua qualidade de vida é pequena. Os subempregos são, juntamente com a opção pela ilegalidade na escolha de como conseguir meios de sustento próprio e da família, as únicas opções disponíveis. A marginalidade se dá geograficamente, além de socialmente. A falta de transporte coletivo e de acessibilidade faz majorar esta segregação.
O risco da falta de água e o elevado consumo igualmente crescem com a expansão industrial e urbana, com o crescimento e aumento do nível de vida da população e o desenvolvimento da agricultura. Em média, nos países ricos, há um consumo de 200 litros/habitante/dia, enquanto em áreas rurais de países pobres, 30 litros/habitante/dia. A escassez de água, antes considerada uma hipótese restrita a regiões áridas, é uma constante, vindo a assumir posição estratégica em várias regiões do mundo, como relata Andreoli (2003, p. 37)3. A degradação dos mananciais de abastecimento de água é um dos aspectos preocupantes. As fontes subterrâneas de água potável diminuem paulatinamente e alguns mananciais localizados em áreas industriais urbanas estão sendo poluídos sem que haja uma atuação estatal preventiva ou controladora.
3 Neste mesmo estudo, os autores tratam da disponibilidade e demanda de água no Brasil. Embora o país seja privilegiado em recursos hídricos, dispondo de uma das redes fluviais mais amplas com 18% do potencial hídrico do planeta, e um grande volume de água em aquíferos subterrâneos (na ordem de 112.000km²), demonstram as condições atuais que não há déficit, mas sim riscos crescentes de conflitos de quantidade – principalmente no Nordeste - e qualidade e déficit de oferta – nas grandes capitais, além de a maior parte da água estar concentrada nas regiões Norte e Centro–Oeste (89%), enquanto 11% do potencial hídrico estão distribuídos entre 85,5% da população e 90,8% da demanda de água no Brasil (p. 43).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 223
É comum em todas as grandes cidades brasileiras a ocupação de áreas de proteção ambiental pela moradia carente, ocasionando a sua deterioração. Há uma correspondência direta entre a rede hídrica e a localização de aglomerações subnormais no ambiente urbano, pois
O confinamento dos córregos devido à ocupação de suas margens promove uma sequência de graves problemas: entupimentos constantes dos córregos com lixo, dificuldade de acesso de máquinas e caminhões para a necessária limpeza, enchentes decorrentes dos entupimentos e a disseminação da leptospirose e outras moléstias, devido às enchentes que transportam para o interior das favelas o material contaminado pela urina dos ratos e pelos esgotos. (MARICATO, 2000, p. 163).
Saúde e higiene têm sido preocupações de formuladores de políticas urba-nas na América Latina desde meados do século XIX. Nas últimas décadas, esses problemas foram “ambientalizados” e questões de acesso à água, esgoto e coleta de resíduos sólidos passaram a ser colocadas como temas não apenas de justiça ambiental, mas de emergência.
Outros problemas ambientais urbanos constatados no contexto de crise ambiental são o uso preponderante de veículos automotores, diante da má qualidade do transporte coletivo, e o aumento excessivo dos resíduos sólidos, associado à disseminação, nos centros urbanos, de grandes centros comerciais, revelando o alto padrão de consumo. Dentre as principais dificuldades socioambientais enfrentadas pelos municípios brasileiros, está a gestão dos resíduos sólidos urbanos. O crescimento das cidades e o aumento do volume dos resíduos gerados apresentam-se como uma das maiores ameaças à existência humana e representam uma difícil tarefa ao gestor público.
A poluição visual e sonora contribuem para a geração de doenças conhe- cidas como “doenças da modernidade”, tal como o estresse, a fadiga e a depressão. A política habitacional é outro fator grave na questão urbana. As cidades brasi-leiras, no dizer de Fernandes (2004, p. 115) são poluídas, caras, ineficientes, injustas e ilegais, em função das décadas de urbanização intensiva. A urbanização crescente, atrelada ao aumento de pobreza, gera pressão sobre a terra urbana. Dessa forma, “na falta de opções adequadas e acessíveis de moradias oferecidas

224 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
pelo mercado e pelas políticas públicas, entre 40% a 80% da população brasileira estão vivendo ilegalmente nas áreas urbanas [...]” (FERNANDES, 2004, p. 115).
O déficit habitacional para famílias de baixa renda favorece a proliferação de moradias irregulares e ilegais, cujas consequências não são apenas percebidas no impacto ambiental urbano decorrente da poluição hídrica, por exemplo, devido à ausência de sistema de esgoto, trazendo, também, implicações sociais e econômicas. Viver de forma ilegal repercute na inexistência de segurança jurídica da posse ou da propriedade e na falta de acesso à infraestrutura urbana. Acrescenta-se a isso a vulnerabilidade das classes mais pobres ao se verem coagidas a pagar aluguéis mais caros em favelas do que em bairros da cidade em razão de não possuírem a documentação exigida para um contrato (como, por exemplo, carteira de trabalho assinada), em conformidade com o padrão usual exigido pelas relações comerciais. A vulnerabilidade a riscos socioambientais é outro fator a ser discutido. As ocupações irregulares de áreas de encosta, ambientalmente frágeis, áreas localizadas em topos de morro, enfim, áreas nas quais a moradia é proibida, tais como áreas onde já foram instalados aterros ou lixões, por exemplo, geram grandes desastres urbanos, noticiados com frequência nos últimos anos no Brasil.4
Dentre os fatores que contribuem para esta injusta realidade no Brasil, Fernandes (2004, p. 115) aponta o poder segregador das leis urbanísticas, a noção conservadora e individualista da propriedade imobiliária urbana, além dos mercados de terras especulativos e os sistemas políticos excludentes. O sistema econômico, político e jurídico contribuem para a situação de precariedade habitacional e ilegalidade urbanas e para as desigualdades sociais, pois os excluídos socialmente habitam áreas públicas ou áreas de preservação ambiental, impróprias para o uso habitacional, além dos gestores públicos não se aterem ao cumprimento da legislação ambiental. Conforme Alfonsin e Fernandes (2006, p. 347-349), a produção legislativa urbanística expressa uma tradição de pla-nejamento urbano elitista e tecnocrático que estabelece critérios dissociados das realidades socioeconômicas de acesso ao solo urbano e de produção de moradia, contribuindo para determinar núcleos de moradias ilegais em zonas periféricas, verdadeiros espaços de exceção.
4 A exemplo, os desastres amplamente conhecidos e ocorridos em janeiro de 2011 no Estado do Rio de Janeiro, bem como a explosão do Morro do Bumba, em Niterói, em abril de 2010.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 225
Estas contradições são geradas pela normativa jurídica e não solucionadas pelo poder público. O discurso da justiça ambiental é colocado em pauta, afinal, o direito contemporâneo, ao não reduzir a complexidade, coloca em xeque a atuação do Estado como prestador dos serviços ambientais e controlador dos riscos. Os riscos socioambientais desafiam a justiça, uma vez que se questiona que espécie de justiça ambiental emerge deste paradigma.
A compreensão das cidades, portanto, deve partir do ponto de vista social voltado à preocupação socioambiental crescente, o qual deverá propiciar ao administrador público e aos operadores de Direito uma análise interdisciplinar das questões complexas que, não raras vezes, geram conflitos entre direitos fundamentais e demanda um repensar do campo de liberdade decisória do ad-ministrador. “Essa tensão tem gerado uma fragmentação ainda maior na ação das agências públicas, e tem sido caracterizada pela falta de diálogo, várias formas de intolerância e por um vazio de decisões”, conforme explicita Fernandes (2002, p. 353)
Apresentado o quadro desolador e caótico das cidades brasileiras, reféns dos riscos socioambientais, desenvolve-se, a contempo, na legislação brasileira, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir de garantias e princípios constitucionais. Se a garantia legal alterará a realidade, eis uma incógnita. As bases, todavia, já foram firmadas.
3. a sustentabilidade como objetivo da política ur-bana e princípio constitucional
O exame do direito contemporâneo à luz da crise ambiental, em especial das normas jurídicas regulamentadoras dos riscos socioambientais urbanos, requer uma abordagem específica. A Constituição Federal de 1988 reformou as bases jurídicas da proteção ambiental, vinculando-a a uma ampla agenda social e de reformas institucionais.5 O constituinte inovou e inseriu capítulos e artigos que cons- tituíram os novos direitos, base para os denominados direitos socioambientais, segundo Marés (2002).
5 Dispõe o caput do Art. 225 da Constituição Federal, in verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

226 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
No conjunto dos novos direitos, rompem-se paradigmas da dogmática jurídica e, por tal motivo, tem-se uma “[...] natureza emancipatória, pluralista, coletiva e indivisível, (que) impõe novos desafios à ciência jurídica, tanto do ponto de vista conceitual e doutrinário, quanto do ponto de vista de sua concretização.” (SANTILLI, 2005, p. 222). Originário de lutas democráticas e historicamente interligado aos movimentos internacionais que criaram os princípios ambientais, o capítulo sobre o meio ambiente não apenas assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, mas vai além, torna-se um viés interpretativo do texto constitucional, decorrendo daí a sua transversalidade. A questão ambiental não é passível de ser analisada isoladamente e tampouco será compreendida como uma questão jurídica sem a interface com as questões sociais, econômicas, urbanísticas e culturais.
O Direito Ambiental consolida-se com normas de natureza fundamental e, devido à interpenetração com as demais esferas jurídicas, demanda um olhar múltiplo e complexo; incita reflexões sobre a estrutura jurídica outrora voltada a direitos individuais, mas que passou a proteger direitos coletivos e difusos.
Quanto ao objeto, o meio ambiente é elevado à categoria de bem jurídico per se, ou seja, autônomo em relação aos demais bens jurídicos protegidos, como a vida ou a saúde. O dispositivo constitucional em questão assegura a todos o “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, valor este a ser tutelado como dever de promoção pelo Poder Público,
[...] de natureza imaterial, indivisível e infungível, [...] primeira referência constitucional a ser sopesada quando chegue o momento de calibrar até onde pode ir o direito individual ao exercício das faculdades atinentes ao conteúdo endógeno da senhoria (uso, gozo, fruição) e onde começará uma invasão da esfera difusa do direito ao ambiente. (DAIBERT, 2008, p. 587)
A Constituição Federal estabelece a proteção do meio ambiente que assegure a todos qualidade de vida. Por esta razão, dispõe que o bem jurídico protegido será o meio ambiente “ecologicamente equilibrado”, ou seja, aquele não destruído ou degradado, mas preservado ao máximo em suas características ecológicas originárias. O equilíbrio ambiental a que o legislador se refere deve ser interpretado como o ambiente sustentável, que permita a todos vida digna e, principalmente,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 227
a continuidade dos processos ecológicos sem intervenções humanas destrutivas, fazendo-se incluir neste conceito o meio ambiente urbano.
A defesa do meio ambiente, elevada a princípio geral da ordem econômica e financeira, integra-se às políticas urbanas e à função social da propriedade e da cidade. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, define as diretrizes para a construção da sustentabilidade urbanoambiental6 com a garantia a direitos individuais à terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, trabalho e lazer, para as presentes e futuras gerações (Estatuto da Cidade, art. 2º, inc. I). Soma-se a estes a garantia ao direito difuso à ordem urbanística (também previsto no art. 53 da Lei de Ação Civil Pública) e a gestão democrática das cidades expressa na gestão orçamentária participativa como condição obrigatória para a aprovação do orçamento pelo Legislativo Municipal (Art. 4º, inc. II, letra “f ” do Estatuto da Cidade), além da criação de órgãos colegiados de política urbana (conselhos), bem como a previsão de instrumentos jurídicos para avaliação de impactos (estudo de impacto de vizinhança - Art. 36).
O direito à cidade une o direito urbanístico ao direito ambiental. Prestes (2006, p. 28) explica esta interface como uma “visão jurídica macro” traduzida pelo Direito urbanoambiental. No campo das políticas públicas, o direito à cidade une a prática municipal ao conceito de escassez dos bens ambientais naturais, a fim de incorporar medidas racionais de reutilização da água, energia solar, resíduos sólidos, promoção da acessibilidade e garantia da mobilidade urbana atreladas ao bem estar da coletividade. A Lei 10.257/2001 possui esta intenção ao prever normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem-estar coletivo, da segurança e do equilíbrio ambiental.
A conceituação do direito à cidade seria inconcebível sem a análise do papel do cidadão na participação efetiva nas políticas públicas e sua inclusão como ator social no repensar o seu habitat. A interação entre os cidadãos pressupõe a implementação do princípio da informação7, a “porta de entrada do conhecimento
6 Vide, a este respeito, a obra de Vanêsca Buzelato Prestes (2006).7 Helita Barreira Custódio (2005), a respeito do princípio da informação ambiental, entende
não ser cabível qualquer exceção a este princípio, tal como o sigilo necessário ao exercício da profissão, bem como o segredo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ambos previstos constitucionalmente. O argumento utilizado para tanto vincula-se à indispensabilidade da proteção da sadia qualidade de vida, saúde pública e segurança da própria sociedade.

228 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
básico à educação e ao interesse por valores juridicamente protegidos ao bem-estar da pessoa humana individual, social ou coletivamente considerada.” (CUSTÓDIO, 2005, p. 5).
No âmbito municipal, os gestores públicos devem promover a sustentabili-dade por meio de um documento legal detentor de diretrizes gerais passíveis de implementação local, evitando conflitos e respeitando seu ecossistema e sua própria biodiversidade, além de antever os riscos urbanos de acordo com sua realidade. O direito urbanístico, assim, passa a conceito integrador e totalizante, afastando a noção individualista da propriedade, inspiradora do Direito Civil clássico.
O leque de direitos definidores de cidades sustentáveis pressupõe uma inter-dependência entre as políticas urbana, ambiental, econômica e agrária, além de acreditar na viabilidade de seu equilíbrio. Mesmo que a ação dos Municípios tenha ganhado destaque com a regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF, este fato não impede afirmar que a conquista do desenvolvimento sustentável urbano somente será possível quando a gestão municipal - através de um bem definido planejamento municipal orientado por meio de um plano diretor que ordene o uso do solo e realize a gestão territorial dos riscos – estiver em consonância com as demais esferas administrativas. De mais a mais, as leis instituidoras de políticas nacionais urbanas compõe o amplo leque de normativas que integram o Estatuto da Cidade, devendo ser observados pelos administradores locais.
A partir dessa contrução, é possível afirmar que a natureza passa a integrar o dinâmico espaço urbano e sua proteção orienta o planejamento das cidades, focado na sustentabilidade. O Estatuto da Cidade, por sua vez, enfatiza a necessária atenção do gestor urbano aos efeitos adversos ao meio ambiente decorrentes da má distribuição espacial da população e das atividades econômicas do território, além do controle e ordenação do uso do solo urbano.
A proteção jurídica do meio ambiente construído ou meio ambiente urbano, sob o enfoque do desafio de regulamentação dos riscos e vulnerabilidades urbanoambientais, é necessária para fundamentar o direito à cidade sustentável, locus das atividades sociais, culturais e econômicas de grande parcela da população mundial.
O século atual pode ser denominado o “século urbano”. O fenômeno da migração campo-cidade da década de sessenta inicia a consolidação da urbe como

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 229
moradia da maioria da população. Hoje, no Brasil, aproximadamente 85% das pessoas vivem em cidades.8 Consequentemente, em razão de décadas de problemas derivados da falta de planejamento urbano e precário provimento de serviços públicos, as cidades cumularam problemas sociais, econômicos e ambientais.
O papel da ordem jurídica tem sido essencial para coibir o uso inadequado do espaço urbano ao estimular o seu uso coletivo e, principalmente, para reverter o palco de desigualdades sociais e impactos ambientais negativos que resultam na baixa qualidade ambiental de vida nas cidades agravadas pelas diversas formas de poluição, sobretudo oriundas do processo produtivo e do sistema dominante de transporte por automóveis.
Assim, consolidado o direito à cidade e à sustentabilidade urbana9, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) solidifica-se como uma das recentes e inovadoras normativas cujo escopo é a efetividade ao acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e gestão democráticos, cujo fim último é a consolidação de um dos direitos fundamentais sedimentados na Carta Política.
Sob os auspícios do princípio do desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais, este novo marco legal unifica as agendas verde e marrom (ambiental e urbana), base para o planejamento urbano e essencial para uma gestão político-institucional, político-administrativa e político-social eficiente, voltada ao bem-estar do cidadão e da sadia qualidade de vida na cidade.
A partir deste instrumento legal - a Lei nº 12.587/2012 – direcionam-se as reflexões a um instituto jurídico tão tradicional quanto presente, cujos reflexos incidem de maneira acentuada nas tomadas de decisões em todos âmbitos de atuação estatal direta ou indireta, com efeitos intensos e permanentes na sociedade. Está-se a se tratar da aplicabilidade da discricionaridade administrativa e dos
8 Segundo dados do Censo de 2010, 84,36% da população brasileira vive em cidades. Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Uni verso/tabelas_pdf/tab1.pdf. Acesso em: 8 jun. 2012.
9 Sobre o tema sustentabilidade, vide também Juarez Freitas (2012). Nesta obra, o autor trata da importância da visão prospectiva, de natureza multidimensional da sustentabilidade, além das dimensões sociais, éticas, econômicas e jurídico-políticas que se entrelaçam.

230 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
possíveis efeitos condicionantes da principiologia urbanoambiental, diga-se de passagem, do dever de inserção do critério de sustentabilidade no planejamento urbanoambiental.
4. a redução da discricionariedade no sentido da consolidação do direito fundamental à sus-tentabilidade
A reflexão sobre o futuro das cidades contemporâneas deve partir do pres-suposto de que as crises urbanas não podem ser pensadas como resultado de um processo linear, mas de um movimento de profunda complexidade. Portanto, é necessário identificar as características, qualidades, convergências, divergências, intersecções, desencontros e histórias.
Por outro lado,
[...] o debate contemporâneo sobre os impactos nas grandes cidades das transformações econômicas é marcado pela hipótese da emergência de uma nova ordem socioespacial na qual a cidade cumpre um papel exatamente inverso, com o surgimento de uma estrutura social dualizada e uma organização espacial fragmentada, articula a democracia com as suas condições sociais e institucionais. (RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 2013).
Nessa tessitura de profunda e contínua complexidade, a discricionariedade administrativa é um elemento fundamental que comanda a atuação administrativa em todos os setores da sociedade onde se vislumbra a presença, mais ou menos intensa, do Poder Público.
Esse fator, de cunho político-jurídico, adquire maior relevância nos cenários de transformação do espaço urbano provocados pela intervanção estatal.
Concebido como o campo de liberdade concedido ao administrador público pela ordem jurídica10 esse importante instituto, que fornece dinamicidade à ação adminstrativa, comumente ultrapassa os lindes que lhe fornecem juridicidade e legitimidade.
10 Várias são as definições dadas pela doutrina para a discricionariedade, desde o momento de sua conformação mais precisa, após a Revoluão francesa. Porém, sempre busccando diferenciá-la da arbitrariedade.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 231
A tão propalada “reserva do possível” parece não dar conta das reais necessi-dades que a cidade, em seu tempo e espaço, reclama. Não há limites, portanto, para que o Administrador público, no exercício da discricionariedade, elabore o orçamento e, depois, execute-o. Sua “margem de liberdade” é infinita frente à realidade, desde que se considerem as exigências de uma exclusão social perversa, a exemplo de variados serviços públicos ofertados de modo precário, tais como o transporte coletivo e infraestrutura básica.
Neste quadro, as decisões políticas, em sua maioria, não se revelam promissoras ou promotoras do direito à cidade nos termos constitucionais, tampouco do direito fundamental à sadia qualidade de vida urbana, concebida como uma das dimensões da dignidade da pessoa humana.
À administração pública, detentora da faculdade discricionária11, cabe aferir os pressupostos da necessidade ou não da tomada de dada decisão. E, para além desse aspecto, agrega-se a escolha do momento no qual deve ser levada a cabo a decisão dantes eleita. Porém, essa discricionariedade – quer por motivos de sua racionalidade própria ao ser exercida por uma adminsitração pública que executa ações num Estado de Direito Democrático, quer por serem inadmissíveis quaisquer ações desmesuradas por parte do Poder Público – é necessariamente conformada e balizada pelo ordenamento jurídico. Portanto, os fundamentos que servem de substrato para tais delimitações são inúmeros. Porém, alguns desses baldrames podem ser, desde logo, antevistos.
Um deles e, possivelmente, aquele que se mostra acentuado para este estudo, é o príncípio do desenvolvimento urbano sustentável em conformidade com o planejamento. Trata-se de um postulado formulado pela doutrina alemã e se relaciona insitamente com a razão de ser do plano, conforme Alves Correa (1989, p. 288), voltado a um outro aspecto igualmente essencial, de “que o desenvolvimento e a evolução urbanísticas não podem ser deixados ao respectivo crescimento natural” (ALVES CORREA, 1989, p. 288).
A par desses elementos, há uma obrigação incidente sobre a atividade administrativa e, consequentemente, sobre as decisões do administrador ao não lhe ser concedida qualquer liberdade. In casu, são os standards nucleares da Política
11 Neste estudo adota-se a concepção da discricionariedade enquanto uma faculdade. Porém, ressalta-se que a doutrina contempla o instituto como um dever e como um poder.

232 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Nacional de Mobilidade Urbana que reduzem intensamente a discricionaridade a ponto de conferir concretude e efetividade às políticas públicas de todas as instâncias federativas, seja através da boa administração, da gestão eficiente ou por meio de instrumentos coercitivos.
Se antes – e até mesmo no presente, por ignorância das normas que regem o atuar administrativo – o administrador poderia escolher a seu juízo (e interesses) as ações que empreenderia em relação à mobilidade urbana e aos investimentos que esse setor exige, atualmente não lhe resta outra opção que não a de conduzir sua decisão para o cumprimento dos comandos legislativos o que, na prática, culmina em uma opção ótima.12
Em decorrência dos princípios, regras e diretrizes que são contemplados na Lei nº 12.587/2012, essa espaço de atuação – tão sedutor e, no mais das vezes, utilizado para fins que não visavam ao interesse público –, restou definitivamente arrefecido.
Ante a conformação legislativa, é possível concluir que os dispositivos esta-belecidos nos artigos 5o ao 8o, estabeleceram a adequada conexão e intersecção entre os vários elementos que compõem a ambiência urbana, com a enunciação das prioridades que devem ser seguidas e atendidas pelo Poder Público, vinculadas estritamente aos ditames da sustentabilidade e à concretização da gestão democrática participativa.
Por igual, há previsão de critérios de gestão contratual e tarifária (artigos 9 o ao 13 o e 21 o a 24 o) além de contemplar direitos dos usuários, definindo instrumentos de participação democrática (artigos 14 o e 15 o) essenciais em uma República Democrática, eis que quanto mais a Administração tende a subtrair-se do domínio da lei, não se apresentando como mera executora da mesma, mas antes dotada de um „poder critativo“ e „plasmador“ do direito, tanto mais necessária se torna a particpação do cidadão, na dupla perspectiva (subjetiva e objetiva). com a função de compensar “um poder discricionário que, em alguns sectores, como o da planificação urbanística atinge uma extensão considerável, conforme Stefano Cognetti (1987 apud CORREIA, 1989, p. 261).
12 Vide, sobretudo, Celso Antônio Bandeira de Mello (2014) e Miguel Sánchez Móron (1994).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 233
Por fim, é de se ressaltar que de modo mais enfático há uma limitação à discricionaridade através da Lei 12.587/2012, em especial em seu artigo 25, o qual estabelece que os entes federativos farão constar em seus respectivos projetos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços.
Ao tocar expressamente no planejamento orçamentário - seara intocada senão pelos comandos constitucionais, de destinação de recursos para saúde e educação - com direcionamento inquívoco para uma política pública (mobilidade urbana e melhoria de serviços a ela pertinentes), resta inequívoco certo grau de cerceamento à discricionariedade, até então sem vetores para a realização de investimento público vinculante.
Ao instituir as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, o diplo-ma legal provoca uma inovação e um considerável avanço no regramento do agir administrativo – desde a decisão primeira, consubstanciada na consignação de re-cursos nas diretrizes orçamentárias para uma dada finalidade, até sua execução – ao atingir a discricionariedade, dando-lhe padrões e fonteiras relacionadas ao estabele- cimento de uma política pública. Este aspecto é tema parco em discplina norma-tiva, porque, corriqueriametne, deixado à liberdade dos Administrador público.
Portanto, não é aberta qualquer possibilidade ao administrador público de alijar ou postergar (tomar a decisão ou não e decidir quando) quaisquer medidas que não em estrito cumprimento dos standards legais. Essa afirmação é corroborada ante à imposição de inserção das políticas de mobilidade urbana como uma das prioridades a serem atendidas, inclusive na esfera orçamentária.
Ademais, diante dos comandos normativos que vinculam o administrador público, a contenção da discricionairedade pode ser um elemento eficaz para a ordenação racional da cidade e a propulsor da sustentabildiade urbanoambiental.
5. conclusões
O presente estudo partiu da análise de uma realidade brasileira: a complexi-dade urbana derivada do crescimento desordenado das grandes metrópoles, que denunciam cenários de desigualdades, riscos e vulnerabilidades socioambientais.

234 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Por outro lado, a crise ambiental torna-se tema interligado à gestão urbano-ambiental, pois as perturbações do sistema ecológico-urbano decorrem princi-palmente da aglomeração populacional, das precárias condições de habitação e da superpopulação, resultado do desenvolvimento sem planejamento das cidades e do aumento da expectativa de vida.
O relato, apresentado como um dos maiores desafios aos planejadores e gestores urbanos, não deixa de ser contemplado no sistema normativo brasileiro. Com efeito, a Constituição Federal estabeleceu a proteção do meio ambiente que visa assegurar, a todos, qualidade de vida. Deste modo, o equilíbrio ambiental a que o legislador se refere deve ser interpretado como o ambiente sustentável, que permita a todos vida digna e, principalmente, a continuidade dos processos ecológicos sem intervenções humanas destrutivas, fazendo-se incluir neste conceito o meio ambiente urbano.
Garante-se, com isso, o direito à cidade sustentável, estabelecido na Lei 10.257/2001 que prevê normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem-estar coletivo, da segurança e do equilíbrio ambiental.
A sustentabilidade como princípio constitucional, igualmente, faz nascer uma obrigação incidente sobre a atividade administrativa e, consequentemente, sobre as decisões do administrador ao não lhe ser concedida qualquer liberdade, concluindo-se pela conformação da da discricionariedade administrativa em aspectos fulcrais da ação do Poder Pùblico.
Antes desse março legal, sem parâmetros legais claros, era possível sustentar uma mais ampla liberdade do Administrador público no momento de decidir entre várias necessidades e poucos recursos, qual prioridade a ser escolhida para o investimento público. Esse proceder não mais encontra apoio na ordem jurídica quanto se está a tratar da mobilidade urbana, pois os standards nucleares da Política Nacional de Mobilidade Urbana que diminuem fortemente a discricionaridade, visando atribuir efetividade às políticas públicas de todas as instâncias federativas.
A adoção de crtiérios e o estabelecimento de prioridades pela Lei nº 12.587/2012 exige a densificação de conceitos detentores de certa fluidez como a boa administração, a gestão eficiente e, ainda, permite o uso de meios

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 235
coercitivos para sua aplicabilidade, implicando em incomum alteração na conduta administrativa brasileira e de suas responsabilidades. Tal conclusão é o ponto de partida para uma nova interpretação ao conteúdo da discricionaridade e seus contornos normativos.
6. referências
ALFONSIN, Betânia de Moraes.; FERNANDES, Edésio. Da Igualdade e da Diferença. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes.; FERNANDES, Edésio. (Orgs.) Direito urbanístico: Estudos Brasileiros e Internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 347-349.
ALVES CORREIA, Fernando. O plano urbanístico e o princípio da igual-dade. Coimbra: Almedina. 1989.
ANDREOLI, Cleverson. (Ed.) Mananciais de abastecimento: planejamento e gestão. Estudo de caso do Altíssimo Iguaçu. Curitiba: Sanepar Finep, 2003.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito Ambiental e questões jurídicas re-levantes. Campinas: Millenium, 2005.
DAIBERT, Arlindo. Notas sobre proteção ambiental e o Direito de propriedade no Direito Brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. (Org.) O Direito e o tempo: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
FERNANDES, Edésio. Desenvolvimento sustentável e política ambiental no Brasil: confrontando a questão urbana. In: LIMA. A. (Org.). O direito para o Brasil socioambiental. Porto Alegre: Fabris/ ISA, 2002.
FERNANDES, Edésio. Impacto socioambiental em áreas urbanas sob a pers- pectiva jurídica, In: MENDONÇA, Francisco. (Org.) Impactos socio-ambientais urbanos, Curitiba: UFPR, 2004.
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2a ed. Belo Horizonte: Forum, 2012.

236 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
MARÉS, Carlos Frederico. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA. A. (Org.). O direito para o Brasil socioambiental. Porto Alegre: Fabris/ISA, 2002. p. 21-48.
MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias: planeja-mento urbano no Brasil. In: ARANTES et al. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000.
MORÓN, Miguel Sánchez. Discrecionalidad administrativa y control ju-dicial. Madrid: Tecnos, 1994.
PRESTES, Vanêsca Buzelato. (Org.) Temas de Direito Urbano-Ambiental. Belo Horizonte: Forum, 2006.
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro; SANTOS JUNIOR, Orlando Alves. Democracia e segregação urbana: reflexões sobre a relação entre cidade e cidadania na sociedade brasileira. Disponível em: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612003008800004&script=sci_arttext. Acesso em 27 de Agosto de 2013.
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peiró-polis, 2005.
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado Socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 237
a vedação de retrocesso socioambiental e a sociedade de risco
José Adércio Leite Sampaio1
Romeu Thomé2
Resumo
A partir da consolidação dos direitos constitucionais de terceira dimensão, amplia-se o catálogo de proteção dos direitos fundamentais, que passa a englobar o meio ambiente equilibrado. Em meio à crise socioambiental contemporânea, defende-se a manutenção de todos os direitos até então conquistados. O presente artigo tem por objetivo investigar a aplicabilidade da cláusula de vedação de retrocesso socioambiental aos atos emanados dos poderes estatais que eliminam ou fragilizam os instrumentos de proteção ambiental já consolidados no ordenamento jurídico. A análise, que parte da releitura do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado no contexto da sociedade de risco, demonstra que o Estado socioambientalmente comprometido não pode ceder espaço à dinâmica de recuos.
Palavras-chave
Sociedade de risco; Estado Democrático de Direito; Controle judicial; Veda-ção de retrocesso; Proteção do meio ambiente.
Résumé
À partir de la consolidation des droits constitutionnels de la troisième dimension, le catalogue de la protection des droits fondamentaux est élargie pour englober un environnement équilibré. Compte tenu de la crise de l’environnement contemporain, tous les droits conquis jusqu’ici doivent être garantis. La présente étude vise à examiner l’applicabilité du principe de non régression à des actes
1 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
2 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

238 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
émanant des pouvoirs de l’Etat qui éliminent ou affaiblissent les instruments de protection de l’environnement déjà consolidés. L’étude, qui est basée sur l’analyse du droit fondamental à un environnement équilibré dans le contexte de la société du risque, montre que l’Etat ne peut pas réculer dans sa tâche de protéger l´environnement.
Mots-clés
La société du risque; État démocratique; Le contrôle judiciaire; Non régres-sion; Protection de l’environnement.
1. introdução
Vivemos num contexto de intensa complexidade socioambiental, marcada por incalculáveis impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas sobre o meio ambiente. As mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global, o trash vortex3, a contaminação dos alimentos por pesticidas e a poluição do ar atmosférico são apenas alguns exemplos dos efeitos maléficos desencadeados pela atividade industrial sobre o ambiente planetário.
As características dos riscos ambientais hoje pouco se alinham àquelas observadas na sociedade industrial, geradora de riscos individuais, determináveis e de natureza concreta. A inabalável confiança na produção do conhecimento científico e na sua evolução garantia a utilização dos recursos naturais de maneira segura. Eventuais efeitos colaterais da atividade industrial poderiam ser facilmente identificados, estancados e reparados. Efeitos negativos sobre o meio ambiente eram considerados mera decorrência do sistema produtivo e poderiam ser contornados e corrigidos à medida que eram produzidos. A proteção do meio ambiente estava diretamente relacionada à proteção isolada dos seus elementos constitutivos, como os recursos hídricos, o solo, o ar, a fauna e a flora, denominados microbens ambientais.
3 Trata-se de uma incomensurável quantidade de resíduos concentrados no mar, formando uma “sopa de plástico” que flutua no Oceano Pacífico, cobrindo uma área que vai desde a costa da Califórnia (EUA) até se aproximar de meio caminho rumo ao Japão, atravessando o Pacífico Norte e o Havaí. É também conhecida por the great Pacific garbage patch, rubbish soup ou vortex.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 239
Em determinado ponto na linha cronológica da evolução da sociedade industrial, o ser humano (e a sua ciência) passa a perder o controle dos efeitos cola-terais negativos de suas atividades sobre o meio ambiente. O grau, a intensidade e a acumulação das intervenções humanas começam a superar as possibilidades de previsão e de correção de suas consequências. Alguns impactos ambientais antes considerados pontuais e determinados, como a queimada de coberturas florestais, começam a apresentar efeitos em cadeia, incontroláveis, transmudando-se em riscos globais.
A queimada de florestas, ao emitir para a atmosfera gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, contribui para a retenção de calor na atmosfera terrestre e causa graves desequilíbrios climáticos, além de efeitos ambientais catastróficos e de âmbito planetário, como o derretimento das calotas polares e o aumento dos níveis dos oceanos, colocando em risco espécies da fauna e flora e o próprio ser humano em suas cidades litorâneas. Os riscos tornam-se abstratos, não raras vezes imperceptíveis num primeiro momento, rondando perigosamente todos os seres vivos, além de colocarem em xeque o equilíbrio do ecossistema.
Na atual fase da modernidade, intitulada “segunda modernidade”, “mo-dernidade tardia” ou “modernidade reflexiva”,4 a produção dos riscos apresenta-se difusa, inespecífica e indivisível, e seus efeitos são globais. O conhecimento científico passa a ser questionado tanto pela sociedade quanto pela própria ciência (modernização reflexiva), reconhecendo-se a sua falibilidade, sobretudo no que tange à contenção dos impactos negativos das atividades industriais sobre o meio ambiente e a saúde humana. A proteção ambiental não está mais relacionada apenas a elementos naturais específicos e desconectados (microbens ambientais), mas passa a ser analisada de maneira mais ampla e sistêmica, considerando a inter-relação e o equilíbrio entre eles, e tendo em vista a amplitude dos efeitos negativos
4 Há variadas expressões para designar a radicalização e, ao mesmo tempo, o surgimento de características negadoras da modernidade. A busca pela liberdade e direitos, fonte da modernidade, convive com um sentimento de desilusão com algumas promessas daquela era. A certeza e o progresso, por exemplo, são objetos de ceticismo, quando não de escárnio. Essa nova fase é e não é (deixou de ser) modernidade. Os termos mais empregados são “modernidade tardia” (GIDDENS, 1997), “modernidade reflexiva” (BECK, 1997), “hipermodernidade” (LIPOVETSKY, 1983) e “pós-modernidade” (BAUMAN, 1992; LYOTARD, 1979). Para uma compreensão do fenômeno com seus principais teóricos: SIM, 2013.

240 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
(como o efeito estufa e o esgarçamento da camada de ozônio) sobre o bem maior, o meio ambiente, também denominado macrobem. Tais características marcam a nossa contemporânea sociedade de risco.
Entretanto, o sistema jurídico de proteção ambiental ainda está assentado nos fundamentos consolidados na primeira modernidade, com o enfoque na proteção dos microbens ambientais considerados isoladamente. Os instrumentos jurídicos são utilizados, sobretudo, para a reparação de danos já verificados, respondendo de forma reativa a fatos passados. As relações de causalidade simples e a proteção dos direitos individuais também constituem características das ações de proteção ambiental, claramente insuficientes para dirimir os complexos conflitos socio-ambientais contemporâneos.
Percebe-se que, nada obstante o surgimento e o agravamento de uma série de impactos negativos e de riscos decorrentes das atividades industriais e de outras formas interventivas do entorno humano, os mecanismos jurídicos de solução de problemas ainda não se adequaram ao novo contexto socioambiental.
A partir da inquestionável falibilidade do conhecimento científico e dos crescentes riscos socioambientais decorrentes das atividades humanas, não remanescem dúvidas acerca da necessidade de ajustes no conceito de desenvolvimento sustentável e da implementação imediata de instrumentos jurídicos fundados no princípio ambiental da precaução. Tais instrumentos contribuirão para a caracterização de um sistema jurídico moderno, que considera as relações de causalidade complexas, inserindo em suas análises os diversos riscos socioambientais e a possibilidade de danos futuros, e que proteja efetivamente, para as presentes e futuras gerações, o macrobem ambiental.
No Brasil, constata-se clara tendência de recuo nos níveis de proteção do meio ambiente, implementada ora por normas jurídicas, ora por atos administrativos flagrantemente contrários às determinações constitucionais garantidoras do equilíbrio ecológico.
Urge, portanto, assegurar e ampliar os mecanismos de proteção ambiental disponíveis no Estado Democrático de Direito. A nova realidade socioambien-tal demanda a imediata revisão dos instrumentos jurídicos protetivos, até então voltados para a reparação de danos concretos e pontuais. Impõe-se a

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 241
implementação de mecanismos que protejam o macrobem “meio ambiente”, com destaque para aqueles com características precaucionais, essenciais para evitar a concretização e o agravamento de danos. Esse compromisso jurídico e político com o meio ambiente se associa às propostas sociais emancipatórias e participativas do Estado Democrático, possibilitando redefini-lo como Estado Democrático e Socioambiental de Direito.5
Tendo em vista a premente necessidade de utilização de instrumentos preventivos para a manutenção dos níveis de qualidade ambiental atualmente verificados, de modo a minorar ou prevenir o agravamento dos riscos em curso, há fundamentação suficientemente hábil para sustentar a aplicação da cláusula de vedação de retrocesso, pensada mais especificamente para a defesa dos direitos sociais e econômicos, como instrumento de proteção de direitos fundamentais de terceira geração, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado? No presente trabalho, pretende-se demonstrar não apenas essa possibilidade, mas também a necessidade dessa aplicação, inclusive como parâmetro de controle de constitucionalidade da atuação do Poder Público, sobretudo do administrador público e do legislador no domínio do meio ambiente.
A transição da modernidade tardia para a nova modernidade passa, necessariamente, pela sustentação dos níveis de proteção ambiental já conquistados. Não há como concretizar o objetivo de aprimorar a qualidade ambiental indispensável à vida humana sem antes ao menos estancar o fluxo de criação de normas e atos menos protetivos do meio ambiente. Razões econômicas ou de conveniências políticas e sociais não podem justificar diminuição dos níveis de salvaguarda de um futuro que beira o umbral da morada humana entre a potência e o risco inerentes ao próprio devir.
5 Na literatura, encontram-se termos designativos de “Estado Ambiental de Direito”, “Estado de Direito Ambiental”, “Estado Socioambiental”, “Estado Democrático Ambiental de Direito” e “Estado Democrático e Socioambiental de Direito”, entre tantos, para denominar um Estado comprometido com a sustentabilidade ambiental. A rigor, Estado Democrático de Direito já assumiria inescapavelmente esse compromisso desde a largada. Mantivemos Estado Democrático e Socioambiental de Direito no texto como forma de enfatizar, dentre os projetos emancipatórios do Estado Democrático, o pacto intergeracional e o desenvolvimento sustentável num mundo de incertezas e riscos.

242 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
2. a transição da sociedade industrial para a so-ciedade de risco
O modelo de sociedade contemporâneo apresenta características singulares, diversas dos modelos até então conhecidos. A partir do crescimento industrial e seus reflexos no meio ambiente, na saúde humana, na estrutura familiar e no indivíduo, constata-se um panorama assustador em que a civilização ameaça a si mesma. Ulrich Beck (2010, p. 12) a denomina sociedade de risco. Esclarece José Rubens Morato Leite (2007, p. 131) que “o surgimento da sociedade de risco designa um estágio da modernidade no qual começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então pelo modelo econômico da sociedade industrial”.
Afirma Beck (2010, p. 13) que, assim como no século XIX, “a modernização dissolveu a esclerosada sociedade agrária estamental e, ao depurá-la, extraiu a imagem estrutural da sociedade industrial, hoje a modernização dissolve os contornos da sociedade industrial e, na continuidade da modernidade, surge uma outra configuração social”. Verifica-se a crescente diferenciação entre a modernidade dos dias atuais e aquela do período industrial clássico, que teve o seu ápice em meados do século XIX e, gradativamente, vem sofrendo transformações, decorrentes do esgotamento do modelo de produção.
Uma das principais características da atual modernidade é a produção social de riscos, que sistematicamente acompanha a produção de riquezas. A busca constante pelo crescimento econômico em todo o planeta apresenta, como consequência inevitável, o desencadeamento de riscos e potenciais de autoameaça numa medida até então desconhecida pelo ser humano.
Ulrich Beck, ao analisar as características da sociedade contemporânea, afir-ma que
Modernização significa o salto tecnológico de racionalização e a transformação do trabalho e da organização, englobando para além disto muito mais: a mudança dos caracteres sociais e das biografias padrão, dos estilos e formas de vida, das estruturas de poder e controle, das formas políticas de opressão e participação, das concepções de realidade e das normas cognitivas. O arado, a locomotiva a vapor e o microchip são, na concepção sociocientífica da modernização, indicadores visíveis de um processo de alcance

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 243
muito mais profundo, que abrange e reconfigura toda a trama social, no qual se alteram, em última instância, as fontes de certeza das quais se nutre a vida (Koselleck, 1977; Lepsius, 1977; Eisenstadt, 1979). Normalmente, distingue-se entre modernização e industrialização. Aqui, por razões de simplificação da linguagem, utilizaremos preponderantemente “modernização” como conceito generalizante. (BECK, 2010, p. 23).
Os impactos ambientais, um dos efeitos colaterais do crescimento econômico na sociedade industrial, não passam mais despercebidos, como acontecera outrora. O desenvolvimento crescente das forças produtivas apresenta-se como catalisador dos impactos negativos das forças destrutivas, que assolam cada vez mais os recursos naturais disponíveis.
Talvez já se esteja vivenciando, há algum tempo, o processo de convergência dos conflitos da sociedade “que distribui riquezas” com os da sociedade “que distribui riscos.” (BECK, 2010, p. 25). A análise dos riscos gerados na moder-nização assume relevância na medida em que se referem a ameaças globais, que afetam ou podem afetar toda a humanidade de maneira indiscriminada, como o efeito estufa e a utilização da energia nuclear. A destruição da cobertura florestal em âmbito global é fator preponderante para as mudanças climáticas verificadas hodiernamente. Dessas alterações de clima decorrem múltiplas consequências sociais e políticas.
Como se não bastasse a magnitude do seu alcance, as ameaças globais na sociedade de risco ainda se caracterizam por não fazerem alarde. Os seus impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente são muitas vezes sensorialmente im-perceptíveis, como no caso do aumento gradativo da temperatura da atmosfera do planeta e o derretimento das calotas polares. Para Ulrich Beck (2010, p. 27), é possível apontar cinco vertentes para a análise da arquitetura social e a dinâmica política dos potenciais de autoameaça civilizatória verificados atualmente.
A primeira delas relaciona-se aos riscos, sobretudo àqueles produzidos no estágio mais avançado do desenvolvimento das forças produtivas. Tais riscos, invisíveis, desencadeiam danos ambientais, não raras vezes, irreversíveis. A radioatividade, as mudanças climáticas, as toxinas presentes na água, no ar e nos alimentos e seus efeitos sobre animais, plantas e seres humanos constituem exemplos objetivos de efeitos colaterais decorrentes da industrialização.

244 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A partir da disseminação dos riscos, surgem novas situações sociais de ameaça, segunda vertente examinada pelo referido autor. Tratando-se de riscos globais, todos os seres humanos, indistintamente, passam a sofrer a ameaça dos efeitos da modernização. Beck (2010, p. 27) visualiza a transversalidade das consequências sobre a divisão de classes, tendo em vista que nem os mais ricos e nem os menos favorecidos estão seguros diante das novas ameaças globais. Trata-se do denominado “efeito bumerangue”, tendo em vista que “os riscos da modernização cedo ou tarde acabam alcançando aqueles que os produziram ou que lucram com ele”.6
A terceira vertente relaciona-se à expansão dos riscos, que, de modo algum, rompe com a lógica capitalista de desenvolvimento. Há setores da sociedade industrial e da economia interessados em explorar o “barril de necessidades sem fundo” em que se transformaram os riscos civilizatórios, convergidos para a produção de situações de ameaça, com o intuito de continuarem perseguindo o lucro. Deve haver, segundo Beck (2010, p. 28), análises sociológicas e teorias do surgimento e da disseminação do conhecimento sobre os riscos. De acordo com a quarta vertente, “é a consciência que determina a existência”.
A quinta vertente analisa um ingrediente político novo, verificado a partir da modernização: o combate às “causas” no processo de industrialização. A partir do momento em que os riscos socialmente reconhecidos emergem claramente, impõe-se a discussão do potencial destruidor das catástrofes. Cumpre rememorar que os riscos podem apresentar efeitos colaterais não apenas ao meio ambiente, mas também efeitos sociais, econômicos e políticos.
José Joaquim Gomes Canotilho (2007) também realça a nítida alteração das características dos impactos negativos sobre o meio ambiente decorrentes
6 Estudos recentes demonstram, todavia, que os impactos ambientais negativos tendem a afetar principalmente os mais pobres, tanto no âmbito dos Estados, como no plano internacional. As camadas mais necessitadas da sociedade não detêm condições de habitabilidade ou são deslocadas para regiões onde tais impactos são mais sensíveis. Assim também, os parques industriais mais poluidores tenderiam a migrar para países mais pobres, exportando o lixo e mantendo ou até elevando níveis de rentabilidade. Essa divisão interna e internacional de poluição, porém, apenas adiaria os efeitos da degradação ambiental sobre os mais ricos. A continuar o processo, a generalização da perda de habitabilidade e saúde humanas será inevitável. Como acentua Beck, na menção do texto, cedo uns sentem, tarde todos sentirão. (MORETTO; SCHON, 2007; AGOLA; AWANGE, 2014).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 245
das atividades industriais, estabelecendo a cronologia de gerações de problemas ecológicos e ambientais. Para o constitucionalista português, os problemas ecológicos e ambientais de primeira geração estavam relacionados a impactos pontuais, visíveis e perceptíveis, verificados, sobretudo, no auge da Revolução Industrial, época em que as consequências da industrialização eram evidentes. A ausência de atuação estatal comprometia os serviços mais elementares à manutenção da qualidade do ambiente humano, como o fornecimento de água, a limpeza das vias públicas, condições de habitação e de salubridade. Concomitantemente, agravavam-se outras mazelas sociais, como a violência, os casos de alcoolismo e o suicídio.
A intensificação da atividade industrial e a utilização de novas tecnologias vêm alterando as características dos impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Para Canotilho (2007, p. 2), trata-se dos problemas ecológicos e ambientais de segunda geração, caracterizados por apresentarem “efeitos combinados dos vários factores de poluição e das suas implicações globais e duradouras, como o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, as mudanças climáticas e a destruição da biodiversidade”. Torna-se evidente que a relação entre os efeitos negativos e as suas implicações globais e duradouras “colocam em causa comportamentos ecológicos e ambientalmente relevantes das gerações actuais que, a continuarem sem a adopção de medidas restritivas, acabarão por comprometer, de forma insustentável e irreversível, os interesses das gerações futuras [...]”.
Na sociedade de risco, a ciência, nos mesmos moldes de sua atuação na sociedade industrial, tenta demonstrar total controle sobre os efeitos negativos de determinadas atividades sobre o meio ambiente. Entretanto, não remanescem dúvidas de que as ameaças tornaram-se incalculáveis e que seus impactos nefastos são cada vez maiores. O mais preocupante é que as ameaças incalculáveis são, na sociedade de risco, “constantemente eufemizadas e trivializadas em riscos calculáveis”, critica Ulrich Beck (1997, p. 216).
2.1. a quebra do monopólio da ciência e a indetermi-nabilidade dos riscos
Impõe-se a adequada interpretação dos dados científicos para que a sociedade perceba, efetivamente, os efeitos dos impactos negativos sobre o meio ambiente,

246 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
a saúde humana e suas próprias vidas. A divulgação de estatísticas e gráficos desvinculados de seus efeitos para o homem apresenta-se como medida inócua e que não incentiva a tomada de decisões no sentido da preservação do meio ambiente. Como adverte Beck (2010, p. 30-31), hoje
[...] os resultados, regionalmente diferenciados, são expostos ao público apavorado em “mapas ambientais” coloridos. [...] ou bem se presume abrangentemente que todas as pessoas – independentemente de renda, educação, profissão e dos respectivos hábitos e possibilidades de alimentação, habitação e lazer – são igualmente expostas nos centros regionais de contaminação averiguados, ou então, em última instância, deixam-se inteiramente de lado pessoas e o alcance de sua preocupação, tratando-se então unicamente das substâncias tóxicas, de seus efeitos e de sua distribuição regional.
Os riscos da modernização apresentam viés perigoso: são, via de regra, imperceptíveis aos sentidos humanos. Como exemplos, têm-se o efeito estufa (e a consequente mudança climática), as substâncias tóxicas nos alimentos e as contaminações nucleares. Além de imperceptíveis, os efeitos nocivos dos impactos da modernização são incalculáveis e imprevisíveis, o que necessariamente deverá direcionar o ser humano no sentido de medidas de precaução atinentes a danos futuros. Não basta mais a atuação no sentido da reparação de danos pontuais, já verificados. Imperioso reconhecer a necessidade de utilização de instrumentos para evitar a concretização de danos ao meio ambiente.
A suposta racionalidade da ciência não é mais suficiente para as definições do que seja risco. Para Beck (2010, p. 35), “a pretensão de racionalidade das ciências de determinar objetivamente o teor de risco do risco refuta-se a si mesma permanentemente: ela baseia-se, por um lado, num castelo de cartas de conjecturas especulativas e move-se unicamente no quadro de asserções de probabilidade [...]”.
A pretensa racionalidade dos cientistas, que se esforçam para definir os riscos da modernização, torna-se um problema, na medida em que esses riscos não podem ser efetivamente calculados. O ganho de complexidade obtido pela sociedade moderna, incrementado pelas inovações tecnológicas com uma capacidade quase ilimitada de transformação nos mais variados domínios da

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 247
vida, conduziu, paradoxalmente, a um modelo de crescimento que desafia, para mais ou para menos, os esforços de controle, disciplina e previsibilidade (COLBORN; DUMANOSKI; MYERS, 1996; ADAM, 2005; LEITE, 2007). Os riscos se multiplicaram no horizonte e a insegurança se tornou moradora do cotidiano não apenas do cidadão comum, mas dos decantados senhores da razão e do domínio do conhecimento, desde a economia à medicina ou da química à física das partículas, da genética à computação ou à astronomia. Tudo é possível, inclusive uma catástrofe iminente, e nada deixa de ser ou não ser provável para além de um número percentual, uma aposta, um palpite razoavelmente aceitável.
Tendo em vista a quebra do monopólio da ciência e a indeterminabilidade dos riscos, setores específicos interessados se utilizam de uma série de dados que lhes convém para justificar sua atuação e a manutenção de suas atividades. Constata Beck (2010, p. 36) que “cada ponto de vista interessado procura armar-se com definições de risco, para poder dessa maneira rechaçar os riscos que ameacem seu bolso”. Todavia, a qualidade do meio ambiente acaba prejudicada nessa batalha “em torno das definições de risco mais lucrativas” na medida em que não se consegue efetivamente apontar quais são os verdadeiros riscos existentes em cada tipo de atividade e/ou tecnologia.
Fato é que os efeitos negativos sobre o meio ambiente são efetivamente produzidos, independentemente dos argumentos utilizados pelas mais diversas correntes científicas que investigam as possíveis causas dos impactos ambientais na modernidade.
Configura característica da sociedade de risco a interdependência sistêmica dos atores da modernização da economia e a consequente ausência de causas específicas e responsabilidades determináveis. Como as atividades normalmente estão inter-relacionadas, torna-se difícil apontar, de maneira precisa, qual dos atores é o responsável pelos impactos negativos sobre o meio ambiente. O alto grau de especialização e a divisão do trabalho levam a uma cumplicidade geral, tornando-se praticamente impossível apontar com exatidão o responsável pelo impacto negativo ao meio ambiente. (BECK, 2010, p. 39). Esta irresponsabilidade generalizada acaba por popularizar a ideia sistêmica, a partir da qual não é possível identificar quaisquer responsabilidades pessoais.

248 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Cumpre constatar que os riscos da sociedade atual não se limitam aos impactos negativos já verificados. Há um componente futuro a ser levado em consideração. Afirma Beck (2010, p. 39) que “riscos têm [...] fundamentalmente que ver com antecipação, com destruições que ainda não ocorreram, mas que são iminentes, e que, justamente nesse sentido, já são reais hoje”. São exatamente esses riscos futuros iminentes que precisam ser evitados e, para tanto, há inúmeros instrumentos, inclusive jurídicos, que devem ser utilizados, como será analisado adiante. Afirma José Rubens Morato Leite (2007, p. 133) que “[...] o risco, atualmente, é um dos maiores problemas enfrentados quando se objetiva uma efetiva proteção jurídica do meio ambiente”.
Para Leite (2007, p. 134), “os riscos possuem, agora, grande aptidão de expor uma série indeterminada de sujeitos a estados de desfavorabilidade, estendendo-se potencialmente em uma escala global, e afetando, também, os membros das futuras gerações (...)”, e decorrem de decisões atribuíveis à limitada participação de membros da presente geração, “responsáveis pela proliferação de riscos globais, intergeracionais”.
Essas singularidades demonstram que esses riscos devem ser considerados efeitos reais das atividades industriais, que causam e poderão causar graves danos ao meio ambiente e à saúde humana. É preciso abandonar a concepção de risco adotada atualmente. O termo risco não pode comportar a acepção de algo inexistente simplesmente por ser imperceptível. Imprescindível substituir, o quanto antes, o brocardo in dubio pro progresso pela máxima in dubio pro natura.
3. a cláusula vedação de retrocesso socioambiental como instrumento de proteção do direito fun-damental ao meio ambiente equilibrado
Desde logo é preciso apresentar resposta à seguinte indagação: quais direitos estariam protegidos pela cláusula de vedação de retrocesso? Consideramos que todos os direitos fundamentais estão protegidos pela referida cláusula, principalmente aqueles que promovem a justiça social e ambiental (SAMPAIO, 2013a, p. 410), sobretudo na modernidade reflexiva, quando a coletividade é ameaçada pelos riscos socioambientais decorrentes das atividades humanas (SPAREMBERGER; PAZZINI, 2011).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 249
Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2004, p. 23), a vedação de retrocesso está diretamente relacionada à eficácia protetiva dos direitos fundamentais. Sob essa perspectiva, não se trata de fenômeno que se manifesta apenas na seara dos direitos fundamentais sociais.
A partir da garantia dos direitos constitucionais de terceira dimensão, como o meio ambiente equilibrado, alarga-se o alcance de proteção dos direitos fundamentais, mantendo-se as conquistas relacionadas aos direitos liberais e sociais. Tal ampliação consolida-se ao longo do percurso histórico da humanidade, conformando um “patrimônio político-jurídico”, para aquém do qual não se deve retroceder, como afirmam Sarlet e Fensterseifer (2011, p. 191).
As questões ambientais e sociais estão umbilicalmente interligadas. “Não se pode mais pensar [...] apenas na questão social a ser resolvida como se fosse um problema sem relação com as práticas de degradação e de esgotamento dos recursos naturais”. (SAMPAIO, 2013a, p. 410). Saúde, educação, moradia e desenvolvimento apresentam nítida relação com a quantidade e a qualidade do manejo ambiental, o que requer ações públicas integradas. (SAMPAIO, 2013a, p. 410).
No Estado Democrático e Socioambiental de Direito revela-se alargado, por-tanto, o âmbito de incidência da cláusula de vedação de retrocesso, aglutinando, além das questões sociais, também as ambientais. Prejuízos decorrentes da diminuição da proteção ambiental desencadearão agravamento das mazelas sociais e, consequentemente, retrocesso social. Assim, “o princípio da proibição de regressividade não se atém apenas ao ‘social’, avançando para sua projeção mais atual e imperiosa: ‘socioambiental’.” (SAMPAIO, 2013a, p. 410).
A aplicação do princípio da vedação do retrocesso para as questões ambientais afigura-se indispensável na medida em que se verifica, sobretudo no Brasil, preocupante tendência de flexibilização das normas de proteção ambiental, sob os mais variados argumentos, como o da necessidade de aceleração do crescimento econômico.
A cláusula de vedação de retrocesso socioambiental visa à garantia de proteção dos direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado, à saúde, e à vida, devendo ser aplicada pelo Poder Judiciário nos casos em que a atuação do administrador

250 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
público e do legislador infraconstitucional tenha como fim a supressão ou redu-ção do âmbito de proteção dos direitos já existentes. Nesse sentido, afirmam Sarlet e Fensterseifer (2011, p. 194), numa primeira abordagem sobre o tema, que “o reconhecimento de uma proibição de retrocesso situa-se na esfera daquilo que se tem designado [...] de uma eficácia negativa das normas constitucionais”. A cláusula de vedação de retrocesso socioambiental tem como objetivo, portanto, preservar o bloco normativo já instituído e consolidado no ordenamento jurídico, garantindo o controle de atos do Poder Público que reduzam ou suprimam a fruição dos direitos sociais e ambientais (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 194).
Os fundamentos para o reconhecimento da cláusula de vedação de retro-cesso socioambiental como princípio de Direito Constitucional Ambiental vêm sendo gradativamente construídos a partir da necessidade de implementação de mecanismos precaucionais de proteção do meio ambiente na sociedade de risco. Como não figura expressamente em normas jurídicas, não há conceito legal para ele. Calha salientar, entretanto, que o Parlamento Europeu publicou Resolução, datada de 29 de setembro de 2011, que dispõe sobre a elaboração de posição comum da União Europeia tendo em vista a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – “Rio+20”, a qual pede, em seu parágrafo noventa e sete, “[...] o reconhecimento do princípio da não regressão no contexto da proteção do meio ambiente e dos direitos fundamentais”. (PARLAMENTO EUROPEU, 2011, tradução nossa) 7.
Advoga-se, neste trabalho, a tese da aplicação da cláusula de vedação de retro-cesso socioambiental como instrumento jurídico para a transição da moderni- dade reflexiva para a nova modernidade, tendo em vista seu objetivo de manutenção das conquistas ambientais (e sociais) já alcançadas. A implementação do princípio da vedação de retrocesso socioambiental afigura-se legítimo mecanismo de proteção e garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ao mesmo tempo, elemento inerente a esse próprio direito. Se os riscos decorrentes das intervenções humanas reguladas pelos instrumentos jurídicos em vigor são preocupantes, a sua ampliação, motivada pelo rebaixamento
7 el reconocimiento del principio de no regresión en el contexto de la protección del medio ambiente y de los derechos fundamentales

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 251
das normas de proteção ambiental, põe a todos entre a inquietude e o desespero diante um horizonte de possibilidades que se podem advir.
Remediar no futuro talvez não haja jeito nem pague o preço de prevenir o que hoje temos de salvaguardas do direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. O retrocesso pode não acabar apenas com uma utopia, essa de uma sociedade plenamente livre, justa e solidária sobre os pés e o contorno de um meio são, mas com a própria possibilidade de sonhar e redefinir a utopia e o sonho; e com a oportunidade do agir antes que seja tarde, antes que a utopia se arruíne na própria condição de ser – utopia.8
3.1. o meio ambiente ecologicamente equilibrado co-mo objeto de direito fundamental
O meio ambiente equilibrado foi reconhecido como direito humano pela Declaração de Estocolmo das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972, segundo a qual “o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade, e ao desfrute de adequadas condições de vida em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras”. A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento reafirmou a jusfundamentalidade desse direito, ou a sua qualidade de direito humano que se irradia para os sistemas nacionais como um dever proteção jusfundamental.
Na Constituição de 1988, o direito ao meio ambiente equilibrado está expresso no artigo 225, cujo caput prevê que “todos têm direito ao meio ambiente eco-logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 2013a, p. 113).
A sua fundamentalidade, embora ainda discutível em outros lugares, não padece de dúvidas no Brasil. O fato de não compor o título próprio dos
8 A “utopia transformadora” pode ser desafeta da sociedade de risco, na perspectiva clássica marxiana, não, porém, se incorporar o projeto socioambiental de igualdade. (LEVITAS, 2000).

252 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
“Direitos e Garantias Fundamentais”, englobante dos artigos 5o ao 17, não lhe retira substância nem formalidade, uma vez que o catálogo sob aquele título não é exauriente das situações objetivas e subjetivas relacionadas a posições jusfundamentais. Não o é, pela reconhecida existência de normas de direitos fundamentais na dispersão do texto constitucional, a exemplo das garantias dos contribuintes e de algumas projeções concretizantes dos direitos sociais. Sem embargo da maior concentração dos direitos naquela topologia, a identificação de outros direitos igualmente fundamentais obriga uma leitura sistemática das disposições da Constituição, que leve em conta o sentido direto ou gramatical do texto, mas também a sua referência aos eixos normativo-axiológicos da sociedade e sua relação com a organização e funcionamento do Estado. Por uma, encontra-se a força ilocucionária e perlocucionária da própria redação constitucional, seu lado apenas formal; por outra se busca o significado jurígeno e a estrutura de normatividade de disposições que desvelam uma semântica e uma teleologia da pragmática social ancorada ao texto, sua dimensão material.
Por uma, tem-se a indicação da valência significante da linguagem cons-titucionalmente empregada pelo artigo 225, ao mencionar os titulares da pretensão jusambiental (“todos”, “as presentes e futuras gerações”), o objeto (“meio ambiente ecologicamente equilibrado”), suas qualidades de “bem de uso comum do povo” e de “bem essencial à sadia qualidade de vida”, bem como seus devedores-destinatários (“o Poder Público” e “a coletividade”). Assim como, ainda nessa linha, tem-se a projeção da abertura promovida pelo art. 5º, parágrafo 2º, da Constituição, a conferir-lhe status de direito fundamental formal (MARINONI, 2008, p. 68; SAMPAIO, 2013b, p. 556; THOMÉ, 2014, p. 64). Por outra e enfim, por repercutir sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade (SARLET, 2001, p.81), bem como por refletir necessidades individuais e sociais difusamente consideradas básicas ou relevantes (SAMPAIO, 2004, p. 125 e 131; e 2013b, p. 550-551), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é também materialmente fundamental.
Tampouco há divergência no âmbito da jurisprudência brasileira. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado “constitui uma prerrogativa jurídica de titularidade coletiva” e um “direito de terceira geração”, fundado no princípio da solidariedade. No

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 253
entender do Tribunal, esse direito “constitui um momento importante no pro-cesso de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade”. (BRASIL, 1995).
Em outra oportunidade, voltou-se a afirmar a natureza de um “típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano”. O caráter dual de um direito objetivo-subjetivo foi também destacado, ao se reconhecer a incumbência ou “especial obrigação” atribuída ao Estado e à própria coletividade “de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual”. Especial e irrenunciável, assim:
[…] O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. (BRASIL, 2005b).
3.2. a vedação de retrocesso como inerência ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
Se a proibição de retrocesso tem como objetivo a proteção de direitos fun-damentais que, por sua indivisibilidade autoimplicada, inclui os direitos de terceira geração ou dimensão, os chamados “direitos de fraternidade”, por consectário procedimental e lógico, também protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Importa dizer, por definição, que a redução dos níveis de proteção ambiental por meio de atos do Poder Público, inclusive aqueles voltados à reforma da Constituição, tende a acarretar uma política e uma ação de inconstitucionalidade, passíveis de controle jurisdicional. A procura de realização dos direitos, mesmo diante das vicissitudes e da facticidade da vida, não admite recuos normativos ou iniciativas de governo que ponham em risco sua integridade e existência juridicamente consolidadas. Afirmam Sarlet e Fensterseifer que
[...] por força do artigo 5º, parágrafo 1º, da nossa Lei Fundamental, é imposta a proteção efetiva dos direitos fundamentais não

254 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
apenas contra a atuação do poder de reforma constitucional (em combinação com o art. 60, que dispõe a respeito dos limites formais e materiais às emendas constitucionais), mas também contra o legislador ordinário e os demais órgãos estatais (em vista de que medidas administrativas e decisões jurisdicionais também podem atentar contra a segurança jurídica e a proteção de confiança), os quais são incumbidos de um dever permanente de desenvolvimento e concretização dos direitos fundamentais, o que não permite, em qualquer hipótese, a supressão ou restrição desses de modo a invadir o seu núcleo essencial [...]. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 197).
Poder-se-ia questionar a eventual interferência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade do Poder Executivo e sobre a autonomia do Poder Legislativo nos casos de aplicação da cláusula de vedação de retrocesso socioambiental, alegando-se o engessamento da ação administrativa e legislativa. É um equívoco esse entendimento. A proibição de retrocesso não inibe a atuação do Poder Público, mas apenas direciona e, no máximo, limita os seus campos de atuação, sempre à luz da proteção do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Em se tratando de um direito fundamental, não se pode admitir, em tempos de crise, notadamente de matiz econômico, que haja diminuição ou supressão, por parte do Poder Público, de garantias socioambientais já conquistadas. O Judiciário, ao garantir essas conquistas, não faz mais do que cumprir seu papel de guardião constitucional dos direitos e de partícipe das escolhas interpretativas que se fazem sempre presentes e necessárias à gestão dos riscos e das crises na esfera de suas competências. (ADAM; VAN LOON, 2000, p. 12-13).
Tais crises são, na verdade, manifestações da angústia e perplexidades que, de modo mais ou menos conscientes, a todos acometem diante da complexidade do risco e do fator desconhecido da catástrofe potencial em algum ponto do novelo das intervenções e da ação humanas (ADAM; VAN LOON, 2000, p. 13). São crises decorrentes da indecidibilidade ou da decisão equivocada, produzidas exatamente pelo esforço de deslocar o risco do espaço público discursivo como estratagema de domínio, relegando-o a um imprudente cálculo supostamente preventivo por especialistas; ou de enfrentá-lo apenas sob um viés determinado, econômico notadamente, numa apropriação interessada e interesseira do próprio risco (BECK, 2010, p. 36).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 255
Embora predomine a incerteza sobre as possibilidades dos riscos, sobre o “se” e, principalmente, sobre o “quando” se revelarão em plenitude, sua gestão se torna um processo intrinsecamente político que requer apelos democráticos, especialmente para prevenir o agravamento da probabilidade de crises (ambientais incluídas) e para obter legitimação para serem suportadas as responsabilidades pelas consequências das decisões tomadas. Nesse contexto, é que parece ainda mais necessária a proibição de retrocesso do quadro de normas de proteção do ambiente como princípio estrutural dos mecanismos decisórios. Intervenções parasitárias dos sistemas econômicos ou político-partidários não podem deslocar o regime de proteção ambiental para níveis que contemplem ganhos adicionais àqueles sistemas, pois tendem a ampliar, com os danos ecológicos proporcionados, a probabilidade de mais crises e mais perdas de qualidade de vida.
O recuo da proteção jusambiental avança a complexidade dos riscos a patama-res perigosamente insustentáveis, comprometendo a integridade do próprio sistema social e de suas âncoras axiológicas como a liberdade, a igualdade e, mais diretamente, a fraternidade. Significa dizer, ao fim, que esse recuo viola a própria teleologia da Constituição como pacto de convivência e intergeracionalidade. Em termos mais sucintos e objetivos: os poderes estatais devem atuar com base nos preceitos do Estado Democrático e Socioambiental de Direito, na direção da implementação de políticas públicas sustentáveis e do aumento da proteção ambiental, jamais de seu retrocesso. Cabe ao Judiciário fiscalizar esse dever de progressividade, pelo menos, na perspectiva menos ambiciosa de impedir que o Legislativo e o Executivo reduzam os padrões de proteção em vigor.
3.3. os limites da vedação do retrocesso
Não há consenso em relação ao grau de afetação de um direito fundamental para que a atuação do Poder Público seja considerada proibida. Há uma corrente minimalista que considera aceitáveis reduções do âmbito protegido de um direito fundamental, na medida em que não atinjam o seu conteúdo essencial ou seu mínimo vital. Já a corrente maximalista da não regressividade desautoriza, em regra, qualquer tipo de diminuição ou supressão de direitos fundamentais já conquistados, não diferenciando o conteúdo protegido (SAMPAIO, 2013a, p. 409). Essa divergência se expressa também no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

256 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Para a corrente minimalista, o mínimo existencial (socioambiental) representa o limite material a vincular negativa (e também positivamente) o Poder Público (SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 207), ou seja, para os minimalistas, é aceitável a diminuição dos níveis de proteção dos direitos socioambientais, desde que mantido um nível mínimo de proteção desses direitos. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer (2011, p. 207), a noção de mínimo existencial, na perspectiva socioambiental, deve ser acrescida da dimensão ecológica, atuando como critério material para a concretização de patamares mínimos de tutela ambiental, aquém dos quais se estaria incorrendo em violação do princípio da vedação do retrocesso. Nesse mesmo sentido afirma Lise Tupiassu-Merlin que
[...] é evidente que o direito a prestações materiais relativas à pro-teção e melhoria da qualidade ambiental dispõe de um conteúdo mínimo cuja eficácia deve ser imediata, se assemelhando a todas as outras liberdades fundamentais. Isso se verifica na medida em que estas prestações são essenciais para garantir condições dignas de vida dos indivíduos. A implementação de uma parte essencial da proteção do ambiente, na melhoria das condições naturais que interferem diretamente na dignidade das pessoas, apresenta-se, assim, plenamente possível pela via jurisdicional, uma vez tratar-se de um direito subjetivo. Mas isso não exclui a importância da admissão de um conteúdo substantivo a esse direito. (TUPIASSU-MERLIN, 2007, p. 22, tradução nossa)9.
Também a partir do entendimento da corrente minimalista, que prevê a possibilidade de alterações legislativas reduzindo níveis de proteção já conquistados sob a condição de não atingir o “núcleo duro” constitucional, surgiu no ordenamento francês, em lugar do “effet-cliquet” (ou efeito catraca ou trava), que atribuía garantias mais profundas ao meio ambiente, o “effet artichaut” (ou
9 [...] il est évident que le droit à prestations matérielles relatives à la protection et à l’amélioration de la qualité environnementale dispose d’un contenu minimal justiciable dont l’efficacité doit être immédiate et qui se confond avec toute autre liberté fondamentale. Cela, dans la mesure où ces prestations s’avèrent indispensables à la garantie des conditions de vie dignes des individus. La mise en oeuvre d’une partie essentielle de la protection de l’environnement, relative à l’amélioration des conditions naturelles qui interfèrent directement sur la dignité des individus, s’avère donc, pleinement possible par la voie juridictionnelle en tant que droit subjectif. Mais cela n’enlève pás l’importance de l’admission d’un contenu substantiel plus étendu à ce droit.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 257
efeito alcachofra). No Relatório da Comissão de Leis Constitucionais sobre a Carta do Meio Ambiente, esse princípio foi definido numa metáfora, atribuída a Louis Favoreu, nos seguintes termos: “O legislador pode retirar folha a folha os elementos do regime legislativo, mas não pode tocar o seu cerne”. (FRANÇA, 2004, p. 38; ALLES, 2011, p. 2, tradução nossa)10.
A corrente maximalista, por sua vez, sustenta a manutenção de todos os direi-tos já conquistados, não aceitando qualquer grau de redução na proteção dos direitos fundamentais. Defende-se, no presente trabalho, essa corrente, sobretudo no que tange à garantia do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, uma vez que há enorme déficit no que se refere à proteção ambiental na sociedade de risco, o que impede qualquer tipo de recuo nos níveis de proteção. Não se deixa de reconhecer a existência de um campo de prognose e de decisão dos órgãos legislativos e executivos, sobretudo para a implementação de políticas públicas. O que não se pode admitir, todavia, é que a autonomia de atuação de tais órgãos seja confundida com uma espécie de liberdade irrestrita, acarretando na redução ou supressão de normas e de mecanismos que possam interferir negativamente na qualidade do meio ambiente. Desse modo, a vedação de retrocesso socioambiental deve garantir o cidadão contra a ação dos Poderes Legislativo e Executivo (e também do Poder Judiciário), resguardando o seu direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.
Ademais, as singularidades desse direito demonstram tratar-se de tarefa ár-dua, talvez inalcançável, a definição de um núcleo mínimo de proteção ambiental, tendo em vista a falibilidade científica na modernidade reflexiva. Se, para a garantia dos direitos de segunda geração, tem sido difícil a identificação de um mínimo existencial social a partir da consideração de limiares de atendimento das necessidades do ser humano aferíveis faticamente por meio da possibilidade de acesso a serviços e bens, em sua maioria, materiais; para o meio ambiente essa tarefa se tem mostrado ainda mais problemática. Não há como se fazer a comprovação fática de um conteúdo essencial de proteção da qualidade ambiental, tendo em vista as características dos impactos negativos e dos riscos decorrentes das atividades humanas, geralmente imperceptíveis, invisíveis, imateriais. Inexistem,
10 Le législateur peut enlever feuille à feuille des éléments [du] régime législatif, mais ne peut toucher au coeur.

258 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
portanto, instrumentos hábeis para a identificação e delimitação segura do que seja um mínimo existencial ambiental, ou mesmo para a identificação dos limites de exploração suportáveis pela natureza.
Ao abordar os limites da natureza, indaga Hans Jonas (2006, p. 301): “quais são esses ‘limites’ e onde eles estão? A que distância nos encontramos dele?” Continua o filósofo germânico, observando que “lamentavelmente, a ciência atual não é capaz de lhe oferecer resultados seguros. Todas as predições quantitativas nos diversos campos do saber ainda são incertas [...]”. Entre o meio ambiente intocável e o meio ambiente degradado, há um grande número de possibilidades normativas e reais que escapam a qualquer tipo de precisão do que seja “mínimo” ou “ideal”, considerando-se, sobretudo, a multiplicidade de interesses, valores e vetores de proteção que se entrecruzam nos processos existenciais, inclusive econômicos, das sociedades.
No plano normativo, não há que se falar em vedação do retrocesso ambiental apenas para a garantia de um mínimo de existência condigna. As in-definições do sentido de condignidade se somam às imprecisões de atribuição, especialmente pelos adeptos da tese absoluta do conteúdo essencial, do mínimo constitucionalmente garantido à matriz da dignidade humana. Um ambiente minimamente protegido seria aquele que possibilitasse uma condignidade limiar ou um grau de respeito à dignidade humana abaixo do qual seria insustentável ou insuportável a vida? A pergunta já revela o absurdo da tese, pois a resposta pode, em sua generalidade, dizer tudo sem nada dizer. E quem irá pagar a conta é o ambiente e com ele a humanidade. Por essa razão, não apenas o suposto núcleo rígido de um mínimo existencial ecológico deve ser mantido, mas todo e qualquer tipo de proteção ambiental já conquistada, o que já incorpora relevantes passivos.
Na sociedade de risco inadmite-se transacionar em termos de proteção do meio ambiente, direito indisponível e de titularidade da coletividade. Sem embargo, a delimitação do status quo de proteção ambiental como ponto de partida irrenunciável, mesmo a compor déficits passados de falhas regulatórias e danos ao ambiente, numa espécie de moratória e anistia às nossas próprias faltas e de nossos antepassados, mostra-se como posição estratégica e factível de garantia de progressividade da efetivação do direito, desautorizando recuos, novas falhas e agravamento da qualidade ambiental existente. O presente e suas contingências

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 259
garantiam um mínimo, definido naquilo que já ambientalmente se conquistou, para o futuro e suas possibilidades.
Ademais, a definição de um mínimo existencial ambiental poderia representar um excelente álibi para setores interessados em continuar degradando o meio ambiente, sob o argumento de que os impactos causados ainda estariam dentro de um campo de atuação tolerável, uma vez que não contribuiriam para atingir o núcleo protegido de qualidade ambiental. Admitir a possibilidade de definição de um mínimo aceitável de qualidade ambiental poderia, ainda, acarretar a fixação de uma meta ínfima ou insuficiente de proteção, desrespeitando o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Tais possibilidades não podem, em hipótese alguma, ser admitidas numa sociedade ameaçada pelos riscos ambientais e que, talvez, já esteja vivenciando a situação limite de impactos negativos sobre o ambiente e a saúde humana. Nesse mesmo sentido afirma Prieur (2011, p. 102-103, tradução nossa)11 que “O conteúdo mínimo em matéria ambiental deveria ser a proteção máxima levando-se em consideração as circunstâncias locais.” O mínimo é o que temos e somos.
Não há que se falar, ainda, que a proibição de retrocesso aplicar-se-ia apenas aos casos de supressão de determinada norma protetiva sem a criação de outra substitutiva. Ao analisar a proibição de retrocesso social no ordenamento jurídico português, Jorge Pereira da Silva (2003, p. 282) propõe a substituição da expressão “proibição de retrocesso” pela expressão “proibição de recriar omissões legislativas inconstitucionais”, admitindo, com isso, retrocesso em matéria de direitos fundamentais, desde que fique incólume o cerne das posições jurídicas e das estruturas concretizadoras do princípio do Estado Social. É forma transversa de recuar ao mínimo admissível só mesmo superada pelos minimalistas que rebaixam o princípio à vedação de lacuna reguladora produzida por norma superveniente (SAMPAIO, 2013a, p. 404).
O legislador não seria ingênuo para propor a supressão, pura e simples, de norma de proteção ambiental do ordenamento jurídico pátrio, em tempos de crise ambiental. Proposições desse jaez seriam imediatamente rejeitadas por toda
11 Le contenu minimum en matière d’environnement devrait donc être la protection maximum compte tenu des circonstances locales.

260 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
a coletividade e pela Corte Suprema por afrontarem diretamente os preceitos constitucionais. Além disso, retrocessos parciais não se conciliam com a matéria ambiental, mesmo sob o argumento de manutenção do núcleo das estruturas concretizadoras do Estado Democrático e Socioambiental de Direito, pois essa manutenção seria de difícil comprovação face à falibilidade da ciência para apontar os riscos ambientais decorrentes das atividades humanas de intervenção, notadamente as industriais. Dessa forma, qualquer modalidade de recuo atinente às garantias de proteção ambiental já conquistadas deve ser prontamente identificada e rechaçada pelo Poder Público, em suas três esferas de Poder.
Reconhecido o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equi- librado, de maneira expressa na Constituição de 1988, passa o legislador a se vincular às normas de proteção ambiental, o que implica, necessariamente, proibição de retrocesso. Como ensinam Canotilho e Moreira (1991, p. 131), “uma vez dada satisfação ao direito, este se transforma, nessa medida, em direito negativo, ou direito de defesa, isto é, num direito a que o Estado se abstenha de ater contra ele”.
No mesmo sentido observam Sarlet e Fensterseifer (2011, p. 194-195) que não é possível se admitir a ausência de vinculação do legislador (assim como dos órgãos estatais em geral) às normas de direitos sociais (e também de direitos ecológicos ou socioambientais) e às normas constitucionais impositivas de fins e tarefas em matéria de justiça social, pois, se assim fosse, “estar-se-ia chancelando uma fraude à Constituição, pois o legislador – que ao legislar em matéria de proteção social (e ecológica) apenas está a cumprir um mandamento do Constituinte – poderia pura e simplesmente desfazer o que fez no estrito cumprimento da Constituição”.
Desse modo, a cláusula de vedação de retrocesso (sócio) ambiental, na situação limite característica da sociedade de risco, veta qualquer tipo de recuo na proteção do meio ambiente, blindando as garantias já (arduamente) conquistadas. O Estado Democrático e Socioambiental de Direito deve atuar em um contexto de incertezas, fazendo-se valer de todos os instrumentos imprescindíveis à salvaguarda da manutenção e do aumento progressivo da proteção ambiental.
Não obstante a corrente maximalista ser reputada a mais adequada em maté- ria de proteção de direitos socioambientais em tempos de crise ambiental, há que se reconhecer que, em situações excepcionais, pode ser necessário ceder às demandas

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 261
da realidade. Todavia, “tais circunstâncias não se bastam com argumentos de crise ou descaminhos econômico-financeiros, mas clamam por situações-limite, em que sabidamente esteja em causa a própria sobrevivência das conquistas obtidas”. (SAMPAIO, 2013a, p. 416). Somente nesses casos de “exceção deflagrada” pode-se admitir a conversão da vedação de retrocesso “numa espécie de garantia de proteção limiar” do meio ambiente, mantendo-se, de toda forma, ao menos um “mínimo vital de dignidade humana”. (SAMPAIO, 2013a, p. 417).
Para Prieur (2011, p. 102), tais exceções estariam relacionadas a crises resul-tantes de catástrofes ecológicas naturais ou de acidentes industriais. Tais hipóteses de retrocesso são marcadas pela temporariedade. Cessada a urgência (ou “estado de exceção ambiental”), devem ser restabelecidos os níveis de proteção ambiental sedimentados pelo ordenamento jurídico. Qualquer argumentação no sentido de redução dos níveis de proteção deve ser interpretada de maneira restritiva, uma vez que contraria a regra geral segundo a qual toda norma ambiental deve buscar a intensificação da proteção do meio ambiente (PRIEUR, 2011).
3.4. a jurisprudência do risco
A jurisprudência tem sido refratária à aceitação da cláusula da proibição de retrocesso, notadamente em respeito à separação dos poderes e à liberdade de configuração legislativa. As exceções se reportam, pontualmente, a alguns direitos sociais, como se verifica na Alemanha, Bélgica, no Brasil, na Colômbia, na França e em Portugal (SAMPAIO, 2013a, p. 396). Nos sistemas regionais de direitos humanos, o quadro também é semelhante. Se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem-se mostrado favorável à tese, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem evitado enfrentá-la. Na Europa, apesar dos prenúncios favoráveis à ideia de irreversibilidade de situações jurídicas conquistadas, tanto no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos, como no caso Matthews c. Royaume-Uni (EUROPA, 1999), quanto do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso E.J.P. Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor jong Volwassenen, C-177/88 (EUROPA, 1990), o alcance desse entendimento para estabelecer um quadro de “standstill ambiental” ainda é mero projeto do pensamento ambientalista (HACHEZ; RADOT, 2009). Para agravar o cenário, o momento de indefinições por que passa a região joga luzes de ainda mais incerteza sobre o seu desenvolvimento de modo a alcançar os domínios socioambientais.

262 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que tímida e superficialmente, chegou a abordar a proibição de recuo nos níveis de proteção ambiental. Nos termos do referido julgado,
(...) 11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão (ou, por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso), garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes.(...). (BRASIL, 2010).
O Supremo Tribunal Federal, embora tenha aplicado a cláusula para impedir alguns recuos na legislação social (ADI 2.065-DF, ADI 3.105-DF, AI 598.212-PR), parece mais cauteloso em fazê-lo relativamente às mudanças legislativas que rebaixaram os níveis de proteção ambiental nos últimos quinze anos. Em parte, talvez, por não ter oportunidade de se debruçar mais detidamente sobre o tema. E, quando o fez, pelo menos no tocante à ideia que a cláusula transporta, os argumentos apresentados eximiram-se de discutir com profundidade o seu sentido e alcance, atentando-se mais a razões de natureza formal para desconsiderá-la.12
O quadro ambiental atual não deixa de ser preocupante ao considerarmos a adoção do recente Código Florestal brasileiro (Lei 12.651/2012) que reduz de modo significativo os níveis de proteção ambiental em relação à legislação florestal revogada, autorizando, por exemplo, o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da área de reserva legal. A própria definição das áreas ficou muito abaixo dos parâmetros de proteção anteriormente estabelecidos.
12 Veja-se, por exemplo, o voto monocrático de inadmissibilidade da ADI 4218/DF (BRASIL, 2011). Sem discutir diretamente o tema, mas atento tão-somente ao parâmetro de constitucionalidade indicado pelo requerente, o Tribunal considerou válidas mudanças na legislação ambiental promovidas em 2001 que reduziam os padrões de proteção conferidos. A conclusão, na oportunidade, contrária às opiniões dos ambientalistas, foi de que havia progresso nas mudanças promovidas (BRASIL, 2005b).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 263
A orientação jurisprudencial, no sentido do afastamento da cláusula de vedação de retrocesso, funda-se, em geral, no respeito à separação dos poderes. O Ministro Gilmar Mendes, em recente voto proferido em ação de controle de constitucionalidade, apesar de acompanhar a conclusão do voto condutor do acórdão, exarado pela Ministra Cármen Lúcia, foi cauteloso ao fazer ressalvas expressas à cláusula de proibição de retrocesso diante de modelos legislativos. Para ele,
“essa garantia não tem caráter absoluto. É um auxílio hermenêu-tico, é uma recomendação para que não haja impacto, que também nós obtemos na linha da segurança jurídica. [...] E também, [...] isso é um ponto importante na relação que nós mantemos com o próprio Legislativo. Na medida em que esses modelos que consideramos positivos passam a ser insuscetíveis, eventualmente, de revisão, estamos diminuindo a chamada discricionariedade legislativa, porque, de alguma forma, pelo menos pela feição hermenêutica, como eu disse, isso passa a integrar o parâmetro de controle.” (BRASIL, 2012).
O apelo ao espaço de configuração legislativa e de discricionariedade político-administrativa esconde, na prática, a insensibilidade às questões ecológicas diante dos desafios econômicos. Como vivemos um tempo de transição entre a “velha” e “nova” modernidade, essa “tardia” compreensão do fenômeno poderia ser explicável pelo estratagema, descrito por Beck (2010), de deslocar da agenda e do debate os riscos, reduzidos a argumentos de cenários hipotéticos ou demasiadamente abstratos para superar as demandas concretas e imediatas da economia, num claro discurso de apropriação (e de legitimação) das possibilidades dos danos acumulados, sem tê-los como probabilidade ou realidades capazes de se sobrepor ao império e à lógica do crescimento, inclusive ou, paradoxalmente, sobretudo em momento de estagnação da economia.
A desconsideração dos danos ambientais e sua acumulação progressiva aca-bam por ampliar os riscos e por mover a crise, após acomodações de curto prazo, para o centro de crises ainda mais profundas e sistêmicas que tangenciam perigosamente os patamares da catástrofe, até agora, potencial. A descaso com a cláusula de não retrocesso pode levar a sociedade a uma situação de não retorno ou de um retorno cada vez mais difícil e improvável. Resta acreditar que o tempo de transição está por findar-se.

264 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
4. conclusões
As políticas públicas brasileiras sinalizam pela tendência de redução nos níveis de proteção ambiental. A elaboração de normas e atos administrativos mais flexíveis estrutura-se sob os mais diversos argumentos, tais como a necessidade de aceleração do crescimento econômico, de ampliação de áreas cultiváveis, de criação de novos empregos e fortalecimento da indústria. Sustenta-se, ademais, que determinados impactos negativos sobre o meio ambiente não podem ser comprovados pela ciência.
O presente trabalho demonstra, ao analisar os fundamentos do Estado De-mocrático e Socioambiental de Direito no contexto da sociedade de risco, que tais recuos afiguram-se inconstitucionais, passíveis de controle pelo Judiciário, por meio da aplicação do princípio da vedação de retrocesso socioambiental.
Na sociedade de risco, os efeitos perniciosos da ação do homem sobre o meio ambiente e, consequentemente, sobre a sua própria vida, intensificam-se de maneira assustadora. A espécie humana não tem mais garantida a sua perpetuidade, em decorrência de suas próprias ações. Verifica-se nitidamente o surgimento de riscos socioambientais até então inimagináveis ao ser humano. As características dos riscos, hoje, diferenciam-se sobremaneira daqueles observados na sociedade industrial. Ao invés de riscos individuais, de natureza concreta, e geralmente de escala local, constatam-se riscos coletivos, abstratos (muitas vezes imperceptíveis num primeiro momento) e de abrangência global.
O Estado Democrático e Socioambiental de Direito, com a consagração dos direitos fundamentais de terceira geração, está alicerçado sobre os princípios do desenvolvimento sustentável e da precaução, o que vincula a atuação dos três poderes estatais no sentido da manutenção e da ampliação da proteção ambiental.
A aplicação da cláusula de vedação de retrocesso socioambiental deve fundar-se na análise de dados objetivos. A constatação de revogação de norma jurídica ou de obstacularização do exercício de proteção ambiental exemplifica situações que autorizam sua imediata incidência.
No âmbito da proteção dos direitos sociais, a teoria minimalista, que admite o recuo na proteção de direitos, desde que mantida a proteção do mínimo existencial social necessário à dignidade da pessoa humana, difundiu-se. O reconhecimento

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 265
da proteção dos direitos sociais relaciona-se à proteção de seu conteúdo essencial. Diferentemente, ao se tratar da vedação de retrocesso socioambiental, todos os direitos já sedimentados devem, regra geral, ser mantidos, inadmitindo-se qualquer grau de redução na proteção desse direito fundamental.
Essa orientação decorre do déficit da proteção ambiental na sociedade de risco e da situação limite em relação a níveis de qualidade ambiental essenciais para a vida no planeta. Além disso, trata-se de tarefa hercúlea, talvez inalcançável, a definição de um núcleo mínimo de proteção ambiental, tendo em vista a falibilidade científica na modernidade tardia, o que conduz à necessidade de manutenção integral dos mecanismos de proteção já consolidados.
No Estado Democrático e Socioambiental de Direito apresenta-se alargado, portanto, o âmbito de incidência da cláusula de vedação de retrocesso, aglutinando, além das questões sociais, também as ambientais ou conjuntamente socioambiental.
O controle judicial dos atos dos Poderes Legislativo e Executivo, por meio da aplicação da cláusula de vedação do retrocesso socioambiental, mostra-se como notável ferramenta para a consolidação da proteção do meio ambiente no Brasil, pois as demandas de natureza socioambiental poderão ser problematizadas a partir de discursos ancorados na Constituição.
Como decorrência lógica da apresentação, cada vez mais evidente, de per-ceptíveis ameaças ao equilíbrio ecológico, despontam abalizados argumentos no sentido da necessidade de autolimitação do modelo de desenvolvimento. Impõe-se a utilização de instrumentos necessários à efetiva transição da modernidade tardia para uma nova modernidade, como a cláusula da vedação de retrocesso, uma vez que a dinâmica de recuos apresenta-se inconciliável com a própria natureza do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.
A cláusula de vedação de retrocesso socioambiental não tem como objetivo impedir a utilização dos recursos naturais nem, tampouco, a produção de energia e alimentos, mas, ao reverso, garantir que o desenvolvimento se implemente a partir da manutenção dos níveis de proteção ambiental já conquistados como forma de assegurar a vida digna e de qualidade para as presentes e futuras gerações.
Tanto assim é que, embora reforçada pela concepção maximalista, a negativa de recuo da proteção jusambiental pode ser provisoriamente superada em situações

266 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de extrema crise decorrente de catástrofes naturais ou de acidentes industriais de expressiva monta. Cessada a urgência (ou “estado de exceção ambiental”), devem ser restabelecidos os níveis de proteção ambiental anteriores.13
5. referências
ADAM, Barbara; VAN LOON, Joost. Introduction. In: ADAM, Barbara; BECK, Ulrich; VAN LOON. Joost (eds). The risk society and beyond: critical issues for social theory. London: Sage, 2000.
ADAM, Barbara. Timescapes of Modernity : The Environment and Invisible Hazards . London; New York: Routledge, 2005.
AGOLA, Nathaniel O.; AWANGE, Joseph L. Globalized Poverty and En-vironment: 21st Century Challenges and Innovative Solutions. London; New York: Springer, 2014.
ALLES, Delphine. Le principe de precaution et la philosophie du droit - Evolution certaine, revolution en puissance. Grenoble: Université Pierre Mendès-France - Institut d’Etude Politique de Grenoble. 2011.
ALVES, Elizete Lanzoni. Direito Ambiental na sociedade de risco: a hora e a vez da ecopedagogia. Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 1, p. 73-93, 2011.
BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
BAUMANN, Zygmunt. Intimations of postmodernity. New York; London: Routledge, 1991.
BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.
13 A apresentação do presente artigo no I Encontro de Internacionalização do CONPEDI, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona nos dias 08 a 10 de outubro de 2014, contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 267
BECK, Ulrich. A reinvenção da política; Rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.
BECK, Ulrich. Sociedade do risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2010.
BOTHE, Michael. Le droit à la protection de l’environnement en droit constitutionnel allemand. Revue Juridique de l’Environnement. 1994. v. 4. p. 313-318.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. In: Legislação administrativa e constitucional. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013a.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 302.906/SP. Relator: Herman Benjamin. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, 01 dezembro 2010.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.065-DF. Relator: Sepúlveda Pertence. Diário da Justiça, Brasília, 04 junho 2004.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.105-DF. Relator: Cezar Peluzo. Diário da Justiça, Brasília, 18 fevereiro 2005a.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de Inconstitucionalidade 3.540/DF. Relator: Celso de Mello, Diário da Justiça, Brasília, 1 setembro 2005b.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de Inconstitucionalidade 4.218-DF. Relator: Luiz Fux. Diário da Justiça, Brasília, 7 outubro 2011.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 598.212. Relator: Celso de Mello. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, 20 junho 2013b.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 22.164/SP. Relator: Celso de Mello, Diário da Justiça, Brasília, 17 novembro 1995.

268 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direita de In-constitucionalidade 4.543-DF. Relatora: Cármen Lúcia, Diário da Justiça, Brasília, 02 março 2012.
CAETANO, Matheus Almeida. A conservação da biodiversidade e o tratamento das mudanças climáticas pelo Estado de Direito Ambiental brasileiro: para além do programa de decisão da precaução. In: LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; CAETANO, Matheus Almeida. Repensando o estado de direito ambiental. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. p. 229 – 267.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1991.
COLBORN; Theo; DUMANOSKI, Dianne; MYERS, John P. Our stolen future: how man-made chemicals are threatening our fertility, intelligence, and survival. Boston: Little Brown & Co, 1996.
EUROPA. Corte Europeia de Direitos Humanos. Affaire Matthews c. Royaume-Uni (Requête 24833/94), 18 de fevereiro de 1999. Disponível em: <http://zip.net/bsnz9c>. Acesso em 02 jun. 2014.
EUROPA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Affaire E.J.P. Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor jong Volwassenen, C-177/88. 8 de novembro de 1990. Disponível em <http://zip.net/bpnBj7>. Acesso em 02 jun. 2014.
FRANÇA. Assembleia National. Rapport de la Commission de Lois Constitutionnelles relatif à la Charte de l’environnement. Paris: Assemblée Nationale, 2004. Disponível em: <http://bit.ly/U36lwi>. Acesso em 29 mai. 2014.
GIDDENS, Anthony. A vida numa sociedade póstradicional. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 269
HACHEZ, Isabelle; JADOT, Benoït. Environnement, développement durable et standstill: vrais ou faux amis? Aménagement, environnement, urbanisme et droit foncier: revue d’études juridiques, n.1, p. 5-25, 2009.
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica; tradução do original alemão Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.
LEVITAS, Ruth. Discourses of risk and utopia. In: ADAM, Barbara; BECK, Ulrich; VAN LOON, Joost (eds). The risk society and beyond: critical issues for social theory. London: Sage, 2000.
LIPOVESKY, Gilles. L’Ère du vide. Paris: Gallimard, 1983.
LYOTARD, Jean-François. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979.
MORETTO, Cleide F.; SCHON, Marcos A. Pobreza e meio ambiente: evi-dências da relação entre indicadores sociais e indicadores ambientais nos Estados brasileiros, artigo apresentado no “VII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica”. Fortaleza, 28 a 30 de novembro de 2007. Disponível em: <http://zip.net/bqnyYV>. Acesso em 21 fev. 2014.
PARLAMENTO EUROPEU. Resolución del Parlamento Europeo sobre la elaboración de una posición común de la UE ante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (Río+20), 29 de setembro de 2011. Disponível em: <http://zip.net/bknywf>. Acesso em 10 jul. 2013.
PERALTA, Carlos E. A justiça ecológica como novo paradigma da sociedade de risco contemporânea. Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 1, n. 1, p. 251-271, 2011.
PRIEUR, Michel. Le nouveau principe de “non régression” en droit de l’environnement. In : International conference on global environmental governance. Roma : ISPRA, 2011. p. 71-103.
PRIEUR, Michel. L’environnement entre dans la Constitution. Droit de l’Environnement, n. 106. Paris, 2003. p. 38-42.
SAMPAIO, José Adércio Leite. Princípios de direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

270 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
SAMPAIO, José Adércio Leite. Da cláusula do não retrocesso social à proibição de reversibilidade socioambiental. In: FILHO, Robério Nunes dos Anjos (Org.). Direitos humanos e direitos fundamentais. Salvador: Juspodivm, 2013a.
SAMPAIO, José Adércio Leite. Teoria da Constituição e dos direitos fun-damentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013b.
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In: BALERA, Wagner. Revista de Direito Social. Porto Alegre: Notadez, 2004.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
SIM, Stuart. Fifty key postmodern thinkers. London: Routledge, 2013.
SILVA, Jorge Pereira da. Dever de legislar e protecção jurisdicional contra omissões legislativas. Lisboa, Universidade Católica Editora, 2003.
SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; PAZZINI, Bianca. O ambiente na sociedade de risco: possibilidades e limites do surgimento de uma nova cultura ecológica. In: Veredas do Direito, vol. 8, n.16, p.147-168. Belo Horizonte, Julho/Dezembro de 2011.
THOMÉ, Romeu. Manual de direito ambiental. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2014.
TUPIASSU-MERLIN, Lise. En quête de la pleine effectivité du droit à l’environnement. 7e Congrès français de droit constitutionnel, Paris. 25, 26 et 27 septembre 2007. Disponível em: <http://zip.net/bfnyc8>. Acesso em 29/5/2014.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 271
amazônia brasileira – breves mitos e realidades
José Roberto Anselmo1
Maria Priscila Soares Berro2
Resumo
O estudo tem como objetivo a analise dos recursos naturais existentes na região e sua favorável posição geográfica, porque estes despertam a cobiça internacional e o interesse de outros Estados. Aborda-se a obscuridade que permeiam esses interesses sobre a região, não sendo possível determinar se objetivam proteger o meio ambiente, considerando a importância ecológica da região. Nesse ínterim o trabalho estuda o direito internacional analisando os tratados internacionais como forma de cooperação entre os povos, que visam à preservação do meio ambiente, bem como do direito ambiental nacional como forma de desenvolvimento, proteção e preservação do meio ambiente. Verifica-se ainda a independência do Estado brasileiro para a formulação de leis e a autonomia para a utilização de seus recursos naturais. Para tanto, utiliza-se o método dedutivo, para explicar as premissas e alcançar uma dedução. Sendo que a forma de abordagem da pesquisa deve ser a qualitativa, com desenvolvimento de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave
Amazônia brasileira; Direito Ambiental; Mitos; Realidades.
1 Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC SP. Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru - ITE BAURU. Professor titular do Centro Universitário de Bauru da Instituição Toledo de Ensino nos cursos de Direito, Administração, Contabilidade, Comércio Exterior e Economia e do Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado e Doutorado. Professor do Curso de Mestrado Minterisntitucional ITE - CIESA (Manaus). Procurador do Município de Bauru e Advogado.
2 Mestre e Doutoranda em Direito, “Sistema Constitucional de Garantias de Direito”, pela Instituição Toledo de Ensino (ITE-Bauru/SP). Especialista em Direto, pela Instituição Toledo de Ensino (ITE-Bauru/SP). Especialista em Gestão de Negócios, pela UNESC-Faculdades Integradas de Cacoal-RO. Professora do Departamento de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia/Campus Cacoal. Email: [email protected]

272 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Abstract
The study aims to review the existing natural resources in this region and its favorable geographical position, because that arouses the greed and the interest of other States. It deals with the obscurity that permeates the concerns about the region, because it is not possible to determine whether they aim at protecting the environment, considering the ecological importance of the region, or not. In the meantime the work had studied international law analyzing the international treaties as cooperation way among peoples, which has aimed the environment preservation, as well as national environmental right as a form of development, protection and preservation of the environment. It is checked yet the independence of the State for the formulation of laws and autonomy for the use of its natural resources. To do so, it has been used the deductive method to explain assumptions and reach a deduction. And the way to approach this research had been the qualitative one, with development of bibliographical research.
Key words
Brazilian Amazon; Environmental Right; Myths; Realities.
1. introdução
O interesse pela região da Amazônia se evidencia cada vez mais e não deve ser visto como uma ameaça descabida, pois à medida que a escassez de bens vitais aumenta, como a água potável e biodiversidade, a cobiça sobre o esse “tesouro verde” também se torna mais forte. Nesse artigo, primeiramente abordaremos aspectos gerais e específicos Amazônia brasileira, citando suas dimensões, potencial, mitos e importância.
Analisa-se também o Direito Ambiental na esfera internacional e nacional, abordando os mecanismos de preservação internacional do meio ambiente, enquanto se verifica a política brasileira do meio ambiente e seus Princípios Constitucionais.
Finalmente, aborda-se as questões de investidas, abarcando ainda seus mitos, problemas e possíveis soluções, buscando uma melhor visualização em conjunto com normas nacionais.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 273
2. a região amazônica brasileira
A Amazônia transcende fronteiras, tanto regionais quanto internacionais, quando ambientalmente considerada. Sobre o aspecto geopolítico, porém, é conveniente deixar bem patenteada essa distinção e, para tanto, por razões didáticas, deve-se fazer uma breve apresentação da Amazônia Global e da Amazônia Brasileira, a fim de se mencionar seus múltiplos aspectos e as visões básicas que as distintas correntes de pensamento sustentam sobre a região.
2.1. a amazônia total
As florestas tropicais estão presentes na América do Sul e Central, na África, na Ásia e na Oceania e representam um conjunto de ecoregiões entre os trópicos de Câncer (Hemisfério Sul) e Capricórnio (Hemisfério Norte) (PINTO, 2002).
As florestas tropicais ocupavam 12% da superfície do planeta (16 milhões de km²) a dois mil anos, mas hoje não passam de 70% da área original (11,2 milhões de km²), cobrindo pouco mais de 9% da superfície terrestre, sendo que a maior parte do desmatamento ocorreu após a Segunda Guerra Mundial (MEIRELLES, 2006).
De acordo com Meirelles calcula-se que a América Latina possua cerca de 7,5 milhões de km², a Ásia cerca de 2 milhões, e a África cerca de 1,7 milhão de km² do que resta. Avalia-se que a Amazônia corresponde a mais de 90% das florestas tropicais da América Latina, equivalendo a mais da metade do que restam desse ecossistema no planeta, cerca de 6,5 milhões de km² (650 milhões de ha) (MEIRELLES, 2006).
O Brasil é o país com a maior superfície de florestas tropicais do globo, com 3,9 milhões de km² (mais de 1/3 do total), dos quais 95% encontram-se na Amazônia. A Amazônia continental ocupa 50% da superfície da América do Sul, abrangendo nove países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela e Brasil. No século XVIII, o naturalista alemão Alexandre Von Humboldt batizou a região de “Hiléia” (zona das selvas) (BEZERRA, 2010).

274 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
figura 01: amazônia total
Fonte: Pennaforte (2006, p. 5)
Desses dados depreende-se que, em termos populacionais, são cerca de 30 milhões de habitantes (80% no Brasil), representando menos de 0,3% da população do planeta, com uma das menores densidades demográfica do globo (PENNAFORTE, 2006).
A Amazônia corresponde às áreas drenadas pelas bacias dos rios Amazonas, Araguaia-Tocantins, Orenoco, Essequibo e outros menores. De maneira geral, a Amazônia é considerada a área da América do Sul coberta predominantemente por florestas tropicais, localizada abaixo de 1.500m acima do nível do mar, cuja variação da média de temperatura dificilmente passa de 2ºC, a quantidade de horas de sol entre o dia mais longo e o mais curto pouco se altera, chove pelo menos 1.500mm/ano e pelo menos 130 dias/ano, e a umidade relativa do ar é em geral superior a 80% na maior parte do ano (MEIRELLES, 2006).
Para Pinto, a Amazônia continental é a região de maior diversidade biológica do planeta. Em apenas 5% da superfície terrestre acredita-se que esteja mais de

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 275
¼ de todas as espécies vivas. Comparadas às espécies das zonas temperadas, as tropicais são raras. A maioria das espécies de árvores, por exemplo, apresenta pouco mais de um a dois exemplares por hectare. Muitas plantas descobertas há 100 anos não foram encontradas novamente. Aparentemente, simples tarefa de classificar as espécies vegetais amazônicas é um trabalho que mal se iniciou (PINTO, 2002).
A Amazônia apresenta a maior bacia hidrográfica do planeta, a do rio Amazo-nas, com cerca de 6, 925 milhões de km², drenando 1/3 da superfície da América do Sul em seis países (Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e Venezuela). São mais de mil rios e tributários que, se unidos uns aos outros, corresponderiam a mais de duas vezes a circunferência da terra. A região concentra cerca e 15% das águas doces superficiais em forma líquida do planeta, a maior reserva mundial, segundo Meirelles (2006).
2.2. as dimensões da amazônia brasileira
No Brasil chama-se Amazônia Brasileira a parte setentrional do país, cujas características fundamentais são: uma vasta bacia hidrográfica, densa cobertura florestal e extrema rarefação demográfica (PINTO, 2002). Geograficamente, são os estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, sendo que com esses limites políticos tem-se uma superfície de 3.576.500 Km² - 42% da área do Brasil.
O governo brasileiro em 1966, para fins de planejamento e investimentos criou por meio da lei nº 5.173 a denominada Amazônia Legal, que alcança o paralelo 16, em Mato Grosso, o paralelo 13, em Tocantins e o meridiano 44 de longitude oeste, no Maranhão, com o objetivo de trazer benefícios fiscais, concedidos através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), para a maior parte do Maranhão (parte sudoeste) e do Mato Grosso (parte norte) e para porção de Goiás, hoje correspondente ao Estado de Tocantins. Com essas dimensões dilatadas por efeito de lei, cobre a Amazônia Legal uma área de 5.028.392 Km², seja: aproximadamente 60% do território brasileiro, e 60% de todo o universo Amazônico. Os países vizinhos comportam os restantes 40% demarcados por longas fronteiras (PENNAFORTE, 2006). O mapa abaixo demonstra a Amazônia Legal:

276 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
fig. 02: amazônia legal
Fonte: Pennaforte (2006, p. 9)
A economia da Amazônia brasileira ainda está ligada ao extrativismo mineral, seguindo-se: a borracha, castanha do Pará, carvão vegetal, óleos de babaçu e dendê, essência de guaraná, a madeira. A pesca e a caça são igualmente importantes. A lavoura e a pecuária, que tomaram vulto nos últimos anos estão representadas pela mandioca, feijão, milho, arroz, banana, abacate, cana de açúcar, fumo, pimenta do reino, café, amendoim, hortigranjeiros, frutas tropicais (muitas delas só existentes na região), carnes e couros bovinos.
O PIB regional representa aproximadamente 5% do brasileiro (como um todo), e a floresta ocupa quase 2/3 da Amazônia Legal (MEIRELLES, 2006).
O clima da Amazônia não é uniforme, apresentando grandes variações. Em algumas regiões é típico de savana (cerrado) com uma estação seca longa bem definida, e baixa umidade relativa do ar, como na transição entre Amazônia e semi-árido; em outras é super úmido e praticamente sem estação seca, como nas encostas do Andes (PENNAFORTE, 2006).
Ao que ocorre, a grande quantidade de chuva transforma a Amazônia na maior bacia hidrográfica do planeta, porém sua distribuição não é uniforme, nem em termos de áreas geográficas, nem em períodos definidos de seca e cheia, não sendo

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 277
difícil que, em um mês, chova até o dobro em comparação ao mesmo período do ano anterior (PINTO, 2002).
O IBGE identifica no bioma amazônico do Brasil, 70 tipos de vegetação não alterados pelo homem (não antropizados) e seis tipos alterados pelo homem (antropizado), sem contar os subsistemas (que seriam mais de 224 – SAE/IBGE, 2005).
Há sete grandes grupos de vegetação: as campinas, as florestas estacionais deciduais ou semideciduais, as florestas ombrófilas abertas. As florestas ombrófilas densas, as formações pioneiras com influência fluvial ou marinha, os refúgios montanos (os tepui) e as savanas amazônicas. Essas formas de vegetação se apresentam de diversas maneiras, dependendo do clima, da formação geológica, do relevo, do solo, da hidrografia e de outros fatores naturais, concluindo-se que 83,78% da vegetação amazônica no Brasil é composta por formações florestais e que a “terra firme” cobre a maioria da Amazônia, cerca de 96%, sendo que menos de 4% da região é inundada de forma permanente ou temporária.
2.2.1. O potencial econômico da região Amazônica Brasileira
A base econômica dos estados da região se assenta no extrativismo de espécies vegetais e dos recursos minerais. A produção agropecuária, cujo nível de intensidade é bastante distinto entre os estados, representa a outra base econômica comum na região. O Amazonas é o único estado cuja base econômica é eminentemente industrial, em decorrência do polo eletroeletrônico da Zona Franca de Manaus, mas também apresenta madeira, petróleo e gás, sendo que como principal base econômica dos demais estados temos: Acre (extrativismo, pecuária); Rondônia (minério, agricultura, madeira); Roraima (pecuária, garimpo); Amapá (extrativismo, minério – exaurido); Pará (minério, agricultura, pecuária, madeira) (BEZERRA, 2010).
O somatório das riquezas produzidas pelos estados da região representa algo como 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O peso econômico da região, entretanto, não pode ser mensurado pelo atual nível de participação no PIB, mas pelo seu extraordinário potencial, onde destaca-se:

278 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
a) planície Mineral: estima em US$ 1,6 trilhão - nióbio; ferro e petróleo e gás, com mais de 50 bilhões de m³.
b) potencial Madeireiro: com mais de 3,5 milhões de km² de floresta tro-pical, considerando-se manejos com ciclo de corte rotativo, com inter-valos de 20 a 25 anos.
c) potencial Hidroenergético: estimado em torno de 68.623 MW, dos quais menos de 10% estão explorados.
d) potencial Pesqueiro: estimado em mais de 3 mil espécies, entre comes-tíveis e ornamentais, dos quais 40% já cadastrados pelo INPA.
e) potencial Agrícola: de mais de 25 milhões de hectares de várzeas, área suficiente para produzir mais de 50 milhões de toneladas de alimento.
f ) potencial da Agroindústria e da Ecoindústria: na produção de óleos co-mestíveis (palmeiras e castanhas), polpas, sucos, sorvetes, refrigerante e também de óleos e essências aromáticas, corantes etc. Principalmente a exploração do dendê (palmeira) na produção de óleo comestível e para fornecimento de energia, pois um hectare de dendê produz 5 mil quilos de óleo/ano, contra 400 quilos produzidos pela soja no mesmo espaço e tempo.
g) biodiversidade: a Amazônia possui 10% de toda a biota universal com potencial químico e farmacológico.
h) zona franca de Manaus: representa uma economia de importação de mais de US$ 10 bilhões/ano, em produtos eletroeletrônicos, fabricados em Manaus.
i) exoticidade: lhe dá enorme potencial turístico, desde que criada a ne-cessária infraestrutura.
2.3. a importância da amazônia para humanidade
Entende-se que a importância da Amazônia para humanidade depende da máxima manutenção dos ambientes em seu estado conservado. Como a maior parte é coberta por florestas, trata-se de uma vocação nitidamente florestal (MEIRELLES, 2006).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 279
Segundo Myers apud Meirelles (2006) as florestas tropicais, apesar de conte-rem 70% das espécies vegetais do planeta, contribuem muito pouco como fontes de matérias-primas florestais por causa do pequeno conhecimento que temos da floresta e na pouca difusão do que sabemos e de suas possibilidades de uso.
Das 90 mil espécies de plantas da América do Sul, pouco mais de 1% foram devidamente testadas para os diferentes usos. Menos de 10% das espécies testadas são utilizadas em escala comercial representativa. Isso significa, segundo o cientista, que estamos na pré-história do aproveitamento das florestas tropicais (PENNAFORTE, 2006).
Poucas vezes, a humanidade avaliou com atenção o valor de manter o ambiente conservado de regiões inteiras para garantir os serviços ambientais planetários, como as temperaturas, os ventos, a umidade e as chuvas e seu conteúdo étnico, social e cultural. Para conhecer esse valor, pode-se estudar o que significa e não contar com a cobertura natural da Amazônia, conhecendo os possíveis efeitos do desmatamento sobre o clima (MEIRELLES, 2006).
Em primeiro lugar, a água permanecerá por menos tempo na Amazônia. Quando chove na pastagem, a água é logo levada para os cursos d’água. Diferen-temente, quando passa por uma floresta, ela demora a percorrer todos os seus andares e a encontrar seu caminho num curso d’água. Ao correrem mais rápido, os rios, preparados para uma velocidade da água, transbordarão. Os rios também estarão assoreados de terra oriunda da erosão. Assim, espalharão sua água com grande fúria, prejudicando plantações, pastagens e áreas urbanas. Menos água no solo significa terras mais secas, duras e com menos matéria orgânica. Esperam-se, assim, verões mais secos e estações secas mais drásticas (PINTO, 2002).
A capacidade das plantas de devolver a umidade ao ar também diminuirá. O efeito previsto é que a umidade local será menor, principalmente na estação seca. Com menos umidade, a temperatura oscila mais. Na floresta nativa, a diferença entre as máximas e as mínimas é pequena. “O balanço de energia será completamente alterado. Uma grande parte de energia que hoje é utilizada pelas plantas para transpirar será utilizada no processo de aquecimento do ar”, lembra o pesquisador Salati apud Meirelles (2006).

280 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Os cientistas prevêem que uma pequena diminuição de chuvas de ate 20% já seria suficiente para provocar significativas mudanças na umidade relativa do ar, na quantidade anual de chuvas, no balanço hídrico e na vida das plantas, dos animais e do próprio homem. Como a Amazônia é importante fornecedora de umidade para as regiões vizinhas, assim como o cerrado do centro Oeste brasileiro e a caatinga nordestina, e também para áreas fora do Brasil, como a Bolívia, é muito provável, conforme aponta Salati, que mude o regime de chuvas dessas regiões, causando impacto direto na agricultura, na pecuária e na disponibilidade de água para uso urbano (PINTO, 2002). Os rios terão menos água na seca e serão maiores e mais violentos nas chuvas.
A Amazônia é importante para o equilíbrio do clima mundial, uma interven-ção não planejada provocaria alterações ambientais com consequências ainda não concebidas.
2.4. os falsos mitos sobre a amazônia
A Amazônia é mais falada que conhecida, mais discutida do que vivida, mais mito do que realidade e um dos principais responsáveis pela difusão dos mitos foram os regimes militares que assolaram a região. Esse período transformou a Amazônia em mercadoria. A ordem do dia era ocupar, integrar, apoderar-se, restringir direitos aos índios e caboclos. Esse período acabou “favorecendo re-presentações simplificadoras sobre a Amazônia”. Os militares e os políticos civis com os quais afinaram suas estratégias, nesse período, escancararam as portas da Amazônia à moderna pilhagem (BEZERRA, 2010).
Nos últimos cinquenta anos Migrantes, funcionários públicos e empresários totalmente despreparados para trabalhar e viver na região amazônica acreditaram em mitos como (MEIRELLES, 2006):
- “Pulmão do mundo” - O primeiro mito, o mais recorrente, baseia-se na crença de que todo vegetal produz oxigênio. Faz-se verdade desde que os vegetais estejam em crescimento. Como a Amazônia é um bioma em equilíbrio dinâmico, onde há tanto árvores jovens quanto mais velhas, o que se produz, praticamente se consome.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 281
- “Vazio territorial” – aqui divulga-se a Amazônia é um “vazio territorial”, ou seja, uma terra onde não há habitantes. Entretanto, a Amazônia conta com mais de 400 povos indígenas, além milhões de habitantes, pois mesmo em áreas mais longínquas podem-se encontrar habitantes locais, os caboclos.
- “Planície inundável” – Imagina-se a Amazônia como extensa planície inundável. Na realidade, segunda dados do IBGE, menos de 1% da Amazônia continental é de planícies inundáveis, entre várzeas e igapós. Se considerarmos as áreas permanentemente inundáveis, essa cifra será de menos de 0,5%. A Amazônia é um suceder infindável de colinas.
- “Floresta sobre deserto” – Acredita-se que a região possua apenas um tipo de solo e de floresta, e que, uma vez retirada à floresta, será forma-do o deserto, mas a floresta apresenta grande variedade de ecossistemas, com dezenas de fitofisionomias vegetais, e não apenas florestais.
- “Celeiro do mundo” – Esse é um dos mais equivocados, pois apresenta a região como capaz de suportar grande quantidade de gado e agricultura nos sistemas tradicionais vigentes nas áreas subtropicais e temperadas, de extensas áreas de monocultura mecanizada, sem apresentar impactos sociais e ambientais, contudo, esta é uma região extremamente frágil.
- “Eldorado” – A região desde o século XVI atrai dezenas de milhares de garimpeiros e aventureiros em busca de uma abundância de ouro, outros metais e diamante. Há ouro e diamante sim, mas não como se imagina e, portanto, a sua transformação em riqueza econômica tem sido insig-nificante. O resultado é um impacto social e ambiental negativo.
3. direito ambiental
O Direito Ambiental externo e interno elenca princípios e traz tratados internacionais que destacam a importância da Amazônia.
3.1. direito internacional
Extraída dos livros de filosofia política e de história, a afirmação de que o poder central contra a dispersão do poder provocada pelo modo de produção

282 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
feudal e contra as tentativas de universalização política e religiosa, a soberania uma vez inserida no contexto de um Direito entre as Nações (jus inter gentium), trouxe consigo o problema ontológico deste Direito: como pode haver direito internacional se não há poder acima dos Estados?
Claramente a ideia de subordinação, inerente à concepção do Direito Inter-no, é contrária à de soberania. O autor Litrento, por exemplo, anota:
[...] a sociedade internacional não está organizada segundo o princípio da subordinação a uma autoridade superior aos seus membros, porquanto a soberania a isto não se submete, ou seja, os Estados soberanos, que compõem a sociedade internacional, não declinam de seu poder soberano [...] (1997, p. 39).
A transposição do conceito da política interna para o Direito Internacional, tentando preservar a ideia de um poder absoluto, gera certas consequência teóricas, segundo o autor Lupi (2004): a) o entendimento de que normas internacionais nunca podem estar em conflito com normas de Direito Interno (dualismo), ou que, se isto acontecer, elas são subordinadas (monismo com primazia do Direito Interno); b) a compreensão do Direito Internacional como um direito de coordenação, já que é impossível subordinar entes que não conhecem poder algum acima dos seus; c) a noção voluntarista de que os Estados podem fazer tudo o que não é expressamente proibido pelo Direito Internacional, já que apenas eles próprios podem limitar suas condutas e que somente há proibição naquilo em que consentirem expressamente; d) a conseqüente não aceitação da existência de um jus cogens, normas imperativas de Direito Internacional geral que não podem ser derrogadas por normas criadas pelos Estados em suas relações mútuas (artigos 53 e 64 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969).
As soluções, das mais variadas origens e opções, adquiriram certa univocidade na literatura, quando vários autores afirmam que a soberania no plano internacio-nal significa o poder de não se subordinar ao poder de entidade semelhante. Assim, pode haver subordinação, mas não em relação a outro Estado.
Accioly ensina sobre os elementos constitutivos do Estado: “é necessária a existência de um governo soberano, isto é, de um governo não subordinado a qualquer autoridade exterior e cujos únicos compromissos sejam pautados pelo próprio DI” (ACCIOLY, 2008).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 283
De outro modo exposto, mas com semelhante percepção, está Bóson, que diferencia a soberania horizontal, negativa, da vertical, positiva. A ideia é que apenas a horizontal pode ser aplicada ao estado nas relações internacionais, pois a soberania vertical está vinculada à ideia de subordinação política. Num contexto de “soberania horizontal” os Estados não têm a “soberania vertical”, pois estão sob ordem jurídica internacional (BÓSON apud LUPI, 2004).
A soberania horizontal significa, portanto, que o poder estaria dividido pelos Estados, a partir de certo ponto, marcado pelo Direito Internacional e deste ponto para dentro de seu território com poder de subordinação. Nesta área ele não poderia sofrer interferência dos demais, organizando-se os Estados como poderes paralelos uns aos outros. Nesse sentido a soberania seria o direito de resistir à ingerência em assuntos da sua competência assim determinada.
Ocorre que, a ênfase em comandos que exigem omissões, como o dever de não interferir nos assuntos internos de outros Estados, obscurece o fato reconhecido de também haver no Direito Internacional normas que impõem deveres positivos, de que é exemplo a obrigação de colaborar na implementação de ações de seguran-ça coletiva.
Concepção próxima a anterior é também a de Rezek (1998), que acrescenta:
Identificamos o Estado quando seu governo – ao contrário do que sucede com o de tais circunscrições [municípios e províncias federais] – não se subordina a qualquer autoridade que lhe seja superior, não reconhece, em última análise, nenhum poder maior de que dependam a definição e o exercício de suas competências e só se põe de acordo com seus homólogos na construção da ordem internacional, e na fidelidade aos parâmetros dessa ordem, a partir da premissa de que aí vai um esforço horizontal e igualitário de coordenação no interesse coletivo. Atributo fundamental do Estado, a soberania a faz titular de competência que, precisamente porque existe uma ordem jurídica internacional, não são ilimitadas; mas nenhuma outra entidade as possui superiores.
Vislumbra-se aqui a noção de que o conceito de soberania opera como um elemento de tradução generalizante de um fato para o discurso jurídico, mas sem olvidar a origem deste mesmo significado, que é a do campo do embate de forças e interesses, sujeito portando às vicissitudes e variações.

284 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
3.1.1. Direito ambiental internacional
O desenvolvimento do direito Internacional do meio ambiente, segundo Accioly, coloca-se dentre os mais significativos das últimas décadas, praticamente inexistente até 1972, quando se tornou parte central do direito internacional e tema recorrente das negociações e esforços de regulamentações de caráter tanto no âmbito interno como externo dos Estados. Desnecessário frisar o papel crucial deste, desde que se lhe assegure a efetividade institucional e normativa, visando à sobrevivência da vida no planeta.
Na administração de seu próprio território e em quanto faz ou deixa que se faça nos espaços comuns, o Estado subordina-se às normas convencionais, de elaboração recente e quase sempre multilateral, a propósito do meio ambiente. A gênese dessas normas justificou-se, antes de tudo, na interdependência.
O dano ambiental devido à negligência ou à defeituosa política de determina-do Estado tende de modo crescente a repercutir sobre outros, não raro sobre o inteiro conjunto, e todos têm a ganhar com algum planejamento comum.
Segundo Rezek (2005), essas normas prestigiam direitos humanos de terceira geração, o direito a um meio ambiente saudável, tendo as normas ambientais um toque frequente de “diretrizes de comportamento” mais que de “obrigações estritas de resultado”, configurando por isso o soft law.
3.1.2. Mecanismo de preservação internacional do meio ambiente
Na falta de leis internacionais vigoram os tratados celebrados entre os sujeitos de direito internacional público, seguindo princípios que são adotados para a celebração desses tratados. Uma das principais características do chamado Direito Internacional do Meio Ambiente é a proliferação de Tratados para a proteção ambiental (ANTUNES, 2005).
As fontes do Direito Internacional são os suportes que vão gerar as normas internacionais, e consequentemente os tratados. Conforme disposto no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, esse órgão decide com base nos tratados internacionais, nos costumes, nos princípios gerais de direito, jurisprudência e equidade, textualmente:

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 285
1. A Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar;
2. as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;
3. o costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como direito;
4. os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas;
5. as decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior competência das diversas nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, sem prejuízo do disposto no Artigo 59.
6. A presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir um litígio ex aequo et bono, se convier às partes.
Ao decidir sobre determinada causa, órgão judiciário vai se valer das fontes para interpretar a norma e preencher as suas lacunas, podendo acrescentar os atos unilaterais, a analogia e a equidade (GAMA, 2002).
Como fonte para tais tratados, pode-se destacar os princípios gerais de direi- to internacional ambiental, citando-se e não exaurindo, alguns princípios de direito internacional e na esfera ambiental internacional:
a) princípio do patrimônio comum da humanidade: esse princípio se con-trapõem com o princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais, este último oportunamente mencionado, afirma que determi-nados recursos são comuns a humanidade, pois não se encontram sobre a jurisdição de nenhum Estado, como exemplo podemos citar o alto mar, ar e o espaço sideral. Sendo que tal princípio tem sua aplicação onde termina a aplicação do princípio da soberania sobre os recursos naturais comuns. A incidência do princípio em comento subordina-se, em última análise, a adesão consentida dos Estados a regras que limi-tam sua soberania sobre determinados recursos naturais e submetem a exploração desses recursos a um regime internacional de gestão. Con-tudo, esse princípio se aplicaria a bens comuns da humanidade e não a

286 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
recursos naturais residentes em Estados Soberanos, só se aplicaria se tal Estado consentisse através de tratados.
b) princípio do direito ao desenvolvimento: este princípio se confunde com o princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais, este último oportunamente mencionado, onde preconiza o direito dos Estados usarem seus recursos naturais de acordo com suas políticas na-cionais (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003).
O direito ao desenvolvimento afirma o direito dos Estados de formularem e implementarem suas políticas de proteção ao meio ambiente em consonância com a promoção dos direitos humanos e que todo o homem tem o direito de contribuir para e participar do desenvolvimento cultural, social, econômico e político.
Concluindo-se que todos os Estados têm o direito a se desenvolverem u- tilizando seus recursos naturais, desde que promovam a garantia e proteção do meio ambiente.
c) princípio do desenvolvimento sustentável: busca enfatizar o desenvol-vimento dos Estados sem prejudicar o meio ambiente. O relatório de Brundtland dá o conceito do princípio como sendo “o desenvolvimen-to que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender aos seus próprios interes-ses”. Segundo os autores Accioly, Silva e Casella (2008): O desenvolvi-mento sustentável inclui aspectos procedimentais, tais como o dever de elaborar estudo de impacto ambiental e outras avaliações ambientais, e participação pública no processo decisório como forma de promover aumento de qualidade e sustentabilidade.
Claramente se difunde a possibilidade de utilização dos recursos naturais do Estado de forma sustentável sem prejudicar a presente geração, bem como, em não comprometer a sobrevivência das futuras gerações.
3.1.3. Tratados Internacionais
A criação e formalização de normas ambientais internacionais são realizadas por meio de tratados e convenções, ou ainda acordos bilaterais, pelos quais os

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 287
Estados deliberam sobre a questão ambiental e seus aspectos. A operacionalização da proteção ambiental, por sua vez, possui instrumentos diversos para a efetivação da política preservacionista.
Ao longo da história, foram realizadas convenções para se tentar amenizar a degradação do meio ambiente na esfera internacional, o que levou a elaboração de vários tratados, dos quais alguns merecem destaque na pesquisa, deixando clara a variedade de tratados sobre a diversidade biológica, como os a seguir expostos e comentados pelos autores Dantas, Accioly, Silva e Casella:
a) Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano: Em 1972 fez-se uma tentativa em encontrar soluções para as tragédias ambientais ocorridas a partir da década de 1960 - vazamentos de óleos, poluição que ultrapassaram as fronteiras dos Estados. Esta conferência inaugu-rou conflitos diplomáticos entre países desenvolvidos, responsáveis pela maior parte da poluição global e elaborou três principais documentos: a Declaração de Princípios de Estocolmo, com 26 princípios políticos com importância para o direito internacional; o Plano de Ação para o Meio Ambiente, que contém 109 recomendações para desenvolvimen-to de políticas; e a resolução que instituiu o Programa das Nações Uni-das para o Meio Ambiente, órgão sem personalidade jurídica e subsidi-ário da Assembléia Geral das Nações Unidas, com fim para desenvolver programas internacionais e nacionais de proteção ao meio ambiente;
b) Conferência do Rio de Janeiro (ECO-92): no período correspondente entre 1972 e 1992, ouve um grande número de tratados internacionais voltados à proteção do meio ambiente, pois vários ocorridos contri-buíram para esse aumento significativo dos tratados - o fim da Guer-ra do Vietnã; Chernobyl; o derramamento do petroleiro da Exxon no Alasca. Diante desse cenário dos anos 80, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde reuniu 178 representantes de estados e diversas ONGs para a proteção do meio ambiente e do desenvolvimento econômico sustentável. Dessa conferência resultou a adoção dos seguintes documentos não vinculan-tes: Agenda 21; Declaração de Princípios sobre as Florestas; Declaração

288 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de Princípios sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a criação da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável.
c) Cúpula da Terra (RIO + 10): realizada em Johannesburgo, em 2002, com a representação de 191 Estados, a fim de discutirem os principais problemas relacionados com o meio ambiente, fazendo-se um balanço daquelas recomendações firmadas na Conferência do Rio de Janeiro, assim como as previstas pela Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, além de debater outros tópicos, como a pobreza mundial, o processo de desenvolvimento sustentável e a justiça social, não tendo grandes resultados.
A soma da Declaração do Rio de Janeiro com a Declaração de Estocolmo forma-ria um conceito mais abrangente de desenvolvimento sustentável, a ser consagrado como direito positivo, chegando a integrar os ordenamentos constitucionais de diferentes Estados. Formou-se o grande ápice no estabelecimento de princípios que seriam seguido pela atual especialização de normas, a fim de torná-las mais diretas e cogentes, encarando o grande desafio acerca da efetividade normativa e real concretização dos efeitos perquiridos (VARELLA apud DANTAS, 2009, p. 50).
A Declaração de 1992 trouxe à tona outras discussões de grande relevância. A questão da Soberania dos Estados veio citada no Princípio 23 da referida carta, mantendo a linha do Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, que dispõe:
Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios de direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus recursos de acordo com suas próprias políticas ambientais e desenvolvimentistas, e a responsabilidade de assegurar que as atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de ares além dos limites da jurisdição nacional.
Destaque-se o Princípio 15 da Declaração de 1992, que consagrou o princípio da precaução, cujo cerne se concentra na ideia de que, quando existentes a ameaça e a danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica não pode justificar a inércia do Estado em tomar medidas eficazes e economicamente viáveis, para prevenir a degradação ambiental.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 289
Dessa forma, os tratados internacionais só possuem legitimidade jurídica no que concerne à sua iniciativa de cooperação e fundamentalmente no desen-volvimento dos pontos previstos pelos tratados internacionais em que figuram os Estados envolvidos como parte, tendo assim o caráter de política voltada para questões ambientais (DANTAS, 2009).
Ademais, prima-se por tratar pela vertente do direito em sua esfera nacional, razão da próxima abordagem.
3.2. direito nacional
O Estado Independente do Brasil, reconhecido internacionalmente, possui elencado na sua Constituição de 1988, o princípio fundamental da Soberania – artigo 1º, inciso I: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de direito e tem como fundamentos: I– a soberania (...)” (BRASIL, 1988).
O artigo 4º da mesma Carta Magna dispõe que a República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais, dentre outros, pelos seguintes princípios: I- independência nacional; II- não-intervenção (BRASIL, 1988).
Entendendo-se a União (unidade federativa) como a ordem central que se forma pela reunião de partes, por meio de um pacto federativo e República Federativa do Brasil a formada pela reunião da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos Municípios, todos autônomos no termos da Constituição Federal. Assim, a República Federativa do Brasil é soberana no plano internacional, enquanto os entes federativos são autônomos entre si.
Dessa forma, a União possui “dupla personalidade”, pois assume um papel interno e outro internacionalmente:
Internamente, ela é uma pessoa jurídica de direito público interno, componente da Federação brasileira e autônoma na medida em que possui capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, configurando, assim auto-nomia Financeira, administrativa e política (FAP).
Internacionalmente, a União representa a República Federativa do Brasil (vide art. 21, I a IV). Observa-se que a soberania é da

290 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
República Federativa do Brasil, representada pela união federal (LENZA, 2008, p. 254).
[...] a União age em nome de toda a Federação quando, no plano internacional, representa o País, ou, no plano interno, intervém em um Estado-membro. Outras vezes, porém, a União age por si, como nas situações em que organiza a justiça Federal, realiza uma obra pública ou organiza o serviço público federal (ARAÚJO; NUNES JUNIOR, 2011).
Como um país Soberano o Brasil tem suas próprias normas, com uma Cons-tituição considera rígida e os tratados de qualquer espécie para serem assinados e adentrar no país como lei deve seguir um procedimento específico. No Brasil a incorporação no ordenamento jurídico interno de tratados internacionais precisa passar por um processo, distinguido por Lenza (2008, p. 161) em quatro fases distintas:
a) celebração do tratado internacional (negociação, conclusão e assinatu-ra) pelo Órgão do Poder Executivo (ou posterior adesão [terceira eta-pa], art. 84, VII – Presidente da República);
b) aprovação (referendo ou “ratificação” lato sensu), pelo Parlamento, do tratado, acordo ou ato internacional, por intermédio de decreto legisla-tivo, resolvendo-o definitivamente (Congresso Nacional, art.49, I);
c) troca ou depósito dos instrumentos de ratificação (ou adesão caso não tenha tido prévia celebração) pelo Órgão do Poder Executivo em âmbi-to internacional;
d) promulgação por decreto presidencial, seguida da publicação do texto em português no Diário Oficial.
Neste momento o tratado, acordo ou ato internacional adquire executorie-dade no plano do direito positivo interno, guardando estrita relação de paridade normativa com as leis ordinárias.
O Ministro Maurício Corrêa expõe o posicionamento do STF: “[...] os compromissos assumidos pelo Brasil em tratado internacional de que seja parte (§2º do art. 5º da Constituição) não minimizam o conceito de soberania do

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 291
Estado povo na elaboração da sua constituição [...]” (CORRÊA apud LENZA, 2008, p. 162).
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde que aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional e em 02 turnos de votação (artigo 60, §2º), passam a ter a mesma natureza jurídica das emendas constitucionais. Já os tratados e convenções internacionais de outra natureza podem ser objeto de controle e tem força de lei ordinária.
3.2.1. Direito ambiental sob a ótica da Constituição Federal de 1988 - Princípios
A Constituição de 1988 pela primeira vez inseriu capítulo próprio para as questões ambientais, dentre outros no texto constitucional, voltados para a proteção ambiental.
A Carta Constitucional frisa o dever do Estado e da sociedade em proteger o Meio Ambiente - artigo 225:
Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
Essa norma constitucional deixa latente a obrigação de todos na proteção do Meio Ambiente, nacionais e alienígenas, independentemente de raça, sexo ou residência. Sendo que o §4º do artigo 225 preconiza a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, dentre outras:
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (BRASIL, 1988).
A norma deixa evidente que somente se pode fazer uso da Floresta Amazônica brasileira na forma que a lei estabelecer, mas que não são áreas de bens da União por serem chamadas de “patrimônio nacional”. Não estando impedida a utilização,

292 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental (ACCIOLY, 2008).
Assim, tem-se que o Direito Ambiental brasileiro é autônomo e possui seus próprios princípios que constituem pedras basilares do sistema político jurídico, sendo também adotados internacionalmente em conformidade de cada Estado, com a busca de uma maior proteção ambiental (FIORILLO, 2008), veja-se brevemente:
1) Principio da proteção ambiental e a cooperação entre os povos - É o mecanismo mais difundido para a preservação internacional, denotando-se a crescente intensificação dos processos de cooperação internacionais, nos quais se inclui a iniciativa brasileira, cuja legislação a prevê como instrumento de defesa do meio ambiente e recursos naturais. Abraçado constitucionalmente no artigo 4º, inciso IX da Constituição Federal brasileira e serve como um dos norteadores das relações internacionais empreendidas pelo Brasil.
Nas normas de Direito Ambiental Internacional a cooperação é elevada a um dever, que deve ser cobrado de todos os Estados com capacidade para oferecê-la.
O princípio 7 da declaração do Rio de Janeiro (1992) traz em sua íntegra:
Os Estados devem cooperar, em um espírito de parceria global, para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as distintas contribuições para a degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém, diferenciadas. Os países desenvolvidos sustentáveis , em vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros que controlam (Declaração do Rio de Janeiro, 1992).
Depreende-se, que por cooperação as ações conjuntas levadas a cabo entre alguns ou todos os Estados, com vistas a um determinado fim. Essas ações são acordadas multilateralmente ou instituídas por normas não escritas, sem excluir a subclassificação empregada por alguns autores da cooperação assistência, seja ela o conjunto de ações empreendidas por um Estado ou um grupo de Estados, em caso de emergência ou acidentes ocorridos.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 293
2) Princípio do desenvolvimento sustentável - Originou-se na Conferência Mundial do Meio Ambiente (Estocolmo-1972) e na Constituição Brasileira encontra-se no artigo 225, caput:
Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
Os recursos ambientais não são uma fonte inesgotável, assim, busca-se uma harmonia entre economia e meio ambiente, pois inadmissível que atividades econômicas se desenvolvam alheias a este fato inesgotável. Objetiva-se o desen-volvimento de forma planejada, sustentável para que tais recursos existentes não se esgotem, garantindo também que futuras gerações tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos presentes na atualidade (FIORILLO, 2008).
3) Princípio do poluidor pagador - Originado na Comunidade Econômica Européia encontra-se previsto na Constituição de 1988 no artigo 225, §3º. Este princípio não preconiza poder pagar para poluir. Em verdade apresenta duas órbitas de alcance: busca evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo) e ocorrido o dano, visa sua reparação (caráter repressivo). (FIORILLO, 2008, p. 37).
4) Princípio da prevenção - Surgiu na Conferência Mundial do Meio Ambiente (Estocolmo-1972) e encontra-se previsto no artigo 225 da Cons-tituição 1988, onde cita o dever do Poder Público e da coletividade de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Elencado também no princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e desenvolvimento (1992):
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
A prevenção e preservação são fundamentais, sendo que danos ambientais, na maioria das vezes são irreversíveis e irreparáveis e devem ser concretizadas por

294 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
meio de uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de uma política de educação ambiental.
5) Princípio da participação - fundamentado também no artigo 225 da Constituição Federal e impõe ao poder público e à coletividade o dever de proteção e preservação do meio ambiente, apresentando dois elementos fundamentais: informação e educação ambiental.
O direito à informação tem base na Constituição de 1988 nos seus artigos 220 e 221, que preconizam o direito à informação e o de ser informado, voltado ao direito ambiental, em que o Estado tem o dever de informar a população de qualquer obra/projeto que envolva o meio ambiente. Também o particular tem que prestar informações ao Estado de qualquer obra que envolva o meio ambiente, sendo que a Educação Ambiental (§1º, VI do artigo 225/CF) prima pela consciência ecológica ao povo, sendo dever do Estado promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, junto com a conscientização para a preservação do meio ambiente.
3.2.2. Política nacional do meio ambiente
A Constituição Federal de 1988 tutelou a definição do meio ambiente de forma ampla, englobando não só o meio ambiente natural, mais também o artificial, o do trabalho e o cultural.
A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõe busca facilitar a identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. Não se pode perder de vista que o direito ambiental tem como objeto maior tutelar à vida saudável, de modo que a classificação apenas identifica o aspecto do meio ambiente em que valores maiores foram aviltados (FIORILLO, 2008, p. 20).
A Política Nacional do Meio Ambiente tem seus objetivos estabelecidos pelos artigos 2º e 4º da Lei 6.938/81:
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 295
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo (BRASIL, 1988).
(...)
Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equi-líbrio ecológico; II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais; V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (BRASIL, 1988).
A Política Nacional do Meio Ambiente visa preservar o meio ambiente, para a melhor sobrevivência dos seres vivos e para assegurar a proteção da dignidade humana e da segurança nacional. Serve, ainda, como um indutor do desenvolvimento socioeconômico sustentável:
A PNMA, portanto, deve ser compreendida como o conjunto dos instrumentos legais, técnicos, científicos, políticos e econômicos destinados à promoção do desenvolvimento sustentado da sociedade e economia brasileira. A implementação da PNMA faz-se a partir de princípios que são estabelecidos pela própria Constituição Federal e pela legislação ordinária (ANTUNES, 2005, p.80).

296 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) foi criado pela Lei nº 6.938 de 31/08/1981 e tem por finalidade estabelecer uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da federação, visando assegurar mecanismos capazes de implementar a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), com a abordagem de todos os órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, citando também as fundações públicas e. (FREIRE, 2000, p. 48; ANTUNES, 2005, p. 79).
Segundo Freire, o “Sistema pode ser conceituado como um conjunto de instituições, princípios e métodos por eles adotados, intimamente relacionados e direcionados a um resultado comum”. (2000, p. 48) e estruturado em sete órgãos estabelecidos pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente:
a) órgão superior: o conselho do Governo tem a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas dire-trizes governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais;
b) órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, (dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal), tem responsabilidade de: 1- formular e executar a política nacional do meio ambiente; 2- planejar, coordenar, super-visionar e controlar as ações relativas ao meio ambiente e aos recursos hídricos; 3- conservar e preservar o uso racional dos recursos naturais renováveis; 4- verificar a implementação de acordos internacionais na área ambiental e 5- da política integrada para a Amazônia legal;
c) órgão consultivo e deliberativo: é federal o conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e tem como finalidade assessorar, estu-dar e propor ao Conselho do Governo diretrizes de políticas governa-mentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente;
d) órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e é quem cabe a responsabilidade de executar e fazer executar, como órgão federal a política e diretrizes go-vernamentais fixadas para o meio ambiente;
e) órgãos setoriais: são órgãos da administração federal, direta e indireta ou fundacional voltados para a proteção ambiental e disciplinamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais;

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 297
f ) órgãos seccionais: órgãos ou entidades no âmbito estadual que são res-ponsáveis pela execução e por programas ambientais e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental;
g) órgão locais: são entidades ou órgãos no âmbito municipal, onde são responsáveis pelo controle de programas ambientais e fiscalizam ativi-dades que utilizam de recursos ambientais.
Alguns projetos implantados também ajudam na preservação e monitora-mento da região amazônica, tem-se como exemplo o Projeto Calha Norte, que foi implantado em 1985, e tem como objetivo impedir o contrabando, biopirataria e a garantia da Soberania nacional fiscalizando assim as fronteiras do Brasil com os demais países. Integra esse projeto o plano de monitoramento remoto da Amazônia, denominado Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), a proposta foi lançada em 1990 e em 2004, ocorreu o teste final, garantindo 98% de funcionamento do banco de dados do sistema. Por meio deste equipamento é possível controlar o contrabando (pista clandestinas de aviões), queimadas e o desmatamento para extração de madeira. Os centros regionais de vigilância localizam-se em Manaus, Porto Velho e Belém (PENNAFORTE, 2006), conforme mapa:
figura 03: centros regionais de vigilância
Fonte: Lourenção (2003)
O Sivam tem condições de proporcionar a aquisição, produção e veiculação de dados e informações que podem ser disponibilizados em tempo hábil, para

298 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
permitir a articulação dos órgãos governamentais envolvidos em programas de desenvolvimento, controle e fiscalização da Região Amazônica. Com isso pretende-se evitar a duplicação de esforços e recursos, através de programas próprios, executados de forma integrada e adequados às condições regionais, objetivando-se o estabelecimento de políticas adequadas à integração econômica, política e social da Amazônia ao restante do país (LOURENÇÃO, 2003).
Com esses programas em funcionamento, o Brasil tem a sua disposição informações em tempos reais, em que poderá agir adequadamente na preservação da região.
4. a amazônia brasileira – realidades
Desde a época da colonização do Brasil a região Amazônica gera uma cobiça sobre outros países. A Amazônia nasceu e viveu sob o signo invariável da internacionalização. Não foi descoberta, ocupada e desenvolvida tranquilamente, sob a égide de um só povo (MENDONÇA, 2007), é um patrimônio nacional do Brasil, não podendo dispor dele e nem efetuar nada que não esteja ampa- rado em lei nacional.
O interesse internacional pela região da Amazônica, tanto imperial, comercial, como científico, já se mostrara em várias ocasiões, desde o tempo da colonização do Brasil. De início, o interesse dos ibéricos na Amazônia, vinculou-se à preocupação com os metais preciosos, característica das aventuras dos primeiros exploradores.
Nos primeiros tempos desbravaram a região com a imaginação exaltada pela narrativa das riquezas lendárias como o do “El Dourado”, originado de mitos indígenas, que fez os europeus acreditarem que havia fartura de ouro, em um local na Amazônia.
Segundo Meirelles (2006) a mentalidade mercantilista européia permitiu a crença nessas lendas, que só serviram para encerrar prematuramente muitas vidas, inclusive de índios escravizados, os quais eram utilizados como carregadores, re-madores e moeda de troca em negociações para a obtenção de mapas e guias.
Para Bezerra (2010) o interesse dos europeus pela Amazônia não difere do que tiveram por outras regiões do globo. O objetivo era muito pragmático,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 299
encontrar produtos que não fossem de grande valor, bem como não perecíveis e que poderiam ser transportados para as metrópoles européias com segurança e fossem capazes de gerar lucros muito altos para compensar os grandes riscos das expedições.
A partir do século XVIII cresce a curiosidade científica e o interesse das coroas européias sobre as grandes regiões selvagens como a Amazônia. Portugal, o então proprietário da maior parte da Amazônia, é o primeiro a enviar uma expedição que trabalha por quase uma década na região, a de Alexandre Rodrigues Ferreira. Essa expedição tinha tanto o caráter de anotar o que se passava e conferir as posses e o poderio português, avaliando a presença espanhola, quanto propriamente, dedicar-se à ciência (BASSEGIO, 1992).
Desse modo, pesquisadores europeus aportaram na região para estudar a fauna, o solo e principalmente a riquíssima flora amazonense. Países europeus financiaram dezenas de expedições que demoraram anos na região, o que é aceitável para uma área tão rica.
Entre os episódios mais relevantes, destaca-se, na visão de autores como Bezerra (2010) a pressão pela abertura do rio Amazonas à navegação internacional, oficializada em 1853 pelo diplomata americano W. Trousdale; o movimento Pró-Internacionalização da Amazônia, da Unesco (1945). A pretexto de desenvolver pesquisas científicas, a Unesco propõe a criação do Instituto da Hiléia Amazônica, controlado por um conselho supranacional, onde o Brasil só teria um voto; o projeto Jarí (1966), do mega empresário americano Daniel Ludwig, que pretendia formar um enclave de 3 milhões de hectares; a lei de Patentes (1993), ofensiva americana no sentido de patentear a rica biodiversidade amazônica, sem a qual o seu extraordinário conhecimento de biotecnologia é inócuo; houve também a presença constante de “aventureiros” e “humanistas” em áreas longínquas da Amazônia, como é o caso dos suíços Pierre-Henri Liniger e Fabiene Corinne, e do haitiano Jean Coet, presos pelo exército em 1991 no garimpo dos índios tucanos. Portavam instrumentos mecânicos de garimpagem e se identificaram como membros da Juventude Socialista de Genebra.
Mas as razões da cobiça para com a região Amazônica Brasileira estão evidentes:
Ninguém de bom senso tem qualquer ilusão de que as investidas americanas na área tenham motivações humanitárias ou

300 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
ecológicas. Todos sabem que a pressão pela internacionalização da Amazônia fundamenta-se no caráter estratégico da área - faz fronteira com sete países – e no seu enorme potencial econômico.
Do ponto de vista econômico, a lista de potencialidades é extensa, sendo dignos de destaque os seguintes aspectos: maior bacia hidrográfica do mundo; maior biodiversidade do planeta, tanto do ponto de vista da flora como da fauna; terras de várzea, agriculturáveis, de alta fertilidade, suficientes para produzir em torno de 60 milhões de toneladas de grãos (equivalente a toda a produção nacional); e, especialmente, a maior planície mineral do mundo, onde apenas as reservas mensuradas e avaliadas estão estimadas em US$ 1,6 Trilhão.
Essa riqueza mineral, ademais, é bastante diversificada. As maiores reservas são de alumínio, argila, calcário, caulim, cobre, cromo, diamante, estanho, ferro, fosfato, gás, gipsita, linhito, manganês, nefelina, nióbio, níquel, ouro, petróleo, pirofilita, potássio, sal-gema, silício metálico, titânio, tungstênio, turfa e zinco. Não é, efetivamente, algo que se possa desprezar (BEZERRA, 2010, p. 49).
Outro fato que chama a atenção é a desproporcional quantidade de ONGs na amazônia brasileira, em comparação com as que se propõem à ajuda humanitária das populações mais sofridas. O quadro abaixo demonstra esse disparate:
figura 04: ongs na amazônia
Fonte: Barros (2008, p. 28)
A tabela demonstra com clareza, que os objetivos dessas ONGs são outros, pois são mais de 350 mil ONGs atuando em defesa de 230 mil indígenas que

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 301
não estão sujeito à fome e nem à sede, contra nenhuma ONG para 10 milhões de pessoas que passam necessidades básicas no nordeste. É o que chamamos de “muita terra para pouco índio”. Como é cediço, essas ONGs são de controle de países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, os quais se utilizam do pretexto para criarem o esquema denominado “governo mundial”, cujo objetivo final é a internacionalização da Amazônia (BARROS, 2008).
Além de ser um Patrimônio Nacional (CF, art. 225, § 4º), a Amazônia é também, um bem comum de todos imprescindível para a sobrevivência da humanidade, e o Brasil, enquanto Soberano, tem à sua disposição outros meios para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação da região Amazônica.
Fundamental é evitar que se continue fomentando a devastação e implementar a fiscalização do governo, inviabilizando a grilagem para a expansão agrícola.
Necessário se faz acabar com o desmatamento e apostar decididamente na eco- nomia da floresta, com tecnologia, indústria e inovação. Instrumentos como certificação, não só da madeira, mas dos produtos agropecuários e pagamentos por serviços ambientais que são complementares mais contribui para a competitividade da economia brasileira (FELDMANN; SMERALDI, 2008).
Necessário mudar a cultura do desmatamento, o que implica em uma mu-dança de comportamento, abandonando práticas comodistas e exigindo uma participação ativa do cidadão, fator este fundamental para a implementação de uma modificação completa no saber preservar. Pois a complexidade da questão ambiental está no fato de necessitar do compromisso global, como também do individual. Sendo necessário pensar globalmente e agir localmente, a ação coletiva sem sintonia com a individual não resultará em benefícios para a proteção ambiental. Assim todos os atos sociais e todas as instituições deverão somar esforços na defesa ambiental. A partir do compromisso ambiental firmado por cada cidadão, o coletivo estará fortalecido, pois o individual refletirá no todo.
Deve-se, ainda, adotar uma política menos complacente em relação às inúme-ras ONGs que atuam na Amazônia, pois há raras organizações internacionais de mérito reconhecido em defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, sendo inúmeras entidades inidôneas e de finalidade incerta e não sabida, principalmente

302 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
atuam nas áreas de reserva indígena, onde os territórios são imensos, e o Estado brasileiro não tem controle do que se passa no interior dessas reservas indígenas. Deve-se ter o controle do que acontece realmente dentro das reservas indígenas e as reais intenções das ONGs (MOURÃO apud COSTA, 2008).
O governo deve investir mais na fiscalização, pois as leis existem, e buscar o desenvolvimento sustentável reduzindo o desmatamento. Para diminuir esse desmatamento temos a lei nº 10.267 de 2001 que impõe cadastramento e georreferenciamento das propriedades rurais, que consiste na descrição do imóvel rural, limites e confrontações, levantadas através de fotos por satélites, com isso, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), terá controle dos imóveis rurais em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que com essas informações fiscalizará as reservas legais estabelecidas por lei. Junto com políticas públicas e a aplicação das leis já existentes no Brasil, esse problema poderia não existir.
Vale lembrar a resposta de Cristovam Buarque que continua em evidência após dez anos:
Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo e risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, posso imaginar a sua internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a Humanidade. Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono, ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. (...) Não se pode deixar esse patrimônio cultural, como o patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. (BUARQUE apud PINTO, 2002, p. 101).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 303
A Amazônia pertence ao patrimônio brasileiro, portanto, a atenção é para a conscientização, com o afastamento da inércia, bem como na coibição de atos destrutivos, estando na alçada de cada brasileiro, bem como dos governantes fazerem a defesa pela a aplicação e proteção da região amazônica, pois leis para fiscalizar e proteger já existem.
5. conclusões
O Brasil é um país independente e tem sua Soberania reconhecida inter-nacionalmente, podendo como tal reger suas próprias leis e dispor dos seus recursos naturais para se desenvolver e tem sua própria Política Nacional do Meio Ambiente com bem estabelecidos objetivos - artigo 2º da Lei 6.938/81. Lei que cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) que tem por finalidade estabelecer uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da federação, visando assegurar mecanismos capazes de implementar a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), abordando todos os órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios.
Atualmente, o Direito Ambiental Internacional não se trata de uma norma geral esquematizada e sim que, na falta de leis internacionais, vigoram os tratados celebrados entre os sujeitos de direito internacional público seguindo princípios que são adotados para a celebração desses tratados. Assim, uma das principais características do Direito Internacional do Meio Ambiente é a proliferação de Tratados para a proteção ambiental.
Conforme as disposições de Direito Internacional relacionadas ao meio ambiente, prevalece o entendimento de que todo povo tem o direito exclusivo sobre suas riquezas naturais, consagrando a autonomia de gestão dos recursos naturais. Assim, o Brasil, enquanto Soberano, tem à sua disposição outros meios para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação da região Amazônica.
6. referências
ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G.E. do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba. Manual de direito internacional público. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

304 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 8 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.
ARAUJO, L. A. D.; NUNES JUNIOR, V. S. Curso de direito constitucional. 5. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2011.
BARROS, Miguel Daladier. Internacionalização da Amazônia: realidade ou utopia? In: Revista Jurídica Consulex. Ano XII. Nº 267. 29 de fevereiro de 2008. (p.26 - 31).
BASSEGIO. Francinete Perdigão Luiz. Migrantes amazônicos: Rondônia a trajetória de ilusão. São Paulo: Loyola, 1992.
BEZERRA, Eron. Amazônia esse mundo à parte. São Paulo: Anita Garibald, 2010.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
______. Lei nº 5173, de 27 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia; extingue a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), cria a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5173.htm. Acesso em: 04 nov 2010.
______. Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em: 14 nov 2010.
COSTA, Octávio. Amazônia a soberania está em xeque. In: Revista Istoé. Ano 31. nº 2012. 28 de maio de 2008. (p. 28 - 34).
DANTAS, Juliana de Oliveira Jota, A soberania nacional e a proteção ambien-tal internacional. São Paulo: Verbatim, 2009.
Declaração de Estocolmo 1972. Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano.
Declaração do Rio de Janeiro de 1992. Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 305
FELDMANN, Fabio; SMERALDI, Roberto. Combate ou incentivo ao des-matamento. In: Revista Jurídica Consulex. Ano XII. Nº 267. 29 de feve-reiro de 2008. (p. 24 – 25).
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
FREIRE, William. Direito ambiental brasileiro. 2º ed. Rio de Janeiro: Aide, 2000.
GAMA, Ricardo Rodrigues. Introdução ao direito internacional. 1 ed. São Paulo: Bookseller, 2002.
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
LITRENTO, Oliveiros. Curdo de direito internacional público. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
LOURENÇÃO, José Humberto. A defesa nacional e a amazônia: o sistema de vigilância da amazônia (Sivam). Dissertação de mestrado apresentado a Universidade Estadual de Campinas. Campinas: 2003.
LUPI, André Lipp Pinto Basto. Soberania e direito internacional público. In: GUERRA, Sidney; SILVA, Roberto Luiz (Coord.) Soberania: antigos e novos paradigmas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004.
MEIRELLES, João Filho. O livro de ouro da Amazônia. 5.ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.
MENDONÇA, Otávio. Internacionalização da amazônia. In: Amazônia: os desafios da região sob perspectiva jurídica. BRAGA, Rodrigo; SION, Alexandre, BARRETO, Luis Fernando Jr (Cood.). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.
PENNAFORTE, Charles. Amazônia contrastes e perspectivas. São Paulo: Atual, 2006.
PINTO, Luís Flodoardo Silva. Amazônia: retrato de uma região questionada. Porto Alegre: AGE, 2002.
REZEK, J. F. Direito internacional público: curso elementar. 10º ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

306 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
SAMPAIO, José Adércio Leite, WOLD, Chris, NARDY, Afrânio. Princípios de direito ambiental: na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
SIPAM. http://www.sipam.gov.br/content/view/183/10/ (2007). Acesso em 20 de novembro de 2012.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 307
aperfeiçoamento das regiões metropolitanas no brasil com base
no pluralismo jurídico e na superação da legalidade estrita
Miguel Etinger de Araujo Junior1
Marlene Kempfer2
Resumo
A população residente em áreas urbanas no mundo ultrapassou a que reside em áreas rurais no ano de 2008, superando os 80% no Brasil. Este aumento tem gerado efeitos positivos e negativos, destacando-se nos primeiros uma maior interação entre diversas culturas e nos segundos uma forte pressão por uma prestação de serviços adequada que abranja mais de um Município. Neste contexto, as Regiões Metropolitanas, que no Brasil vêm sendo criadas desde a década de 1960, constituem-se em uma tentativa de alcançar de forma mais eficaz a gestão dos interesses comuns, em especial dos interesses difusos, o que pode resultar em uma maior inserção da população de diversos Municípios no processo de discussão e deliberação de políticas públicas e, por conseqüência, em um fortalecimento da cidadania e da democracia. Exemplos concretos, no entanto, permitem comprovar mais uma vez que a mera previsão legal de mecanismos participativos não são suficientes para promover este fortalecimento da democracia, sendo muitas vezes capturados por interesses econômicos. Neste sentido, o trabalho pretende reforçar a importância destes órgãos de governança metropolitana, apresentando mecanismos atuais de superação de algumas
1 Doutor em Direito da Cidade pela UERJ; Mestre em Direito Público e Evolução Social pela UNESA/RJ; Professor Adjunto de Direito Ambiental e Urbanístico e de Direito Administrativo nos cursos de Graduação e Especialização lato sensu; Coordenador e professor do Mestrado em Direito Negocial da UEL – Universidade Estadual de Londrina; Advogado.
2 Mestre e Doutora em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, área de concentração de Direito Tributário, Coordenadora do Programa de Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR, Professora de Graduação e Mestrado da Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR, e da Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina – PUC/Londrina. Email: [email protected]

308 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
fragilidades, como o déficit democrático e politização do processo de criação destas regiões.
Palavras-chave
Região Metropolitana; Direitos difusos; Pluralismo jurídico; Democracia; Juridicidade administrativa.
Resumen
La población que vive en las zonas urbanas en el mundo superó la que reside en las zonas rurales en 2008, superando el 80% en Brasil. Este aumento ha generado efectos positivos y negativos, sobre todo en la primera una mayor interacción entre las diversas culturas, y en el segundo una fuerte presión para la prestación de servicios adecuados que cubren más de un municipio. En este contexto, las áreas metropolitanas en Brasil, que han sido creados desde la década de 1960, están en un intento de lograr más eficazmente la gestión de los intereses comunes, especialmente los intereses difusos, lo cual puede resultar en una mayor inserción de la población de varios municipios en la discusión y la determinación de las políticas públicas y, en consecuencia, en un fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia. Los ejemplos concretos, sin embargo, permiten demostrar una vez más que la mera elaboración de una norma legal para los mecanismos de participación no son suficientes para promover este fortalecimiento de la democracia, pues, no raro, son capturados por intereses económicos. En este sentido, el trabajo tiene como objetivo reforzar la importancia de estos órganos de gobierno metropolitano, presentando mecanismos actuales para superar algunas debilidades, tales como el déficit democrático y la politización del proceso de creación.
Palabras clave
Región Metropolitana; Derechos difusos; El pluralismo jurídico; La demo-cracia; La juridicidad administrativa.
1. introdução
Dados institucionais comprovam o que a população das grandes cidades já observa no cotidiano. No ano de 2008, a população mundial passou de uma

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 309
maioria rural para uma maioria urbana3. No Brasil, diversos fatores, sobre os quais não se pretende aprofundar neste trabalho, têm conduzido à população ao seu estabelecimento em áreas urbanas. Dados recentes demonstram que aproximadamente 85% 4 da população brasileira reside em centros urbanos.
Ruas dantes tranqüilas, com características eminentemente residenciais, apresentam hoje uma dinâmica totalmente diferente de décadas atrás, com um comércio pujante, circulação viária intensa, movimentação de pessoas constante, interação de grupos sociais distintos.
A constatação inicial deste panorama não significa uma tomada de posição sobre a conveniência ou preferência do modelo de vida urbano, mas tão somente uma introdução à proposta de reflexão exposta ao final deste trabalho.
Este constante crescimento populacional urbano traz diversas conseqüências, algumas positivas, outras negativas. Positivas do ponto de vista de inter-relação de diferentes segmentos sociais, diretrizes ideológicas (sem que esta convivência crie uma tensão direta que se percebe na área rural, que tem chegado inclusive à perda de vidas humanas). Negativas do ponto de vista ecológico, com crescente agressão ao meio ambiente natural, bem como do ponto de vista social, com crescimento da violência e segregação de espaços territoriais.
As questões que se apresentam para serem discutidas neste cenário têm conotação eminentemente coletiva, pois é do convívio desta diversidade que surgem demandas a serem respondidas não só pelo poder público, mas também e principalmente pelos diversos setores da sociedade.
A própria natureza destes direitos coletivos, ou especificamente, dos direitos difusos, demandam uma atuação compartilhada entre estes segmentos.
3 Esta informação foi divulgada ao largo do ano de 2008 pelos meios de comunicação do Brasil. Já em 19/04/2007, a ONU, por meio da Rádio das Nações Unidas divulgava que a população mundial urbana havia superado os 50%. In: <http://www.un.org/radio/por/story.asp?NewsID=2785>, acesso em 28 mai 2008.
O Fundo de População das Nações Unidas, órgão da ONU, divulgou resultados de relatório sobre dados da população mundial (In:< http://www.unfpa.org.br/relatorio2007/swp2007_por.pdf>, acesso em 28 mai 2008), onde consta uma previsão para 2008 de uma população urbana superior à rural, cerca de 3,3 bilhões de pessoas, sendo que este número deverá chegar a 5 bilhões em 2030.
4 Fonte: IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1>. Aceso em 02 maio 2011.

310 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Em regra, são as instituições do Estado que têm assumido, ao menos for-malmente, este papel de integrador dos interesses envolvidos.
O presente trabalho tem como escopo principal trazer algumas considerações sobre a organização do espaço urbano, em especial as possibilidades de reflexo nos direitos difusos das populações envolvidas, em função da institucionalização das Regiões Metropolitanas no Brasil. Não só a simples institucionalização, mas sua efetivação como órgão gestor das demandas comuns que afetem mais de um Município, adotando medidas concretas que possam promover um desenvolvimento social justo.
Estas Regiões Metropolitanas, que são entidades administrativas de gestão. em regra, têm sido criadas e geridas sem a efetiva participação da sociedade civil, destinatária final das atividades a serem implementadas pelo órgão gestor, o que pode gerar uma incompatibilidade entre demandas efetivas e atos realizados.
Recentemente, elas têm sido criadas indiscriminadamente, atendendo não a uma lógica de gestão integrada, mas com vistas à captação de recursos federais, ou ainda à conquista (sic) de em status metropolitano.
Este cenário que se apresenta na realidade brasileira exige uma tomada de posição pela reafirmação do compromisso de efetivação das Regiões Metropolitanas ou pela reorientação dos esforços institucionais na busca de outro mecanismo mais eficaz para a solução das demandas.
Neste trabalho são apontados alguns elementos que procuram fortalecer as Regiões Metropolitanas, optando assim pelo aproveitamento e aperfeiçoamento dos mecanismos já existentes neste processo de governança. Este modo de gerir interesses regionais, se aperfeiçoado, pode contribuir para uma justa organização do espaço urbano e atendimento dos interesses difusos, pois como afirma Manuel Castells5, “quando existe coincidência entre unidade social e unidade espacial, estamos diante de um modelo específico de sociabilidade”.
É o que se pretende demonstrar nestas breves linhas que se seguem.
5 CASTELLS, Manuel. “Problemas de investigação em Sociologia Urbana”. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1976, p. 31.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 311
2. ambiente urbano e metrópole
A análise das Regiões Metropolitanas exige uma abordagem inicial do con-texto em que estão inseridas, não só no seu plano jurídico, mas também, e principalmente, no seu contexto histórico-social. Esta ressalva se faz necessária, pois, se pretende-se ao final destas linhas refletir sobre a importância das Regiões Metropolitanas na justa organização do espaço urbano e atendimento dos direitos difusos, tem-se que compreender seu processo de institucionalização.
Primeiramente, entender o processo de urbanização é fundamental para com-preender o papel das Regiões Metropolitanas nos dias atuais, e a análise deste processo histórico é relevante, na medida em que se considera a cidade como organismo vivo, como um todo6.
Costuma-se remeter o surgimento das cidades ao ano 3.500 a. C., na localidade situada entre os rios Tigre e Eufrates. Por certo que a idéia de cidade daquela época não pode ser comparar com os modelos atuais, ainda que se possam encontrar, ainda hoje, grupos humanos vivendo em condições bastante primitivas.
Analisar o processo evolutivo das cidades pressupõe a adoção de alguns parâmetros, dentre os quais irá se desenvolvendo a idéia da evolução.
É neste sentido que Celso Antônio Pacheco Fiorillo7 sugere
[...] associar a origem das cidades em decorrência das grandes mudanças da organização produtiva na medida em que referida organização transformou, ao longo da história, a vida cotidiana da pessoa humana, provocando, de maneira crescente, um grande salto no desenvolvimento demográfico.
Somente por volta de 3.500 a. C. é que se pode mencionar, segundo a doutri-na8, o surgimento das cidades, com o aparecimento de uma classe de especialistas,
6 MUNFORD, Lewis. “A cidade na história”. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. Apud LEAL, Rogério Gesta. “Direito urbanístico: condições e possibilidades da constituição do espaço urbano”. Rio de Janeiro: Renovar, 2003., p 04.
7 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. “Estatuto da cidade comentado: Lei 10.257/2001: lei do meio ambiente artificial”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p 10.
8 Conforme FIORILLO, op. cit., p. 10, SILVA, José Afonso da. “Direito urbanístico brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2006. op.cit., p. 15-16.

312 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
ou elite, que impõe aos produtores de alimentos a produção de excedentes que lhes possibilite sua subsistência.
É importante destacar, neste sentido, a afirmação de Fiorillo9, de que “a partir deste momento, a história da civilização dependerá da quantidade e da distribuição de referido excedente”.
Este é, portanto, o primeiro estágio de evolução das cidades a que se refere José Afonso da Silva10, ao qual denomina “estágio pré-urbano”. Vale observar que a urbanização, aqui entendida como fenômeno de concentração da população em ambientes urbanos, é algo que só veio a se observar nas sociedades modernas.
O surgimento da sociedade pré-industrial é o segundo estágio de evolução das cidades a que se refere José Afonso da Silva11. Segundo este autor, é neste momento que efetivamente surgem as cidades, cuja grande característica é a existência de elementos capazes de multiplicar a produção e facilitar as distribuições.
O terceiro estágio é resultado da chamada Revolução Industrial ocorrida na época da ascensão da burguesia no século XVII.
Opera-se um grande avanço no que se refere às técnicas de produção, com a utilização de novas matrizes energéticas, resultando num excedente de produção que passa a ser acessível a toda população e não só às classes dominantes, o que, segundo Leonrado Benévolo12, leva a população a “crescer sem obstáculos econômicos, até atingir ou ultrapassar os limites do equilíbrio ambiental”.
Nesse contexto, o capitalismo, como modelo econômico, passa a ditar as regras do desenvolvimento e crescimento das cidades. A aquisição de riquezas, aumento de produção, escoamento e tráfego de produtos, dentre outros fatores, passam a ser os aspectos fundamentais nas intervenções da cidade, deixando de lado aspectos como qualidade do meio ambiente e relações sociais.
A Revolução Industrial, portanto, foi um marco, talvez o mais emblemático, neste processo de urbanização, uma vez que o aperfeiçoamento dos meios
9 FIORILLO, op. cit., p 10.10 SILVA, op. cit., p. 16.11 SILVA, op. cit., p. 16.12 BENÉVOLO, Leonardo. “História da cidade”. São Paulo: Perspectiva, 1977. Apud
FIORILLO, op. cit., p. 09.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 313
e técnicas de produção e também o aumento da produtividade geraram uma corrida da população aos centros urbanos que começavam a se formar, na busca de riqueza e bens materiais.
Essa industrialização acelerada em uma economia de mercado não foi acompanhada por um controle social voluntário do crescimento urbano13, o que pode ter gerado um déficit democrático14 no controle das Regiões Metropolitanas dos dias atuais.
Uma outra visão da cidade é apresentada por Maria Alice Rezende de Carvalho15, sustentando que há formas diferentes de cidades, além do modelo “industrial”. O enfoque dado pela autora visualiza a cidade como “expressão do modo de inteligibilidade social da vida comum” A cidade moderna resulta de um consentimento individual e não da ordem normativa natural dos gregos. O Estado deve existir para o cidadão e o consenso é uma utilidade e não uma virtude. Ainda segundo a autora, a cidade é um local não apenas de interesses pessoais, mas um local que devido às interações entre os homens cria uma identidade social que permite discutir a questão política.
Este aspecto não pode ser esquecido quando do planejamento e gestão do espaço urbano, e uma maior capacidade de se relacionar com seus pares indica uma condicionante favorável para a melhoria da qualidade de vida.
Em relação ainda ao processo de urbanização em geral, entende-se que este processo foi feito de forma desordenada, sem um planejamento de ocupação do solo urbano16.
Segundo José Afonso da Silva17 a urbanização no Brasil se deu de forma prematura, nem sempre relacionada com o desenvolvimento, mas em função de
13 CASTELLS, op. cit. p. 33.14 O termo “déficit democrático” vem sendo utilizado como ausência ou pouca participação da
sociedade, diretamente na tomada de posição quanto às políticas públicas.15 CARVALHO, Maria Alice Rezende de. “Cidade Cidades”. In WEYRAUCH, Cléia Schiavo
(Org.). “3 visões de cidade”. Rio de Janeiro: UERJ, Departamento Cultural, 2002, p. 54.16 Vale o registro de Rogério Gesta Leal (“Direito urbanístico: condições e possibilidades
da constituição do espaço urbano”. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 14) ao comentar que há exceções, como a cidade de Amsterdã, que aliou seu crescimento físico com planejamento ambiental.
17 SILVA, op. cit., p. 21.

314 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
um êxodo rural decorrente da vida precária no campo, e a ociosidade de mão-de-obra decorrente da mecanização da lavoura e da criação de gado que substitui esta lavoura.
É neste sentido que a urbanização pode gerar diversos problemas nos centros urbanos, como falta de habitação, degradação do meio ambiente, higiene, saneamento básico etc.
Quanto ao processo de urbanização brasileiro, ele se baseia em dois grandes momentos: o primeiro se dá entre a década de 30 e a de 80. As maiores cidades do Brasil passam a substituir sua forma de subsistência, que estava ligada à agricultura, pelo desenvolvimento industrial, processado inicialmente em função da produção do café.
Com o autoritarismo militar após a década de 60, opera-se uma maneira altamente tecnicista de promover a gestão do espaço urbano. É neste período que as Regiões Metropolitanas são pensadas e um processo institucionalizado de planejamento metropolitano começa a se desenhar, em especial com a Constituição de 1967, em seu artigo 164 e com a Lei Complementar nº 14/73.
Eros Roberto Grau18 observa que na década de 50 houve um documento governamental com referência à “área metropolitana”, mas que foi uma produção isolada19.
A segunda fase se inicia no final da década de 80, com a Assembléia Constituin- te e a Constituição Federal de 1988 trazendo uma forma mais racional e demo-crática de pensar a ordenação da cidade. As Regiões Metropolitanas mantiveram previsão constitucional, agora em seu artigo 25, §3º.
Esta nova relação da sociedade para com o espaço urbano se vale do urbanismo para, conjuntamente com outros ramos do conhecimento, pensar e produzir um espaço urbano de qualidade.
18 EROS, Roberto Grau. “Direito urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle ambiental”. São Paulo: RT, 1983, p. 08.
19 O autor se refere ao Plano de Eletrificação do Estado de Minas Gerais de 1950, citado em CINTRA, Antonio Octávio; HADDAD, Paulo Roberto (orgs.). “Dilemas do Planejamento Urbano e Regional no Brasil”. Zahar Editores, 1978, p. 233.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 315
Eros Roberto Grau20 já alertava para o “divórcio entre o Direito e as Ciências Sociais”, expressão cunhada por Angelos Angelopoulos para salientar a crise entre um Direito que ficava sem modificações e um Estado que estava completamente transformado após a 2ª Guerra Mundial.
Encontrar a exata medida de contribuição de cada ramo do conhecimento para a resolução dos problemas atuais é o desafio a ser vencido, sobretudo quando se tem atualmente uma forte demanda pelo atendimento dos direitos difusos e coletivos, potencializada nos ambientes urbanos. O conceito e abrangência acerca dos direitos difusos serão abordados a seguir.
3. os direitos difusos no espaço metropolitano
Esta realidade vivenciada por diversos países, consubstanciada no aumento da população residente em áreas urbanas, tem gerado uma situação que se tornou objeto de estudos nos mais variados ramos do conhecimento. A urbanização, por si só, não significa obrigatoriamente a constituição de uma metrópole. A urbanização poderia ser considerada um primeiro passo para a constituição desta metrópole.
O termo “metrópole” é de origem grega, consistindo na união dos termos “meter” = mãe, ventre, e “polis” = cidade. É um Município com forte concentração urbana, forte posição econômica, social e política não só em relação ao seu entorno, como em relação à todo o país. O que torna este Município com posição de destaque no cenário regional e nacional são os fatores positivos e negativos inerentes a eles.
Do ponto de vista positivo, tem-se que há uma maior interação entre pessoas de características bastante diferenciadas, proporcionando um constante contato com outras realidades, aptas, em tese, a promover um desenvolvimento não só pessoal mas também coletivo.
O lado negativo reflete-se, principalmente, na ocupação desordenada do espaço urbano, tendo em vista o aporte de milhares de pessoas, vindas de várias
20 GRAU, Eros Roberto. “Regiões metropolitanas. Regime jurídico”. São Paulo, Bushatsky, 194, p. 02

316 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
partes do país, atraídas pela possibilidade de um emprego melhor e conseqüente melhor padrão de vida.
A questão metropolitana está, portanto, intimamente ligada à questão da ur- banização. A partir do momento que esta “metropolização” de determinado Município passa a ser fator fundamental para o desenvolvimento e até a so-brevivência de Municípios vizinhos, forma-se o chamado “espaço metropolitano”. Um Município com atividade e renda superiores aos demais acaba por resultar em demandas comuns às pessoas que residem nos Municípios vizinhos que corresponde a este espaço metropolitano, em função do fluxo de pessoas entre elas (especialmente em função de suas atividades laborais), bem como da inter-dependência econômica. Além destas demandas, direitos também passam a ser pertencentes a esta coletividade de pessoas, direitos estes que, ante as peculiarida-des existentes não são passives de serem individualizados em cotas-parte.
Com efeito, a questão do meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações é um exemplo adequado para se mostrar a indivisibilidade destes direitos.
A redação do artigo 225 da CF/88, ao afirmar que o meio ambiente é direito de todos, evidencia o caráter transindividual ou coletivo deste direito, isto é, ele transcende a esfera pessoal do indivíduo, apresentando-se como direito de caráter difuso, de titulares indeterminados e objeto indivisível21.
A doutrina e jurisprudência brasileiras vêm, ao largo dos anos, reconhecendo a possibilidade de tutela destes direitos, tidos como coletivos, em sentido lato, e considerados difusos, conforme posição mais atualizada, sendo que esta expressão, “interesses coletivos”, começou a ser utilizada no início do Século XX, principalmente na Itália, com a intenção de designar fenômenos corporativos ou a soma dos interesses individuais, conforme relata Luis Paulo da Silva Araujo Filho22:
21 Direito transindividual, de natureza indivisível, titularizado por uma coletividade indeterminada e ligada por circunstâncias de fato, nos termos do artigo 81, Parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
22 ARAUJO FILHO, Luis Paulo da Silva. “Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos Direitos Individuais Homogêneos”. Rio de Janeiro: Forense, 2000., p. 09.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 317
Vigoriti salienta que os escritos do fim do século passado e do início deste século negavam autonomia à noção de interesse coletivo, no sentido de que os interesses coletivos eram considerados, e positivamente disciplinados como “soma” de interesses individuais, o que revelava o entendimento da doutrina liberal de negar relevância ao coletivo e impor, em certo sentido, a sua descomposição, exatamente em uma série de interesses e de relações individuais.
Somente nas últimas décadas do século XX a doutrina, em especial a italiana, abria os olhos para a necessidade de se dar tratamento jurisdicional específico para as situações jurídicas de contorno metaindividual ou transindividual, que alcançam um grupo nitidamente indeterminado de pessoas, fugindo das situações clássicas até então existentes.
É a partir da década de 1970 que grandes processualistas, como Mauro Cappelletti23, começam a dar ênfase ao tema dos “interesses coletivos ou difusos”,
No Brasil, as características elementares dos direitos difusos foram apresentadas por José Carlos Barbosa Moreira24:
a) não pertencem a uma pessoa isolada, nem a um grupo nitidamente limitado de pessoas ... mas a uma série indeterminada – e, ao menos para efeitos práticos, de difícil ou impossível determinação – cujos membros não se ligam necessariamente por vínculo jurídico definido;
b) referem-se a um bem, latíssimo senso, indivisível, no sentido de ser insuscetível de divisão em “quotas” atribuíveis individualmente, a cada qual dos interessados.
Estes se põem numa espécie de comunhão tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica a satisfação de todos, assim como a lesão de um só constitui, a lesão da inteira coletividade.
Posteriormente, no VII Congresso Internacional de Direito Processual, o referido Autor brasileiro completou a matéria, distinguindo essa categoria,
23 CAPPELLETTI, Mauro. “Appunti Sulla Tutela Giurisdizionale di Interessi Collettivi o Diffusi”. Padova: CEDAM. 1976, p. 194.
24 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “A legitimação para a defesa dos interesses difusos no Direito Brasileiro”. In “Temas de Direito Civil”. 3. série, 3. edição. Rio de Janeiro: Saraiva, 1984, p. 87.

318 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
que designou pela expressão de “interesses essencialmente coletivos” de outras hipóteses que chamou de “interesses acidentalmente coletivos”. Desde então, ficou caracterizado na doutrina a distinção entre os interesses coletivos, os interesses difusos e os interesses individuais homogêneos25.
Rodolfo de Camargo Mancuso26 identifica os interesses difusos como um interesse coletivo resultante da síntese de interesses individuais. É a “síntese”, não a “soma”. Interesses que não são a soma nem a justaposição dos integrantes do grupo. O ente coletivo resulta de “certos valores individuais atraídos por semelhança e harmonizados pelo fim comum”, e que se amalgamam no grupo. Este interesse coletivo aparece “como uma entidade geral e abstrata que absorve e supera a soma dos interesses individuais dos seus membros”27 28.
Assim, mesmo ciente da advertência romana de que “omnis definitio in jure civile periculosa est”29 (D. 50.17.202), o referido autor formula uma conceituação dos interesses difusos:
são interesses metaindividuais, que , não tendo atingido o grau de agregação e organização necessários à sua efetivação institucional junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses
25 Neste sentido, a doutrina vem utilizando-se das definições positivadas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90:
Art. 81 – A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
26 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. “Interesses difusos: conceito e legitimação para agir”. São Paulo: RT, 2000, p. 51.
27 “comme une entité générale et abstraite qui absorbe et dépasse la somme dês intérêts individueles de ses membres”. Tradução livre.
28 SOLUS, Henry; PERROT, Roger. “Droit judiciaire privé”. Paris: Sirey, 1996, p. 224. Apud MANCUSO, op. cit. p. 51.
29 “Toda definição na lei civil é perigosa”. Tradução livre.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 319
já socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela sociedade civil como um todo (v. g., o interesse à pureza do ar atmosférico), podendo, por vezes, concernir a certas coletividades de conteúdo numérico indefinido (v. g., os consumidores). Carac-terizam-se: pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por sua intensa litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no tempo e no espaço.
Mancuso30 observa ainda que existem três barreiras de ordem política, além das questões de ordem técnico-jurídica, que podem obstaculizar a defesa dos interesses difusos. São elas: i) o temor da pulverização da autoridade estatal; ii) o acesso direto desses interesses ao centro de decisão, conflitante com o sistema político representativo; iii) risco de desequilíbrio da tripartição dos poderes, com o superdimensionamento do Judiciário e as novas dimensões do processo.
Em que pese a importância de todos estes aspectos para o aperfeiçoamento do instituto, o terceiro tema está mais relacionado à ordem técnico-processual, o que, a despeito de sua relevância, distancia do enfoque ora abordado neste estudo.
A primeira barreira diz respeito ao receio do Estado (leia-se: grupos dominantes) em ver nascer no corpo da sociedade instâncias capazes e legítimas de suprir os anseios da coletividade e, desta forma, retirar deste Estado a exclusividade de fazer o que Mancuso chama de “escolha política” dentre os interesses manifestados no corpo social, o que poderia significar uma concorrência incômoda.
A segunda barreira consiste na alegada “usurpação” de funções exercidas por órgãos já definidos para defesa dos interesses da coletividade. O sistema democrático-representativo, associado ao próprio Ministério Público, seriam óbice à defesa dos interesses difusos por outras entidades que não esta já delimitadas pela ordem constitucional.
No entanto, tais barreiras parecem ceder em função de um resultado mais pragmático quanto às demandas dos interesses difusos. No primeiro caso pode-se afirmar que estes “corpos intermediários”, expressão cunhada pela doutrina, são entes legítimos, na medida em que refletem os anseios de determinado grupo social, e que nascem espontaneamente, podendo-se ainda afirmar que, na verdade,
30 MANCUSO, op. cit. p. 115.

320 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
quando atuam estes corpos intermediários, proporciona-se uma instância de debate que permite um amadurecimento prévio do assunto, tornando-o não só mais legítimo, mas definindo de forma mais clara qual a posição que se espera do Estado, que continua com sua soberania e legitimidade para normatizar aquelas demandas. No segundo caso, não há que se falar em usurpação de funções, na medida em que a ordem constitucional vigente prevê e estimula a participação direta ou em parceria dos cidadãos organizados com os entes públicos na defesa de diversos interesses, dentre eles os interesses difusos. Não há exclusividade nesta função, na medida em que cada indivíduo, enquanto titular de um direito difuso tem legitimação para promover a defesa de seus interesses. Ademais, o cidadão tem papel de fiscalizador da gestão da coisa pública, seja individualmente ou por meio de órgãos específicos, e, ademais, tem-se verificado a deprimente constatação de irregularidades por parte dos agentes públicos nesta gestão. O sistema democrático, em especial o brasileiro, preza pelo fortalecimento da democracia participativa, onde a gestão da coisa pública deve ser “repartida” com a sociedade civil organizada. A época do individualismo como modelo de desenvolvimento de sociedade já não tem mais acolhida, na medida em que se constatou, historicamente que este modelo servia, na verdade, para evitar o debate entre os cidadãos, tolhendo-se assim, a possibilidade de formação de um grupo social esclarecido e contestador, o que iria de encontro com o desejo de manutenção de monopólio de se decidir qual política pública a ser adotada, o que se constitui um monopólio inaceitável nos dias atuais, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto jurídico, stricto sensu. O pluralismo jurídico não é uma posição ideológica. É fato que se discute desde a profunda sustentação teórica de Antonio Carlos Wolkmer31 até os exemplos concretos de Alex Ferreira Magalhães32.
O que se observa, na prática, é que essa institucionalização da defesa dos direitos difusos faz com que uma forma comunitária de preservação dos interesses comuns e regionais ganhe especial destaque na efetivação destes direitos. A percepção é de que uma atuação conjunta com moradores de outros Municípios,
31 WOLKMER, Antonio Carlos. “Pluralismo Jurídico, Movimentos Sociales e Prácticas Alternativas”. In: El Otro Derecho. Bogotá: Ilsa, nº 7, Jan 1991.
32 MAGALHÃES, Alex Ferreia. Direito das favelas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 321
mas que têm demandas comuns por residirem e trabalharem neste espaço metropolitano, desperta o cidadão para uma nova perspectiva de demanda por políticas públicas a serem adotadas conjuntamente por mais de um Município. E contando com a intervenção essencial do próprio Estado-Membro, designado pelo constituinte para instituir Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (artigo 25, § 3º da Constituição Federal).
A União, eventualmente, será chamada a não só participar deste acordo ins-titucional, mas em muitos casos também deverá assumir seu papel de instituidor e gestor do desenvolvimento de determinada região, conforme previsto no artigo 43 e parágrafos da Constituição Federal, que prevê a instituição dos mecanismos de desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais, a exemplo das já constituídas Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) de Petrolina-Juazeiro e de Teresina.
Como visto, a questão do direitos difusos, tanto pela sua fluidez, como pela constatação de alcançar um número de titulares que não fica limitado pela divisão político-territorial dos Municípios, cria um espaço de interação entre estes atores, e destes com o Poder Público, o que será melhor analisado ao final deste trabalho. Saliente-se que para os efeitos deste trabalho se está considerando os direitos difusos como uma espécie do gênero “interesses comuns”, expressão prevista na Constituição Federal de 1988.33
4. desenvolvimento e crise das regiões metropolita-nas
Voltando à questão do quadro apresentado sobre o processo de urbanização acelerado e conseqüente surgimento de regiões interligadas e interdependentes por razões socioeconômicas e ambientais, a sociedade, por meio do legislador,
33 O que se entende pela expressão “interesses comuns” prevista no art. 25, § 3º, da Constituição Federal de 1988 é tema que vem sendo debatido pela doutrina, conforme ARAÚJO JÚNIOR, Miguel Etinger de. As regiões metropolitanas no contexto da sustentabilidade regional. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, [S.l.], p. 213-236, set. 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2008v29n57p213>. Acesso em: 14 Jun. 2014.

322 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
promoveu a criação de normas jurídicas que pudessem trazer uma harmonia na gestão destes interesses regionais.
Dentre estas normas jurídicas tem-se a institucionalização das Regiões Me-tropolitanas.
Esta expressão, “Regiões Metropolitanas”, tanto pode ser entendida no seu aspecto jurídico como em seu aspecto social. A definição de Eros Roberto Grau34 expressa estas duas concepções:
Podem ser conceituadas, em sentido amplo, como o conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade demográfica, que constitui um pólo de atividade econômica, apresentando uma estrutura própria definida por razões privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma mesma comunidade sócio-econômica em que as necessidades específicas somente podem ser, de modo satisfatório, atendidas através de funções governamentais coordenadas e planejadamente exercitadas. Face à realidade político-institucional brasileira, serão elas o conjunto que, com tais características, esteja implantado sobre uma porção territorial dentro da qual se distinguem várias jurisdições político-territoriais, contíguas e superpostas entre si, Estados e Municípios.
No Brasil, as Regiões Metropolitanas foram concebidas inicialmente, na década de 1960, mais precisamente na Constituição Federal de 1969, portanto, em pleno regime militar. Nesta época, além do controle exercido pelo poder central sobre os Estados e Municípios, baseado na força, pretendia-se montar um esquema administrativo que pudesse implementar as políticas públicas decididas pelos militares, então no poder.
A organização regional de interesses comuns passa a ser concebida como uma questão estrutural do País com a Constituição de 1988, que inseriu o tema no Capítulo da “Organização do Estado” em vez de situá-la no Capítulo da “Ordem Econômica” como fizera a Constituição anterior.
Foi ainda a Constituição de 1988 que transferiu aos Estados a prerrogativa de criar novas Regiões Metropolitanas, o que efetivamente foi feito.
34 GRAU, “Direito urbano ...”, p. 10.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 323
Os seguintes dados foram apresentados por Raquel Rolnik35, por ocasião do Seminário Internacional “O desafio da gestão das Regiões Metropolitanas em países federativos”, realizado em Brasília nos dias 30 e 31 de março de 2004.
• Forteampliaçãodonúmerodemunicípiosapartirde1988,emgeralcom menos de 20 mil hab.
• Consolidaçãodeaglomeraçõesurbanasemtodasasregiões
• As9RMscriadasnadécadade70viramonúmerodeseusmunicípiosintegrantes passar de 117 em 1980 para 189 em 2003
• OCensode2000contou23RMsestabelecidas.Apósessadata,em2002, foram criadas mais duas RIDEs (Petrolina-Juazeiro e Teresina) e Santa Catarina criou mais 3 RMs. Em 2003 foi criada a RM João Pessoa.
• Ao todoconta-sehoje29RMssomando361municípios, incluindosuas áreas de expansão e colares.
Os motivos que levaram à criação destas Regiões Metropolitanas são comuns.
De uma forma geral, o processo de urbanização gerou uma forte concentração de pessoas no meio ambiente urbano. Esse acúmulo de pessoas, ainda que não tivesse sido feito, em regra, de forma desordenada, gerou para o poder público a necessidade de suprir as demandas desta população que passa então a conviver no mesmo espaço territorial.
E quais são estas demandas?
São as mais diversas, em geral interesses difusos ou coletivos, desde sistema de transporte adequado até tratamento de resíduos sólidos (lixo).
A Constituição Federal de 1988 e demais normas vigentes, delegaram aos Estados-Membros da Federação a prerrogativa de criação dos órgãos gestores destas Regiões Metropolitanas.
35 ROLNIK, Raquel. “Novas perspectivas para a gestão metropolitana: o papel do Governo Federal”. Seminário Internacional “O desafio da gestão das Regiões Metropolitanas em países federativos”. 2004. Disponível em <http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/perm/cdui/SIGRMPF.htm#s1>. Acesso em: 06 junho 2008.

324 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Uma vez efetivamente implementadas, do ponto de vista operacional, e não meramente jurídico, demandas serão apresentadas e prioridades serão estabelecidas.
Neste contexto de disputas sociais36, os critérios de escolha destas prioridades não diferem muito dos critérios de definição de prioridades em outras áreas da Administração Pública. É o setor melhor organizado e com maior poder de pressão e barganha que vem conseguindo ver atendidas suas demandas.
Tal fato pode ser, de certo modo, exemplificado com o crescimento do número de Regiões Metropolitanas formalmente constituídas nos últimos anos:
ÉPOCA 1974 2000 2004ABRIL 2012
ABRIL 2013
JUNHO 2014
NÚMERO DE RMs
09 23 29 41 56 63
Nota-se um crescimento da formalização das Regiões Metropolitanas des-conectado de sua realidade econômico-social, pois várias delas não apresentam as características apontadas anteriormente neste trabalho. A constituição de uma Região Metropolitana deveria atender aos critérios de espacialidade e de institucionalidade37, ou seja, a sua criação formal, o seu limite geográfico, deve ser consequência de uma realidade de interações socioeconômicas em determinado espaço territorial. No entanto, o que se verifica é uma tentativa de determinadas regiões terem maior facilidade de acesso a recurso federais, nos moldes da década de 1970, ou ainda serem alçadas ao status de “metrópole”, termo relacionado a modernidade e progresso38, fazendo parte de uma relação mundial de espaços avançados tecnologicamente39
36 O termo “disputas sociais” é, na verdade, reflexo das disputas sociais da sociedade moderna, com todas as suas contradições sociais. Conforme alertado pela doutrina, há uma tendência, proposital, de se chamar “urbano” os problemas sociais decorrentes desta disputa.
37 FREITAS FIRKOWSKI, Olga Lúcia Castreghini de; MOURA, Rosa. Regiões metropolitanas e metrópoles. Reflexões acerca das espacialidades e institucionalidades no Sul do Brasil. Raega - O Espaço Geográfico em Análise, [S.l.], v. 5, Set. 2010, p. 29 Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/raega/article/view/18314>. Acesso em: 15 Jun. 2014
38 FIRKOWSKI; MOURA. Op. cit. p. 35.39 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e campo, razão e emoção. São Paulo:
Hucitec, 1999, apud FIRKOWSKI; MOURA. Op. cit. p. 43.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 325
Exemplo deste cenário se observa a partir da possibilidade de recebimento de recursos federais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida para construção de moradias, quando alguns Estados criam formalmente estes entes administrativos de gestão dos interesses comuns, a fim de receberem tais verbas. Ressalte-se aqui, a crítica por parte da doutrina que, em parte, tal Programa estaria mais relacionado com o crescimento do setor da construção civil, do que propriamente com um programa habitacional adequado40.
Assim, o que vem motivando a criação e manutenção da Regiões Metropolita-nas, em regra, nem sempre está relacionado à efetivação das demandas difusas.
Apesar deste cenário, ressaltou-se na parte introdutória deste estudo a apre-sentação de argumentos favoráveis ao aperfeiçoamento deste mecanismo de governança metropolitana, o que se buscará no capítulo seguinte.
5. pilares para uma governança metropolitana ade- quada: pluralismo jurídico e superação da le-galidade estrita
Em linguagem coloquial costuma-se dizer que nãos se deve “jogar fora o bebê junto com a água do banho”, no sentido de não se desperdiçar conquistas alcança-das ao se descartar experiências ineficazes. No campo das Regiões Metropolitanas toda a dificuldade já demonstrada pelo doutrina e pela experiência prática não deve levar simplesmente ao seu abandono.
Se alguns dos problemas apontados indicam a questão do excesso de interesses meramente políticos na instituição e funcionamento das Regiões Metropolitanas e o déficit democrático, pretende-se neste capítulo apresentar algumas respostas a estas situações, fruto do processo de amadurecimento da sociedade na busca de soluções adequadas à diversas questões coletivas, no caso aplicando-se ao tema metropolitano.
40 ARAGÃO, Thêmis Amorim; ARAUJO, Flavia de Souza; CARDOSO, Adauto Lucio. “Habitação de interesse social: política ou mercado? Reflexos sobre a construção do espaço metropolitano”. Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, 2011 e FERNANDES, Durval; RIBEIRO, Vera. “A Questão Habitacional do Brasil: da criação do BNH ao programa Minha casa minha vida”. Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, 2011

326 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Duas propostas são apresentadas neste contexto para o enfrentamento dos problemas apontados acima: (i) a superação da legalidade estrita no atuar da Administração Pública e (ii) o fortalecimento do pluralismo jurídico.
5.1. planejamento metropolitano e crise da lei: supe-ração da legalidade estrita
A evolução do conceito e das características do planejamento urbano traçados acima permite afirmar que esta atividade deve ter como objetivo contribuir para o processo de ocupação do espaço urbano de forma adequada, entendida como a possibilidade de todos os segmentos da sociedade terem acesso aos benefícios do processo de urbanização.
Uma dos pressupostos de legitimidade deste planejamento é a efetiva participação destes diversos segmentos da sociedade em seu processo de estudos, discussão e deliberação, ressaltando que este é o cenário ótimo, ainda distante da realidade brasileira.
No contexto deste processo de elaboração do planejamento, o poder público tem se valido da elaboração de leis formais que passam então a conter os comandos voltados para a construção de um espaço urbano adequado.
A par da discussão se o Estado é ou não a única fonte de produção de normas jurídicas, tema que se tratará adiante, este tem sido o modelo principal adotado nos países ocidentais, em especial no Brasil. No entanto, diversos fatores indicam a necessidade de se analisar criticamente este modelo.
Sob outro aspecto, a atividade administrativa vem sendo analisada nos últimos anos de uma forma menos rígida41 que em tempos passados, em especial quanto ao princípio da legalidade, que cede espaço à necessidade de adequação da atuação do Estado aos princípios constitucionais, pois, estando esta atividade administrativa inserida em uma das “etapas de produção jurídica, sua atuação não se pode justificar senão como uma concretização paulatina e
41 A ideia de rigidez está relacionada, neste caso, à supervalorização do princípio da legalidade em relação ao Direito Administrativo.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 327
gradual de normas jurídicas precedentes”42. A Constituição será necessariamente o parâmetro condutor das diversas funções do Estado, executada por qualquer dos seus poderes, e na execução desta atividade administrativa executada pelo Poder Executivo deve-se ter em conta que não será somente a lei, em sentido formal, que a autorizará, o que pressupõe admitir a relativização ou adequação do princípio da legalidade administrativa, adequando-a (a atividade administrativa) à ideia de constitucionalização do Direito Administrativo.
Esta tendência vem ganhando força no Brasil, que experimenta, além da constitucionalização do direito administrativo, uma “dessacralização” da lei, que não consegue sustentar nos dias atuais a ideia de “vontade geral” que a caracterizou no Século XIX43.
Deste pensamento deriva a relativização da necessidade de lei previamente autorizadora da atuação da Administração Pública. A afirmação de que, à Administração Pública só é permitido fazer o que determina a lei, encontra-se superada, tendência que vem sendo chamada de deslegalização, ou delegificação, ou crise da lei, fomentada principalmente pela (i) emergência do Estado Social, que assume a responsabilidade de atender a novas e variadas demandas, cujo processo de elaboração de lei formal não consegue acompanhar, e (ii) a emergência da sociedade técnica, consequência deste Estado Social, criando-se demandas impensáveis há 50 anos atrás.
Ademais, esta crise da lei se dá sob o aspecto (i) estrutural, quando o sistema re-presentativo demonstra um crescente afastamento dos anseios dos representados, e (ii) funcional, afastando a legalidade como parâmetro de conduta da sociedade.
Dentro deste contexto, infere-se que o Estado, ao executar suas com-petências constitucionais, pode elaborar um planejamento metropolitano que determine o modo de ocupação do solo urbano sem que este planejamento tenha que ser obrigatoriamente aprovado por lei, vinculando Municípios
42 BINENBOJM, Gustavo. 2008. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro, Renovar, p. 280
43 CLÈVE, Clèmerson Merlin. 2000. Atividade legislativa do poder executivo. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 50.

328 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
e particulares44, daí a ideia de juridicidade administrativa, em superação à legalidade administrativa.
5.2. pluralismo jurídico no planejamento metropoli-tano
Democracia, planejamento urbano, Constituição, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, audiência pública, urbanismo.
Existe no Brasil uma construção jurídico-normativa considerada de primeira qualidade voltada a permitir uma adequada construção de cidades mais justas e sustentáveis45. Este cenário ideal não encontra eco na realidade dos espaços urbanos, e em maior escala nos espaços metropolitanos.
Se dentre os motivos apontados para um planejamento urbano inadequado tem-se não a falta de espaços para debate, mas a falta de condições culturais adequadas para participar deste debate, o modelo constitucional adotado no Brasil (como nos demais países latino-americanos) reforça esta segregação entre realidade social e captura do poder. O que gera, portanto, déficit democrático e captura política da institucionalização da governança metropolitana.
Não se desmerece toda uma história de lutas e conquistas no processo de redemocratização que culminou com a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, mas a construção do Estado pode ser feita com visões e valores diferentes.
Até a configuração do cenário atual, em relação à organização dos Estados que reúnem uma maior ou menor diversidade de culturas, etnias, religiões,
44 ARAUJO JUNIOR. Miguel Etinger de. Possibilidades de um planejamento metropolitano no Estado Federal Brasileiro. [Online]. 2011 Disponível em: <http://www.anpur.org.br/inicio/index.php/2012-09-13-13-08-43/anais>. Acesso em 16 jun 2014.
45 Esta adjetivação não pretende compartilhar e reforçar o emprego de expressões pasteurizadas que, sem querer dizer nada, reproduzem um movimento de homogeneização que inibe o pensamento crítico e evita o confronto sadio de ideias e posições diferenciadas. Falar em cidades justas e sustentáveis relaciona-se com o direito dos diversos segmentos de uma sociedade se beneficiarem de modo equitativo das vantagens de se viver em um núcleo urbano e ao mesmo tempo criar mecanismos para que esta situação ideal tenha condições de se manter no futuro. Como fazer, é tema que escapa dos propósitos deste trabalho, que, no entanto, pretende demonstrar alguns equívocos no campo do Direito constitucional e infraconstitucional no respeito aos povos tradicionais do continente latino-americano.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 329
etc., a sociedade já passou por diversos modelos, desde a completa ausência de organização de uma unidade territorial e governamental, passando pela época dos grandes Impérios e do feudalismo.
Um aspecto que sempre se fez presente nos arranjos institucionais, com me-nor ou maior intensidade, foi a presença de diversidades conviventes em um mesmo território. Esta diversidade foi por vezes respeitada pelos governos, e por vezes foi silenciada em uma tentativa de manutenção do poder.
No Brasil, bem como em toda a América Latina, as formas de Estado e de governo que se formaram até o século XX procuravam privilegiar um determinado segmento social, em detrimento de outros. A independência das colônias permitiu uma reorganização da ordem social e econômica, mantendo-se os privilégios de pequenos grupos, geralmente grandes proprietários de terra, pois como afirmam Fagundes e Wolkmer 46:
Poucas vezes, na história da região, as constituições liberais e a doutrina clássica do constitucionalismo político reproduziram, rigorosamente, as necessidades de seus segmentos sociais majo-ritários, como as nações indígenas, as populações afro-americanas, as massas de campesinos agrários e os múltiplos movimentos urbanos.
E como afirmado acima, a diversidade e a pluralidade de uma Nação podem ser subjugadas por um modelo de Estado e de governo, mas ela não desaparece, e em algum momento e com variada força, estas vozes se fazem ouvir. Os recentes movimentos constitucionalistas latino-americanos47 dos últimos anos parecem reproduzir estas vozes.
Neste sentido, o pluralismo jurídico reconhece que o Estado não é a única fonte de construção de normas jurídicas, devendo-se observar que a todo o momento
46 FAGUNDES, Lucas Machado; WOLKMER, Antonio Carlos. 2011. Tendências contemporâneas do constitucionalismo latino-americano: estado plurinacional e pluralismo jurídico. Pensar, 16, n. 2, 377.
47 A remissão aqui é feita ao movimento contra-hegemônico de alguns países sul-americanos que procuram reconhecer e efetivar direitos aos segmentos sociais tradicionalmente alijados do poder. Como fonte, vide MELO, Milena Petters; WOLKMER, Antonio Carlos. Constitucionalismo latino-americano: tendências contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2013.

330 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
são praticados atos com base em um direito que não é o ditado pelas Casas Legisla-tivas. Em consonância com este direito formal (pois ir de encontro a ele pode constituir uma conduta ilegítima) há uma variedade de prática jurídica sendo utilizada a todo momento, sendo necessário reconhecer que a unidade de um sistema jurídico não significa ser uníssono, ou seja, só a lei pode “dizer” o direito.
A questão sobre o “direito das favelas”48, ou ainda os loteamentos informais, simbolizam muito bem esta afirmação, onde normas jurídicas são elaboradas fora do contexto estatal.
Assim, para além do formalismo da participação nas instâncias deliberativas dos órgãos metropolitanos, faz-se necessária uma verdadeira ruptura com os modelos até então vigentes, que a despeito de previsão legal, inviabilizam o exer-cício direto do poder pelo cidadão, mantendo-se na esfera tecnocrática ou política.
6. conclusões
O que se pretendeu analisar neste trabalho foi uma forma de gestão pública de interesses comuns exercida atualmente no Brasil.
Com efeito, o processo de urbanização crescente e desordenado do Brasil leva a novas demandas nos espaços territoriais que passam a concentrar grande parcela da população. Os interesses dos cidadãos não se restringem a questões pontuais, individuais, pois pela própria característica destes espaços, serão os problemas coletivos ou difusos que demandarão uma atuação mais efetiva e eficaz do poder público na superação dos problemas que se apresentam.
Verifica-se que uma das respostas políticos-institucionais para esta questão foi a criação das Regiões Metropolitanas, instituídas pela União antes de 1988 e depois pelos Estados, como instituições voltadas para um estudo e melhor solução destes interesses, que uma vez pensados e decididos coletivamente pela sociedade e pelos diversos entes federativos envolvidos poderiam trazer a melhor solução possível.
Neste contexto, as Regiões Metropolitanas, previstas desde a Constituição de 1969 para a realização de serviços comuns e depois na Constituição de 1988 para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
48 MAGALHÃES, Alex Ferreira. Op. cit.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 331
interesse comum, apresentam-se como alternativa para o alcance de uma gestão de interesses que não pertencem somente a um Município, em especial a questão dos interesses difusos.
No Brasil a discussão não é tão recente, mas os resultados práticos positivos obtidos se resumem a poucas regiões, e mesmo assim em questões pontuais.
Dentre alguns fatores apontados pela doutrina como causas da ineficácia des-tes órgãos, estão o déficit democrático e a politização de seus processos de criação.
Em que pese o histórico de experiências inexitosas deste modelo de go-vernança metropolitana, o presente trabalho se alinha no sentido de reconhecer a possibilidade de aproveitamento dos aspectos positivos desta caminhada, procurando indicar alternativas que superem as deficiências apontadas acima.
Neste sentido, aponta-se a necessidade de ampliação quantitativa e sobretudo qualitativa da participação da sociedade nestes órgãos, em consonância com a ideia de pluralismo jurídico, o qual identifica esferas de constituição das normas jurídicas que não sejam obrigatoriamente oriundas do Estado.
Ademais, esta ampliação permite, inclusive, sustentar e fortalecer a alternativa apontada de superação da legalidade estrita para o enfrentamento da politização dos processos de criação das regiões. Se os critérios para a criação e gestão destes órgãos não têm sido fundamentados por critérios técnicos, mas meramente po- líticos, a legitimidade de sua atuação baseada na ideia de juridicidade ad-ministrativa permite uma leitura mais real das necessidades destes espaços metropolitanos. Desta forma, amortece o viés meramente político, fazendo-o atuar em conformidade com elementos mais técnicos.
Procurou-se demonstrar, portanto, que é possível a utilização dos instrumentos e institutos existentes de governança metropolitana, apontando-se as falhas apresentadas, e procurando adequá-los ao sistema jurídico atual, que por seu turno, devem também ser analisado criticamente, de acordo com valores que se pretende efetivar no Século XXI.
7. referências
ARAGÃO, Thêmis Amorim; ARAUJO, Flavia de Souza; CARDOSO, Adauto Lucio. “Habitação de interesse social: política ou mercado? Reflexos sobre a

332 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
construção do espaço metropolitano”. Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, 2011.
ARAUJO FILHO, Luis Paulo da Silva. “Ações coletivas: a tutela jurisdicional
dos Direitos Individuais Homogêneos”. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
ARAÚJO JÚNIOR, Miguel Etinger de. “As Regiões Metropolitanas no contexto da sustentabilidade regional”. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, [S.l.], p. 213-236, set. 2010.
______. Possibilidades de um planejamento metropolitano no Estado Federal Brasileiro. [Online], 2011. Disponível em: <http://www.anpur.org.br/inicio/index.php/2012-09-13-13-08-43/anais>.
BENEVOLO, Leonardo.“História da cidade”. São Paulo: Perspectiva, 1977.
BINENBOJM, Gustavo. 2008. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro, Renovar.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Alexandre de Moraes. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 429 p. (Manuais de Legislação Atlas).
BRASIL. Lei n. 8078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm> . Acesso em: 19 setembro 2008.
CARVALHO, Maria Alice Rezende de. “Cidade Cidades”. In WEYRAUCH, Cléia Schiavo (Org.). “3 visões de cidade”. Rio de Janeiro: UERJ, Departamento Cultural, 2002.
CAPPELLETTI, Mauro. “Appunti Sulla Tutela Giurisdizionale di Interessi
Collettivi o Diffusi”. Padova: CEDAM. 1976.
CASTELLS, Manuel. “Problemas de investigação em Sociologia Urbana”. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1976.
CINTRA, Antonio Octávio; HADDAD, Paulo Roberto (orgs.). “Dilemas do
Planejamento Urbano e Regional no Brasil”. Zahar Editores, 1978.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 333
CLÈVE, Clèmerson Merlin. 2000. Atividade legislativa do poder executivo. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais.
FAGUNDES, Lucas Machado; WOLKMER, Antonio Carlos. 2011. Tendências contemporâneas do constitucionalismo latino-americano: estado plu-rinacional e pluralismo jurídico. Pensar, 16, n. 2.
FERNANDES, Durval; RIBEIRO, Vera. “A Questão Habitacional do Brasil: da criação do BNH ao programa Minha casa minha vida”. Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, 2011.
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. “Estatuto da cidade comentado: Lei 10.257/2001: lei do meio ambiente artificial”. São Paulo: RT, 2002.
FREITAS FIRKOWSKI, Olga Lúcia Castreghini de; MOURA, Rosa. Regiões metropolitanas e metrópoles. Reflexões acerca das espacialidades e institucionalidades no Sul do Brasil. Raega - O Espaço Geográfico em Análise, [S.l.], v. 5, Set. 2010.
GRAU, Eros Roberto. “Regiões Metropolitanas: regime jurídico”. São Paulo, José Bushatsky, 1974.
______ . “Direito Urbano: Regiões Metropolitanas, solo criado, zonea- mento e controle ambiental”. São Paulo: RT, 1983.
______ . “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de conceito”. RT n. 521, 1979.
LEAL, Rogério Gesta. “Direito urbanístico: condições e possibilidades da constituição do espaço urbano”. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
MAGALHÃES, Alex Ferreira. Direito das favelas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. “Interesses difusos: conceituação e legitimação para agir”. São Paulo: RT, 2000.
MELO, Milena Petters; WOLKMER, Antonio Carlos. Constitucionalismo latino-americano: tendências contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2013.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. “A legitimação para a defesa dos interesses difusos no Direito Brasileiro”. In “Temas de Direito Civil”. 3. série, 3. edição. Rio de Janeiro: Saraiva, 1984.

334 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
MUMFORD, Lewis. “A cidade na história”. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982.
ROLNIK, R. Novas perspectivas para a gestão metropolitana: o papel do Governo Federal. In “Seminário Internacional O desafio da gestão das Regiões Metropolitanas em países federativos”, 2002, Brasília. Disponível em <http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/perm/cdui/SIGRMPF.htm#s1>. Acesso em: 06 junho 2008.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e campo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1999.
SOLUS, Henry; PERROT, Roger. “Droit judiciaire privé”. Paris: Sirey, 1996.
SILVA, José Afonso da. “Direito urbanístico brasileiro”. São Paulo: Malheiros, 2006.
WOLKMER, Antonio Carlos. “Pluralismo Jurídico, Movimentos Sociales e Prácticas Alternativas”. In: El Otro Derecho. Bogotá: Ilsa, nº 7, Jan 1991.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 335
as novas tecnologias: princípio da não regressão e o paradigma da
sustentabilidade
Maria Claudia S. Antunes de Souza1
Kamilla Pavan2
Resumo
A presente pesquisa terá por objeto o direito ambiental e sustentabilidade, a qual tem por finalidade específica a análise jurídica e ambiental da sustentabilidade no contexto social, econômico e ambiental. Sendo assim, especificar-se-á como objetivo destacar o sentido de que o desenvolvimento, adjetivado pelo paradigma da sustentabilidade, interliga-se aos desenvolvimentos sociais e econômicos. Para alcançar tal enfoque, a pesquisa será dividida em três momentos. No primeiro estudar-se-á noções gerais do paradigma da sustentabilidade e com alguns enunciados ao Desenvolvimento Sustentável. Na segunda etapa, se fará um breve escorço sobre as novas tecnologias no contexto da sustentabilidade. Quanto ao
1 Doutora e Mestre em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Professora no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado em Ciência Jurídica, e na Graduação no Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade” cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPq intitulado: “Possibilidades e Limites da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão Ambiental Portuária”. E-mail: [email protected].
2 Bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo/RS (2004). Formação do Curso Preparatório da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul – AJURIS (2005). Especialista em Direito Previdenciário, pela Faculdade IMED (2009). Especialista em Direito Público, pelo Instituto Luiz Flávio Gomes (2011). Especialista Em Processo Civil, pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Mestra do Programa de Pós Graduação Stricto Senso em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; linha de pesquisa Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Mestra do Programa de Pós Graduação Stricto Senso em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad da Universidad de Alacant/Alicante/Espanha. Doutoranda do Programa de Pós Graduação Stricto Senso em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; linha de pesquisa Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Advogada regularmente inscrita da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. [email protected]

336 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
terceiro momento analisar-se-á o princípio da não regressão quanto às normas ambientais, reforçando a inserção dos efeitos da sustentabilidade na sociedade contemporânea. Conclui-se, portanto, diante de todo o estudo acurado que o ato do crescimento econômico não está atrelado aos dizeres do desenvolvimento sustentável, ou seja, ao desenvolvimento, propriamente dito, mas, sim, aos princípios que regem esses efeitos jurídico-sociais, prosperar não degradando os meios naturais que garantem uma subsistência digna. Que, como meio indutor do desenvolvimento sustentável, tem-se o estudo das novas tecnologias, com enfoque jurídico conquanto a forma de adentrar concretamente no campo do progresso sustentável. Ocupando-se da ciência jurídica como limitadora, por meio dos mecanismos das regras e dos princípios, encaminha-se o estudo do princípio da não regressão como fonte principal ao resguardo da norma que protege e consolida as normas ambientais. Quanto à Metodologia foi utilizada a base lógica Indutiva por meio da pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave
Sustentabilidade; Novas tecnologias e princípio da não regressão.
Resumen
Esta investigación tendrá un objeto directo y la sostenibilidad ambiental, que tiene el propósito específico del análisis de la sostenibilidad legal y ambiental en el contexto social, económico y ambiental. De este modo, se especificará como la meta hacia la cual el desarrollo, el paradigma de la sostenibilidad de adjetivo, interconecta los desarrollos sociales y económicos. Para lograr un enfoque de este tipo, la investigación se divide en tres etapas. En las primeras nociones generales del paradigma de la sostenibilidad y algunas declaraciones de Desarrollo Sostenible estudiará si misma. En la segunda etapa, vamos a hacer un breve escorzo en las nuevas tecnologías en el contexto de la sostenibilidad. La tercera vez que se analizará el principio de no regresión en los estándares ambientales y reforzar mutuamente la inclusión de los efectos de la sostenibilidad en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, se concluye antes de que todo el estudio cuidadoso de que el acto del crecimiento económico no está vinculado a los dichos de un desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo, en sí, sino más bien los principios que rigen estos efectos jurídicos y sociales, prosperar sin degradar

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 337
el medio natural para garantizar un medio de vida decente. Eso, como medio de inducir el desarrollo sostenible, ha sido el estudio de las nuevas tecnologías, con el enfoque jurídico, aunque la particular forma de entrar en el campo del progreso sostenible. Importando de la ciencia jurídica como una limitación, a través de los mecanismos de las normas y principios reenvía el estudio del principio de no regresión como la guardia principal de la norma que protege y fortalece la fuente de las normas ambientales. En cuanto a se utilizó la metodología inductiva justificación a través de la búsqueda bibliográfica.
Palabras clave
Sustentabilidad; Nuevas tecnologias y principio de la no regresión.
1. introdução
Nos dias atuais, a sustentabilidade concentra-se como o assunto mais elucidado entre as mais diversas áreas e nas mais variados gêneros, lugares e formas de pensar a real contemplação do que vem a ser esse fenômeno. Trata-se de uma preocupação que paira em todos os graus sociais. Uma realidade que permite, ou até mesmo, obriga o ser humano a repensar suas atitudes e trilhar novos caminhos que garantam uma continuidade existencial com condições mínimas existenciais.
A era capitalista, calcada no consumo e na alta produção, com a globalização abrindo mercados e fronteiras à circulação dos produtos, faz com que haja um engrandecimento da preocupação humana quanto à crise instaurada na área ambiental.
Nesse sentido que, o objetivo científico repousa em acentuar as consequên-cias do crescimento global frente ao meio ambiente, ou melhor, a gradativa degradação ambiental. Isso é feito por meio do estudo do fenômeno da sustentabilidade, como direção finalística de consideráveis meios de solução aos problemas desencadeados por essa globalização, com tendência às inovações, seja de natureza científica ou de natureza jurídica, sempre em direção da primazia do progresso humano sustentável. Denota-se uma investigação de cunho linear, por meio da sustentabilidade que se lança no contexto mundial, com a primazia da preservação de recursos considerados essenciais para a continuidade existencial

338 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
terrena. Assim, indaga-se por quais meios tende a ocorrer o ato da preservação dos recursos naturais? Qual é a forma viável de desenvolvimento, diante da sociedade contemporânea, para que se possam obter respostas ao fenômeno da sustentabilidade?
Tem-se por objetivo específico a seguinte conjectura: desenvolver a con-ceituação e a contextualização da sustentabilidade diante da crise ambiental, realidade visível no meio social aderente do sistema capitalista, com a intenção de contextualizá-la como um princípio fundamentador das ações humanas para com o meio ambiente; contextualizar uma forma de desenvolvimento sustentável como meio, diretriz da civilização contemporânea; buscar um estudo da inserção das novas tecnologias como meio de resposta à crise ambiental no que diz respeito à sustentabilidade; desenvolver-se, diante do contexto social, a essencialidade do princípio da não regressão, seguindo os ensinamentos de Michel Prieur quanto à sua importância na conjuntura jurídica, com ênfase no Direito Ambiental.
O tema da sustentabilidade vem expresso de forma marcante tanto no contexto social quanto no contexto jurídico. Essa questão reflete-se no crescimento social, político e econômico, que, como ocorre com grande parte dos fatos sociais, interliga-se a questões de natureza ambiental. As atividades humanas causam alteração na natureza, de uma forma reflexiva, de maneira direta ou indireta ao meio ambiente. Essas alterações, na maioria das vezes, são caracterizadas como negativas, prejudiciais para o meio social, conquanto refletem de forma prejudicial à base natural.
Nenhuma fase da globalização, do pós-positivismo, da transformação da ciência, da tecnologia, ressalta tanto a função do Direito de regular o consequente crescimento, seja econômico ou social, reafirmando uma base jurídica firme, autônoma quanto esta. Estar-se diante de uma era em que há um crescente enfraquecimento do direito dos Estados frente ao crescimento social, político e econômico, em virtude de interferências de questões adversas às jurídicas.
O problema verificado neste contexto encontra-se na concepção do meio social, uma sociedade de risco frente aos aspectos do crescimento social. Uma sociedade globalizada, direcionado à produção e ao consumo em grande escala, deve passar por uma nova racionalidade ambiental. O meio social tende haver mudanças de paradigmas, de valores, dos quais terão uma consciência racional

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 339
ambiental em não degradar e, sim, evoluir preservando os recursos ainda existentes na finalidade de dignificar a vida das presentes e futuras gerações. Como inserir nesse contexto social mudanças que traduzam os efeitos da sustentabilidade ou da forma de desenvolvimento sustentável? A sustentabilidade, como uma forma de desenvolvimento a ser inserido no contexto social, é um meio para pacificar a crise ambiental? Qual a forma concreta de seus efeitos no contexto do desenvolvimento social?
O direito, como ciência jurídica, tende a alcançar meios, formas de, cada vez mais, de proteger a base ecológica de afrontas às suas espécies naturais. Diga-se “cada vez mais”, na importância de preservar, de manter o equilíbrio normativo, bem como, o progresso legal para atender o fim essencial, qual seja a preservação do meio ambiente, tornando-o sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e as futuras gerações. Neste contexto, quanto à posição de fundamentalidade do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado que se sustenta ou se concentra a afirmação de ser um direito fundamental, mas de tal forma que, não haja barreiras estatais limitando seu alcance ou deixando de proteger tal entorno, sendo um direito, visivelmente, universal, de tal importância que se pode afirmar que, a todos os seres humanos tendem a depender da conservação ambiental para sua própria existência no Planeta Terra. Assim, diante do conjunto normativo brasileiro quanto às normas de natureza ambiental, procurando a inserção da sustentabilidade, tem-se a preocupação em evitar o retrocesso legislativo. A ciência jurídica como fonte normativa apresenta-se como meio indutor, essencial para a conscientização ambiental. Nas suas fontes principiológicas busca a contenção, a limitação de respostas sociais para a minimização do problema ambiental, bem como, na conservação e progresso dos regramentos legais que viabilizam a esfera protetiva dos direitos assegurados – princípio da não regressão.
Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação, o Método utilizado foi o Indutivo, calcada na pesquisa bibliográfica.
2. sustentabilidade como um dos desígnios do século xxi
O direito ambiental, uma ciência jurídica que internaliza ações humanas com o meio ambiente vinculando às condições da existência humana, desencadeia

340 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
uma importância que vai além de uma disciplina jurídica, mas, sim, de tal grau que necessita interdiciplinarizar e globalizar sua fundamental essência para a comunidade mundial.
Nos ensinamentos de Édis Milaré anuncia que “dos lares mais modestos, e passando pelos mais diferentes ambientes sociais e de trabalho, e pelos gabinetes onde se tomam decisões acerca do destino das famílias e das cidades, até as complexas decisões concernentes ao destino da “casa comum3”, a sustentabilidade está presente. Está na esfera da preocupação com a crise ambiental o cerne essencial do fenômeno da sustentabilidade. Como será possível o contínuo desenvolvimento sem que haja a direta agressão ao meio ambiente? Como tornar-se uma sociedade sustentável?
Acontecimentos sociais climáticos colocam o ser humano em uma trilha ne- bulosa, pois está à beira de um esgotamento assolador. As novas tecnologias avultando as áreas comerciais, as atitudes agressivas no comércio internacional, a crise financeira, o avanço do efeito estufa e do aquecimento global, a crescente perda da biodiversidade, a degradação dos recursos indispensáveis para a sobrevivência humana, o exagero no consumo e na produção. Tudo isso são fatos, são realidades que, para haver condições existenciais de vida humana, é indispensável que haja a mudança de estilo de civilização4.
Deve-se dar ênfase à preocupação no sistema desenvolvimentista social, econômico e ambiental, pois, em cada ato humano há, direta ou indiretamente, uma agressão ao meio ambiente. Assim, buscar-se-á um estudo quanto ao tema da sustentabilidade, como um fenômeno que tem por finalidade a reorganização das atitudes humanas, uma nova forma de pensar e agir diante do colapso ambiental. Este é um meio ou o meio pelo qual os seres humanos possuem a fórmula de vida terrena. Mas, diante de seus atos, em comparação a uma empresa, estar-se-ia em plena falência, pois que dilapida seu capital, o qual, em se tratando de meio ambiente, são os recursos naturais. E o faz como se eles fossem eternos,
3 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 44.
4 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 49.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 341
ilimitados, infindáveis, o que não é verdade, já que os recursos naturais são meios limitados, finitos5.
Diante da realidade do Planeta Terra quanto à questão ambiental, poder-se-ia afirmar que está à beira da morte, pois o Planeta Terra é um organismo vivo e com a degradação das suas fontes de vida, por aquele que necessita desse conjunto vivo, o homem, transparece uma realidade emergente, a qual precisa mudar. É diante desse fato que se faz necessário o estudo de uma nova forma de desenvolvimento, de uma eclosão sustentável, com percepção ao meio que conduz a vida humana, o meio ambiente, fazendo da sustentabilidade o meio condutor para a manutenção do ambiente saudável ou a minimização do grau de degradação ambiental.
2.1. considerações sobre o direito ambiental e a sus-tentabilidade
A interligação do homem com o mundo natural descende de tempos remotos, o que resulta na reconstrução social de uma sociedade global. Assim, há o reconhecimento do direito ambiental como um direito fundamental, que transcende os interesses individuais, tornando-se uma esfera sócio-jurídica transindividual, que ultrapassa barreiras e limites territoriais. A intenção é mudar paradigmas, baseando-se num direito transnacional, o qual supera o conceito de soberania diante justamente da sua essência fundamental.
Na era contemporânea, o ser humano tende a produzir e a consumir de forma ilimitada, provocando uma crise ambiental com tais atitudes. Cada ato humano desencadeia um ato, uma agressão ao meio natural, aumentado o grau de poluição, causando degradação ambiental, extração dos recursos naturais, em prol da sua sociedade consumista. Essa é uma postura alarmante que demanda uma mudança de postura urgente sob pena de o ser humano testemunhar sua própria extinção com o esgotamento dos recursos naturais fundamentais à manutenção da vida humana e não humana do Planeta Terra.
O mundo está direcionado à mudança de comportamento com reflexo ao meio natural. O costume de consumir exageradamente e de pensar que os recursos
5 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 52.

342 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
naturais são fontes de energias infinitas ou ilimitadas faz uma revolução do pró- prio agir do ser humano, consumidor final de suas próprias atitudes. Economi-camente, nada tem sentido se não houver condições mínimas de existência terrena.
A consciência pelo desenvolvimento sustentável tem origem diante da era capitalista, do crescimento pelo consumo, que desencadeia a relação homem/meio natural, da qual se infere que toda atividade humana, em crescimento ou em decrescimento, induz o contato, direto ou indireto, com o meio ambiente.
É uma evolução ambientalista que percorre os meios sociais. O ser humano em pleno desenvolvimento tende a se preocupar com o meio que lhe garante sua subsistência, que, passando por descuidos ambientais, vem causar preocupações quanto à sobrevivência da pessoa humana com qualidade de vida. A era consu-mista faz causar estragos ambientais, e toda atitude humana demanda uma atitude no meio natural. O ser humano está intimamente ligado ao meio ambiente, seja na sua ação externa ou interna.
O conceito de desenvolvimento sustentável decorre de uma significação composta por vários modelos semânticos, quais sejam: evolução, progresso, crescimento, todas inseridos numa visão linear de evolução crescente, de progresso. Mesmo estando nessa linha de um fato social que faz evoluir um meio social, não se pode perder de vista o real alcance dessa forma de desenvolvimento sustentável, qual seja, evoluir na geração presente sem comprometer a vida da geração futura.
O sistema capitalista, com suas raízes determinantes e a disposição em acumular resíduos sólidos urbanos sem se preocupar com o meio ambiente, retrata uma lastimável realidade do modelo de desenvolvimento hodierno. Uma forma insustentável de vida que busca, cada vez mais, produzir, consumir e acumular bens materiais. Nos estudos de Patrícia Faga Iglecias Lemos, a vida humana atual está na “chamada cultura do consumo; as pessoas valem pelo que têm; o mercado define o que é bom, belo e necessário6”.
Parte-se de uma visão de transnacionalizar o direito ambiental, o qual supera aquele conceito de determinar normas limites a um direito transindividual, por
6 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 28.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 343
determinantes fundamentais. Superar o conceito de normas locais, para agir de forma geral/total, perfaz uma caracterização de status de forma a juridicizar os aspectos dessa área do direito ambiental.
A esfera ambiental é a base para um Estado transnacional. O problema ecológico/ambiental transcende barreiras nacionais que somente com a construção de um espírito solidário e global, a ameaça do meio ambiente poderá ser minimizada. Nesse sentindo doutrina Paulo Márcio Cruz:
[...] Estas ameaças decorrem do esgotamento dos recursos naturais não renováveis, da falta de distribuição equitativa dos bens ambientais, do crescimento exponencial da população, da pobreza em grande escala e do surgimento de novos processos tecnológicos excludentes do modelo capitalista. Todos estes fatores contribuem com a consolidação de uma ética individualista e desinteressada com o outro, com o distante, com as futuras gerações e com um desenvolvimento sustentável. Este quadro desafiante impõe a necessidade não apenas de ações locais e isoladas, mas de uma especial sensibilização também globalizada, que contribua com a internalização de novas práticas e atitudes, principalmente nas ações dos Estados. Só com a criação de um Estado Transnacional Ambiental é que será possível a construção um compromisso solidário e global em prol do Ambiente, para que seja assegurada de maneira preventiva e precautória a melhora contínua das relações entre o homem e a natureza7.
O direito ambiental comporta uma construção conceitual esparsa da ciência jurídica, a qual se insere nessa área para juridicizar aspectos fundamentais de uma sociedade que vive em pleno desenvolvimento, sejam sociais, econômicos, culturais, políticos, entre outros.
Nessa esfera que o homem se encontra na era de criar e recriar, desenvolver-se em um ritmo extraordinário, tem-se a necessidade de buscar mecanismos pro-pícios ao nível de desenvolvimento, desvinculando-se de um meio consumista, destruidor, para um meio preservador dos recursos atinentes a seu desenvolvimento. Não somente na ação humana de domínio e exploração, o atuar do ser humano,
7 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania á transnacionalidade: democracia, direito e estado no século XXI. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2011, p. 154/155.

344 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
quanto à questão ambiental, deve resguardar o seu crescimento e desenvolvimento natural de uma forma equilibrada, sustentável.
A atuação devastadora do homem sobre a natureza, nos dizeres de Elenize Felzke, fez com que diversos problemas surgissem, tais como o esgotamento das vias naturais, as devastações, poluição, catástrofes, doenças, epidemias. Nesse sentido, começou-se a pensar que esses problemas alavancavam os limites territoriais do fato em si, ou seja, que os reflexos de uma devastação ambiental poderiam provocar problemas em diversas regiões excedentes ao local do dano, provocando-se, assim, uma dimensão transfronteiriça quanto às consequências oriundas dos problemas ambientais8.
Como elucida Paulo Márcio Cruz, quanto à ideia de um direito ambiental mundial, sem fronteiras:
O Direito Ambiental é a maior expressão de Solidariedade que corresponde á era da Cooperação internacional, a qual deve manifestar-se ao nível de tudo o que constitui o patrimônio comum da humanidade. Assim, somente com a consolidação de um verdadeiro Estado Transnacional Ambiental, como estratégia global de Cooperação e Solidariedade, é que será possível assegurar um futuro com mais justiça e sustentabilidade9.
O agir humano na natureza revela impactos, sejam positivos ou negativos, e a esfera jurídica não pode quedar-se, devendo ser ativa quanto à promulgação de leis, normas e diretrizes, com a intenção de proteger o meio ambiente.
Quando se trata de um direito transindividual, aquele capaz de alavancar limites fronteiriços deixa-se de pensar de forma local exigindo-se ações de maneira global, que visam à proteção do ecossistema, a preservação das espécies – animais e plantas –, com o embasamento em um meio ambiente ecologicamente
8 SCHONARDIE, Elenise Felzke. Direito ambiental e sustentabilidade. Revista do Direito UNISC, Santa Cruz do Sul. N. 36; p. 17/28; jul-dez,2011. Disponível em:http://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/2189/1733. Acessado em 20 de julho de 2012, p. 21/22.
9 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no século XXI. Itajaí: Universidade do Vale de Itajaí, 2011, p. 156.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 345
sustentável10, denotando-se a importância desse direito para diversas questões, sejam elas sociais, econômicas e, até mesmo, ambientais.
O contexto das grandes transformações, dos desenvolvimentos sociais, ascendendo aos tempos mais remotos, até os dias atuais, comporta diversas concepções de transformação social. O homem, cada vez mais inserido na descoberta do meio natural, por diversas formas, como já fora dito, umas positivas e outras negativas. Nisso, se pode determinar como formas de transformação a ascensão do capitalismo, da era consumista, fazendo com que surja a referência de que muitos não reconhecem a qualidade de vida. E esta se reflete nos meios sociais, nos núcleos empresariais, sobrepondo-se aos direitos ditos individuais.
O direito ambiental, uma ciência jurídica que internaliza ações humanas com o meio ambiente vinculando às condições da existência humana, desencadeia uma importância que vai além de uma disciplina jurídica, mas, sim, de tal grau que necessita interdiciplinarizar e globalizar sua fundamental essência para a comunidade mundial. O desenvolvimento sustentável está calcado na primazia da economia e da ecologia. Prosperar, progredir na história da humanidade relacionava-se ao ato de agressão ao meio natural. Uma realidade vivenciada nos dias atuais, que, porém, deve ser suprimida diante do caos ecológico.
A sustentabilidade é o fenômeno, o meio pelo qual se busca a garantia, a continuidade da vida na Terra. Os seres humanos não estão acima desse espaço terrestre – a Terra, mas sim, fazem parte desse conjunto de vida. Nessa maneira de pensar, as atitudes humanas deverão corresponder ao respeito pela existência da vida no planeta Terra procurando preservar essa forma de vida. Nessa ideologia é que paira a forma do desenvolvimento sadio, sustentável, no progresso racional e a preservação do entorno natural. A sustentabilidade tem uma interferência o com pensar, com o agir humano, quanto aos atos que interferem na natureza. Pensa-se em um mundo ambientalmente equilibrado, porém, não há respeito para com esse meio natural que assegura a vida. Os atos humanos devem ter reflexos positivos para a sobrevivência da geração futura, sendo essa intenção direcionada ao estudo da sustentabilidade.
10 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no século XXI. Itajaí: Universidade do Vale de Itajaí, 2011, p. 147.

346 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
2.2. no contexto da sustentabilidade
A sustentabilidade tem uma ligação direta com as questões ambientais, após um crescimento de natureza econômica calcada na utilização dos recursos naturais e no acúmulo exacerbado de riquezas, causando uma distinção entre as populações humanas de baixa renda que não possuem o mínimo de dignidade de vida.
O uso ilimitado da natureza é um anúncio dos desastres flagrados nos dias atuais. O aquecimento global, a degradação dos recursos naturais e a desigualdade social são reflexos reais que proclamam que descrevem a crise ambiental.
A esperança para uma nova forma de economia, para a solução da crise ambien-tal é um paradoxo que ressurge e exige a concretização de um desenvolvimento sustentável, que está na forma de crescimento que visa à conservação de materiais não renováveis para as gerações futuras e atuais. Nesse sentido, é significativo relembrar que os meios naturais que proporcionam a sobrevida terrena são finitos, sendo a sua conservação primordial para uma vida equilibrada e com a percepção de direitos que fomentem a dignidade da pessoa humana.
Os ensinamentos de Gabriel Real Ferrer pressupõem que:
O paradigma atual da Humanidade é a sustentabilidade. A vontade de articular uma nova sociedade capaz de perpetuar-se em tempo em umas condições dignas. A deterioração material do Planeta é insustentável, mas também é insustentável a miséria e a exclusão social, a injustiça e a opressão, a escravatura e a dominação cultural e econômica11. [tradução livre].
A ideia dos estudos direcionados à sustentabilidade com o direito ambiental tem relação direta com a forma de desenvolvimento econômico pós-segunda
11 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013. El paradigma actual de La Humanidad ES La sostenibilidad. La voulntad de articular uma nueva sociedad capaz de perpetuarse em El tiempo em unas condiciones dignas. El deterioro material Del Planeta ES insostenible, pero también ES insostenible La miséria y La exclusión social, La injusticia y La opresión, La esclavitud y La dominación cultural y económica.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 347
Guerra Mundial. Na ânsia do crescimento, do acúmulo de poder e recuperação das economias mundiais deixou para o segundo plano a área natural que sustenta não só o desenvolvimento social, econômico, mas, também, dos meios que promovem a subsistência terrena com dignidade e direito de acesso aos recursos básicos.
As diferenças entre Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável afloram com um processo em que a primeira se relaciona com o fim, enquanto o segundo com o meio. O Desenvolvimento Sustentável como meio para que seja possível obter equilíbrio entre o progresso, a industrialização, o consumo e a estabilidade ambiental, como objetivo a Sustentabilidade e o bem estar da sociedade12.
De nada adianta ter progresso, gerar economia superando um ranking de país desenvolvido sem perspectivas de cunho natural que garantam subsistência digna. Falar de ecossistema, de preservar os recursos naturais é um contexto que não induz diferenciação entre país desenvolvido ou em desenvolvimento. Paira o raciocínio de que a vida humana, com dignidade, é um conceito pleno além de progresso, de crescimento econômico, pois, sem a possibilidade de vida planetária, não há significado para tal progresso.
A injustiça, a miséria e a fome são fatos assistidos e vivenciados por grande par-te da população mundial e, diante da caracterização da forma de globalização, são reflexos de um crescimento insustentável. “O paradigma atual da humanidade é a sustentabilidade. A vontade de articular uma nova sociedade capaz de perpetuar-se em o tempo em umas condições dignas13”. Assim descreve a sustentabilidade, o equilíbrio natural e a existência humana, sendo que esta depende da não ruína dos meios naturais e isso somente não acontecerá se houver conscientização de que o crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. [tradução livre]
12 SOUZA. Maria Claudia da Silva Antunes de; Souza, Greyce Kelly Antunes de. Sustentabilidade e sociedade de Consumo: avanços e retrocessos. In: SOUZA. Maria Claudia da Silva Antunes de; ARMADA, Charles Alexandre de Souza (coord). Teoria jurídica e transnacionalidade. Volume I. Itajaí: UNIVALI, 2014. p. 172. Disponível em: http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx. Acesso em: 16 de junho 2014..
13 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013. El pardigma actual de La Humanidad ES La sostenibilidad. La voluntad de articular um nueva sociedad capaz de perpertuarse en el tiempo em unas condiciones dignas.

348 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A forma de convivência humana é insustentável. O individualismo supera o solidarismo humano. A cada maneira de pensar tão somente nas suas necessidades individuais, cresce o percentual de injustiças sociais pela irracionalidade da sociedade globalizada. “O atual modo de produção, visando ao mais alto nível de acumulação (“Como posso ganhar mais?”) comporta a dominação da natureza e a exploração de todos seus bens e serviços14”. Um crescimento caracterizado como insustentável, pois toda forma de progresso que não respeita os limites renováveis dos recursos naturais e que comprometa a continuidade digna da espécie humana tem o reflexo predomínio de ter a adjetivação negativa de insustentável.
“O antropoceno se caracteriza pela capacidade de destruição do ser huma- no, acelerando o desaparecimento natural das espécies15”. Desde os primórdios da Terra, o ato humano para com a natureza tende à destruição, seja de recursos naturais, artificiais ou culturais. Mas, para uma comunidade crescer, adveio sempre o ato de destruir os recursos disponíveis.
Conforme publicado pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 2011), centenas de plantas e espécies naturais estão sendo ex-tintas, devido à perda de seu hábitat natural, em decorrência dos desmatamentos para a produção de alimento, dos agronegócios e da pecuária16. Uma realidade que afronta a existência da espécie humana em detrimento do crescimento econômico, atividades estritamente rentáveis, porém, alarmantemente predatórias para com a base ecológica.
A sustentabilidade implica os significados de sustentar, conservar, proteger algo natural que garanta a dignidade da vida para os seres humanos. No quadro atual da realidade social mundial, a sustentabilidade como equilíbrio está para o universo, para a Terra e para o meio ambiente, pois se deve conservar e manter vivos, subsistindo ao longo do tempo17.
Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são termos que não se con- fundem e que não são sinônimos. Conforme analisado, sustentabilidade adjetiva a forma de desenvolvimento. É a garantia de recursos indispensáveis à
14 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21.15 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21.16 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21.17 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 22.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 349
vida da presente geração, sem comprometer a vida das gerações futuras. Uma caracterização de natureza econômica, pois, por meio de uma boa gestão dos recursos, pode-se garantir vida saudável às gerações presentes e futuras.
Ao conjugar-se o desenvolvimento com a sustentabilidade, pode-se observar “que se trata de desenvolver de um modo que seja compatível com a manutenção da capacidade dos sistemas naturais de suportar as existências humanas18”. A sustentabilidade tende a alcançar nível de igualdade, de justiça social, sendo um ato contraditório com a realidade de progresso atual, o qual tende a acumular riquezas em mãos de poucos e trazer a pobreza para a realidade de muitos. [tradução livre].
Gabriel Real Ferrer anuncia que a sustentabilidade como adjetivo de desen-volvimento deve ser flexível. O puro crescimento pressupõe a crise ambiental porque, do crescimento populacional calçado no acúmulo de poder, seja nos países desenvolvidos ou nos em desenvolvimento, decorre uma perda da biodiversidade, supõe-se um aspecto negativo quanto ao adjetivo sustentabilidade.
A necessidade de mudança de paradigma quanto à forma de desenvolvimento pressupõe a caracterização positiva da sustentabilidade, a qual condiciona mudanças positivas com o intuito de perpetuar o meio social ao tempo.
É a partir desses conceitos e afirmações que, para ser sustentável, deverá haver margens flexíveis, ou seja, onde há crescimento, pode haver um decrescimento; onde há desenvolvimento, poderá haver um não desenvolvimento; onde há globalização, poderá decorrer uma desglobalização. Mudanças de paradigmas deverão ocorrer, em nome da existência humana19.
Dessa forma, o desenvolvimento é a forma, o meio de se atingir a sus-tentabilidade, seja na área social, econômica e ambiental, sempre em busca de um
18 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013. Es decir que se trata de desarrollar de un modo que sea compatible con el mantenimiento de la capacidad de los sistemas naturales de soportar las existencias humana.
19 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013.

350 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
futuro, de uma sociedade sustentável que procura mudanças compatíveis a uma sociedade pós-moderna. Nisso, há exaltação a valores que alcancem as premissas da justiça social, da igualdade entre nações, da extinção do fenômeno da pobreza, equilibrando os anseios sociais para com os ambientais.
3. as novas tecnologias no contexto da sociedade contemporânea. o avanço tecnológico e seus re- flexos na era do século xxi correlacionada à sustentabilidade
Na esfera doutrinária do desenvolvimento sustentável, exigem-se mudanças nos valores que orientam os comportamentos sociais, agregando o conhecimento e a inovação de tecnologia para que haja a solução da crise ambiental20. A natureza morta não serve ao ser humano; a ideia de utilização dos recursos naturais deve estar subordinada aos princípios ecológicos e ao primado de uma vida digna aos seres humanos, procurando evitar que o egoísmo de certas minorias sobreponha-se ao interesse comum de sobrevivência da coletividade global e do Planeta Terra21.
Na ideologia do estado socioambiental, apresentado de forma realística, insere-se a preocupação com a preservação e a eficácia do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado. Essa preservação é transferida ao poder estatal para a efetivação da segurança ambiental, partindo-se e transferindo-se, de forma solidária, para o cidadão, grande parte dessa responsabilidade ecológica22.
Ao passar a inquietação da situação ambiental para a sociedade, pensa-se em um estado social contemporâneo, o qual possui uma consciência de maior produção e maior consumo, primando, acima de tudo pelo equilíbrio fundamental com a dignidade da pessoa humana. Em verdade, denota-se que há uma inversão de valores de forma extrema.
A sociedade civil moderna, diante do comportamento irracional, o qual desfruta da degradação ambiental como meio ou caminho das relações sociais,
20 LEFF, Henrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 222.
21 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 57.22 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos
fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.102.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 351
coloca em risco o bem-estar social de forma individual e coletiva. Quando se tem a intenção de estudar o fenômeno da sustentabilidade, como uma forma de desenvolvimento, seja ele econômico ou social, tem-se a preocupação de buscar construções jurídicas eficazes para o bem-estar com qualidade, a qual se reflete na constância de um meio ambiente equilibrado e ecológico saudável.
É diante dessa percepção que se pretende criar estudos e ensaios com a finali-dade de esclarecer a forma racional de desenvolvimento da pessoa e o progresso humano universal. O meio ambiente passou a ser definido como um direito hu-mano fundamental, pois não há qualidade de vida se não houver a existência ou a possibilidade de existir um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, que se traduz no modo fundamental da dignidade humana23. Um meio ambiente com qualidade integra o conteúdo normativo da dignidade humana, fato este essencial, pois integra o conceito de manutenção e de existência da vida com qualidade24.
Tendo em vista os problemas ecológicos e o enquadramento do desenvolvi-mento sustentável, há inquietudes a serem pacificadas. Essa degradação ambien-tal é decorrência, em grande parte, de desigualdades sociais, as quais devem ser solucionadas de forma a buscar, socialmente, as condições mínimas de existência digna.
Nesse quadro, há uma estrada para as novas tecnologias, para as inovações regularem a pacificação desse problema ambiental. O crescimento econômico e social acelera a degradação ambiental, pelo fato de que crescimento não está para o desenvolvimento, sendo que aquele se utiliza dos meios naturais para sua concretude. Nessa perspectiva do uso intolerável dos recursos, diante do crescimento acelerado, nasce à preocupação em protegê-los e preservá-los para que a vida terrena tenha continuidade própria.
O estudo de novas tecnologias e do desenvolvimento de inovações serão fer-ramentas fundamentais para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável, o qual tem por finalidade primordial a preservação dos recursos naturais, promovendo o bem-estar do ser humano da geração presente e das futuras. Essa
23 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.12.
24 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.13.

352 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
fenomenologia está baseada na preservação dos recursos naturais planetários e no uso adequado da biomassa25. O paradoxo entre meio ambiente e desenvolvimento econômico tem que estreitar suas raízes para o fim comum da humanidade.
Nessa visão interdisciplinar entre ciência e tecnologia, aspectos jurídicos e econômicos devem ocorrer um entrelaçamento de áreas, todas direcionadas à função da justiça social, prevalecendo à igualdade social refletida como um meio de proteção, ou de amenizar a degradação ecológica. “É preciso que a ciência e a tecnologia estejam a serviço do meio ambiente e da sustentabilidade, para que seja garantido o direito ao meio ambiente ecológico equilibrado26”. Essa ideia de energia limpa, que não degrada nem consome os meios naturais poderá amenizar a crise ambiental.
O homem sempre se utilizou da biomassa para seu desenvolvimento, acre-ditando que seus recursos eram infinitos. Porém, a degradação exaustiva é a realidade da sociedade contemporânea. Quando se pensa em se desenvolver de forma sustentável, não se quer criar uma ideia de retrocesso, mas transformar todo conhecimento ecológico para a finalidade de cancelar, anular a dívida social acumulada ao longo do tempo, com a consequente redução da dívida ecológica27.
Aduz Ignacy Sachs “temos que utilizar ao máximo as ciências de ponta, com ênfase especial em biologia e biotecnicas, para explorar o paradigma do “B ao cubo”: bio-bio-bio. O primeiro b representa a biodiversidade, o segundo a biomassa e o terceiro as biotécnicas28”. O direito ao progresso econômico, científico e tecnológico está diretamente vinculado ao direito ao desenvolvimento. Seu próprio progresso é reconhecido como elemento fundamental para um processo econômico, social, cultural e político abrangente que, tem por objetivo central a promoção da qualidade de vida, do bem-estar de toda a coletividade29.
25 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 178.
26 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.180/181.
27 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 30.
28 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 30/31.
29 DIAFÉRIA, Adriana. Desenvolvimento sustentável e o direito ao progresso científico, tecnológico e econômico: as oportunidades e as possibilidades de tutela. Meio ambiente,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 353
Na ênfase da interdisciplinaridade das ações sociais e da ciência repousa a concretização do desenvolvimento com a preservação ambiental. Cientistas naturais e sociais devem trabalhar juntos, com a finalidade linear de alcançar cominhos sábios para o uso e o aproveitamento dos recursos naturais30. A moderação desses recursos visa a não destruição da diversidade, desde que a consciência humana quanto às atividades econômicas não esteja calcada no irracionalismo de que crescimento e meio ambiente estão solidamente separados.
No contexto social, para a busca do desenvolvimento sustentável, a ciência tecnológica acaba por respaldar uma importante e valiosa função, a de desenvolver equipamentos propulsores da atividade econômica que causem uma menor degradação do meio ambiente e que seja menos maléfica à saúde humana. Como se sabe, a atividade humana está diretamente relacionada ao meio natural; são fatos inseparáveis31.
Deve-se ter foco na busca pelas energias limpas, renováveis, que podem ser produzidas com base em resíduos agrícolas (biomassa), no aproveitamento dos ventos (eólica), na energia solar. Todas se destacam como formas de produção de energia e de produção de fontes necessárias, porém sustentáveis, para a sociedade pós-moderna, e que, logo, buscam um desenvolvimento tecnológico sustentável32.
Quando há um estudo que qualifica a vida, o direito fundamental mais importante de um ordenamento jurídico quer-se caracterizá-la como sendo digna, com fundamento no princípio da dignidade humana e na solidariedade humana.
Ao se tratar de um direito humano fundamental, o direito a um meio am-biente sadio e ecologicamente equilibrado retrata uma referência jurídica contemporânea. Conjugar a ciência com a técnica, na busca de solucionar, ou buscar medidas eficientes e adequadas para a crise ecológica, deve plantar na
direito e biotecnologia: estudos em homenagem ao Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado. Maria Auxiliadora Minahim, Tiago Batista Freitas, Thiago Pires Oliveira (coords.) Curitiba: Juruá, 2010, p. 447.
30 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 93.31 EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento
social. Antônio Carlos Efing e Cinthia Obladen de Almendra Freitas (Orgs.). Curitiba: Juruá, 2012, p. 192.
32 EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento social. Curitiba: Juruá, 2012, p. 192.

354 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
consciência social a busca por condições melhores de vida. A situação atual em que vive a maioria da população é a pobreza, a miséria e a fome, o que tornam uma nação insustentável. A luta por condições dignas de recursos naturais que proporcionem uma vida digna não deve ser a mesma da geração presente, porque o capitalismo descontrolado e as precárias condições de vida poderão levar a sociedade atual a uma séria crise, por haver a limitação de muitos bens primordiais para a vida33.
Nessa perspectiva, autores como Paulo Márcio Cruz e outros afirmam que está no conhecimento coletivo e solidário a melhora das condições de vida de toda espécie com vida e não somente direcionada ao ser humano, servindo a sustentabilidade como base para toda e qualquer política pública e também para as relações privadas34.
O uso racional da biomassa, principalmente, nos países tropicais, como é o caso do Brasil, contribui para um gerenciamento global inteligente da base ecológica. O Brasil tem condições de exportar sustentabilidade aos demais estados fazendo com que o desafio da recuperação ambiental torne-se uma oportunidade35.
Essa percepção encontra nas novas tecnologias um caminho aberto para efetivar os preceitos da sustentabilidade. A descoberta por novas ciências tecnocientíficas instaura-se na agenda de discussão mundial, voltada para a preservação da vida. “Não há como negar que a ciência nos levou a um novo cenário nos quais sonhos e, também pesadelos podem ser realidade36”. A ciência tem um poder de modificar
33 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo. Trans-nacionalizacíon, sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho en el siglo XXI. Disponível em: http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p.168.
34 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo. Trans-nacionalizacíon, sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho en el siglo XXI. Disponível em: http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p.168.
35 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações. Estado Socioambiental e Direitos Fun-damentais. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 42.
36 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p. 177.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 355
o percurso normal e limitado da vida humana, condicionando o homem à esta- bilização de seus desejos, requerendo a predeterminação da vida, auto-ins-trumentalizado a espécie humana, como razão para distanciar acontecimentos naturais trágicos37.
As ciências biotecnológicas precedem o poder do conhecimento científico que, naturalmente, influencia a humanidade. As novas ciências demandam gastos econômicos, realidade presenciada por países desenvolvidos, os quais concentram o poder econômico no poder do conhecimento, não expandindo o progresso científico às demais comunidades estatais. Uma racionalidade de desenvolvimento insustentável, de progresso em decrescimento, pois a preocupação é a proteção da vida humana não sendo uma barreira pretensa que imporia os benefícios humanitários das novas tecnologias.
Muitos agentes naturais são as fontes de efetivação das novas tecnologias Está na base ecológica à fonte primária para o desenvolvimento científico. Está no progresso científico a efetivação das novas biotecnologias38. Nesse contexto, aumenta a preocupação com os recursos naturais, no sentido de que o desenvolvimento econômico prescinde o desenvolvimento científico, que, na sua função, promove o desenvolvimento social, o bem-estar social. Não deve haver limitação ou restrição do direito à vida. Está na ciência a evolução digna da sociedade, desde que essas ciências sejam elaboradas em prol e não da e não de forma a discriminar da sociedade globalizada.
Maria Claudia Crespo Brauner dispõe que:
Na era da informação, o conhecimento não respeita os limites ideologias e dos Estados e, se um país adotar uma posição restritiva com relação às pesquisas genéticas, os resultados atingidos seriam o de excluir os seus pesquisadores do contexto internacional e o de ter de arcar com a responsabilidade de, no futuro, privar milhões de pessoas da aplicação clínica das descobertas de novas terapias39.
37 HABERMAS, J. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes 2004, p. 20.38 HABERMAS, J. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes 2004, p. 20/21.39 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações
acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p. 178/179.

356 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Ainda Maria Claudia Crespo Brauner aponta que “as novas ciências tendem a ser um caminho a ser regulado para equilibrar a relação com a ciência no trato com a vida e com o meio ambiente40”. Esse equilíbrio entre a ciência, a vida e o meio ambiente devem conduzir a uma forma sustentável de progresso. Um meio ambiente ecologicamente equilibrado significa preservar a base biológica natural, estando à sociedade à mercê dos interesses de novas ciências, com a preservação e a utilização racional dos recursos naturais. E, para que haja a efetiva preservação, o Poder Público deverá ser atuante quanto à fiscalização das entidades compromissadas com o desenvolvimento do conhecimento científico.
De forma racional, o progresso da ciência em prol do desenvolvimento humano não está, de forma absoluta, restrita a não utilização dos recursos naturais, mas, sim, à sua participação de forma racional, com o pensamento de que os recursos naturais são limitados quanto à sua existência.
Nesse sentido, Maria Claudia Crespo Brauner refere que “a conservação da biodiversidade entra em cena a partir de uma longa e ampla reflexão sobre o futuro da humanidade. A biodiversidade necessita ser protegida para garantir os direitos as futuras gerações41”. Os elementos naturais ecológicos devem ser aproveitados, porém não se deve destruir o capital, a base da natureza que os produz. “O que hoje é recurso, ontem não era, e alguns dos recursos dos quais somos dependentes hoje, serão descartados amanhã; assim caminha o progresso técnico42”.
Na perspectiva de renovar, de preservar, de recriar recursos naturais escassos, ínfimos, diante do contexto social global atual, o irracionalismo humano quanto à forma de desenvolvimento, permite a evolução por meio de novos conhecimentos, de novas ciências, com o fim de conservar a biodiversidade, fato que é fundamento do progresso sustentável.
40 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p.179.
41 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p.179.
42 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p.179/180.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 357
Nessa ideologia, está no conhecimento da ciência a esperança de utilizar-se dos recursos naturais dispostos pelo capital natural, sem sua degradação ou extinção. O sistema da biodiversidade vai ao encontro dos parâmetros da biotecnologia para haver uma forma harmônica de desenvolvimento social e preservação ecológica.
No estudo centrado na ciência jurídica, no meio ambiente e no ser humano, tem-se a apreensão de estender os poderes de conhecimento oferecidos pela moderna biologia. São nessa seara que nasce a inquietação de questionar quais são as responsabilidades e os limites que se deve impor para resguardar o respeito aos direitos humanos, o respeito e a preservação do meio ambiente e a proteção dos demais seres vivos.
A falta de preocupação com o ideal de desenvolvimento humano por parte de uma nação deixa de revelar a importância dos fatores sociais, culturais e ambientais. A inobservância dos fatores ambientais, que equilibram a sobrevivência humana, tem provocado grandes catástrofes, resultado das ações humanas para com o meio ambiente. O fato de se desenvolver tem que estar ligado ao nexo ambiental, ecológico. Não se pode deixar de lado a questão de que o poder tem uma forte interligação socioeconômica com os fenômenos naturais43.
Henrique Rattner assim alerta no que diz respeito à importância dos atos humanos para com o meio ambiente:
Os homens transformam com suas atividades a natureza e, para que não ocorram catástrofes, precisaríamos de uma organização racional da sociedade capaz de evitar a exploração dos recursos naturais até sua exaustão. Contudo, não basta racionalizar o metabolismo que os homens e a natureza criam. Para alcançar este objetivo é preciso estabelecer relações sociais que atendam às necessidades básicas e eliminem as carências gritantes das maiorias das sociedades contemporâneas. Porque a dominação irracional da natureza reflete as atitudes e comportamentos irracionais dos homens sobre os homens. Essa dominação, sempre irracional e destrutiva, representa relações de poder irrefletidas44.
43 RATTNER, Henrique. Uma ponte para a sociedade sustentável. São Paulo: SENAC, 2012, p. 305.
44 RATTNER, Henrique. Uma ponte para a sociedade sustentável. São Paulo: SENAC, 2012, p. 305.

358 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A degradação do meio ambiental, como há realmente, em grande escala, é a consequência de uma relação social vivenciada de forma irracional. Henrique Rattner afirma que essa irracionalidade socioambiental é verificada no plano macro do sistema econômico e social, enquanto no sistema micro é constatada a economia industrial45. No plano da macroeconomia, o consumo acirrado denota como característica marcante, consequentemente, o irracionalismo capitalista que impera no meio social. O acúmulo de riqueza reafirma o revés socioambiental, ou seja, é incompatível com um modelo de vida que se preocupa em assegurar e conservar os recursos naturais, indispensáveis para a sobrevivência humana com dignidade.
Nesse contexto individualista, de consumo exagerado, o meio social clama pelas iniciativas decorrentes das novas tecnologias. Nessa linha de pensamento, a intenção de recorrer a recursos tecnológicos para socorrer os dados alarmantes quanto à preservação dos meios naturais deve fazer parte da conscientização das pessoas que detém o poder, seja ele econômico ou científico. Isso pode se revelar positivo na direção de preservar os meios naturais essenciais para a vida no planeta e para restaurar, reconstruírem-se aqueles que se encontram escassos.
Contudo, enquanto os grupos econômicos, ou seja, a sociedade com poder, não aderirem à forma de pensar de que o crescimento não deve estar correlacionado com a degradação do meio natural, nem mesmo as formas primárias de tecnologia amenizarão a situação crítica em que se encontra o meio natural.
Conforme as palavras do Professor Gabriel Real Ferrer nas aulas ministradas na Universidade de Alicante/Espanha, as novas tecnologias estariam centralizadas como uma das dimensões da sustentabilidade, sendo esta um objetivo, a via para uma forma de progresso sustentável46. A ciência e a tecnologia são duas ferramentas que, conjuntamente, formam um elo infalível, um meio eficaz para as expectativas de superação da crise ambiental. As ações humanas estão, cada vez mais, relacionadas ao meio natural devendo a ciência jurídica, por meio de suas bases principiológicas, precaverem danos que possam comprometer a continuidade da vida humana.
45 RATTNER, Henrique. Uma ponte para a sociedade sustentável. São Paulo: SENAC, 2012, p. 306.
46 FERRER, Gabriel Real. Política de Sostenibilidad em la Unión Europea. Palestra ministrada na Universidade de Alicante, em maio de 2013.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 359
Compartilha-se da ideia de Jacques Marcovitch, o qual afirma que, con-temporaneamente, a tecnologia é um instrumento necessário para salvar o Planeta dos riscos que ela mesma teria criado, pois, as inovações ocorridas nos últimos anos demonstraram que a ciência e a tecnologia podem ser utilizadas de forma errada. Os estragos causados ao meio ambiente podem ser sanados pelo uso das novas tecnologias, mesmo sabendo-se que a maioria desses danos foram causados por ela mesma. Contudo, hoje, se aplicados para o fim de recuperar a esfera natural, poderão surtir resultados benéficos47.
A base ecológica é o meio existencial para a espécie humana. A sua preser-vação deve ser a legenda para um desenvolvimento sustentável, pois, por meio dos recursos disponíveis no meio ecológico é que se garantirá uma vida com dignidade. A preocupação com os meios naturais não está, tão somente, na área do Direito Ambiental; há, sim, uma inquietação interdisciplinar, fato este que transcende os conhecimentos científicos e tecnológicos48. O direito e a ciência devem estar direcionados para o mesmo fundamento, não somente na legislação de situações essenciais que viabilizem a preservação do meio ecológico, mas é preciso que a ciência esteja a serviço do direito ambiental e da sustentabilidade, garantindo a subsistência das gerações presentes e futuras.
A ligação dos avanços tecnológicos à proteção dos recursos naturais deve descender de um pensamento racional, com a preservação da base ecológica que garante a subsistência da vida humana. O beneficio da ciência e da tecnologia para a vida humana é indiscutível. As pesquisas científicas apontarão soluções para as verdadeiras necessidades humanas, que, assim consideradas, gerarão um desenvolvimento para caminhar em beneficio da coletividade.
4. princípio do não retrocesso como instrumento de garantia da proteção ambiental
A inserção das novas tecnologias no cenário global, com a intenção de proteger e preservar a vida demanda políticas públicas de elaboração de uma legislação que
47 MARCOVITCH, Jacques. Para mudar o futuro. Mudanças climáticas, políticas públicas e estratégias empresariais. São Paulo: Saraiva 2006, p. 102.
48 EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento social. Curitiba: Juruá, 2012, p. 179.

360 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
garantirá sua efetivação em prol do bem social, seja na ordem econômica, política ou ambiental.
O processo de elaboração normativa é complexo e se instaura desde a fase experimental, na apropriação dessa ciência, passando para a elaboração de uma proposta normativa, chegando-se na fase da sua utilização. O desfecho é definido na lei, com as responsabilidades e repressões pelo descumprimento de regras e de primados que garantirão a justa distribuição da nova técnica científica49.
Nesse panorama, a finalização normativa paira na intenção de evitar o retrocesso normativo ambiental. Ao se tratar de uma matéria caracterizada por direito fundamental e difuso que estendem direitos além das fronteiras, cuja eficiência dignifica a vida humana, tende a postular pela inserção da não regressão como primado fundamental para um meio social transnacional.
No cenário normativo atual, conforme o conjunto legislativo de normas existentes, a decorrência do retrocesso acabará por atingir não somente grupos sociais, uma cidade, um estado ou um país, mas atingirá a humanidade em geral. A prevalência fundamental difusa do direito a um meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado transcende barreiras e fronteiras, consubstanciando a efetivação do princípio da não regressão. Esse princípio veda a abolição da proteção ambiental já consagrada no ordenamento jurídico na questão dos direitos fundamentais do cidadão global, não se limitando a fronteiras por se tratarem de direitos essenciais à subsistência humana.
4.1. questões fundamentais quanto ao princípio do não retrocesso
Nos primados fundamentais da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, repousa a justificação de anunciar o meio ambiente como um direito fundamental. Dessa maneira, o princípio da não regressão é um primado normativo consagrado como fonte legal nos termos da Declaração Universal dos
49 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do direito: considerações acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang. (org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, p. 175.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 361
Direitos do Homem, o qual preconiza uma segurança ética, jurídica, quanto aos direitos ditos como direitos fundamentais, incluindo o meio ambiente50.
A sua enunciação está em não abrir brechas, lacunas para retroceder os direitos enfatizando-se o progresso quanto aos direitos humanos caracterizados por fundamentais. Essa designação pressupõe uma obrigação de cunho positiva quanto aos efeitos negativos de uma obrigação diversa, a busca de garantias de preservação e de progressão quanto aos direitos que resguardam o bem natural, qual seja, o meio ambiente51. Tem-se a obrigação de preservar, de resguardar, por meio de um ato negativo, a não degradação, de crescer, preservar, sobretudo, um estado presente e futuro.
Nessa linha de pensamento, expressa Michel Prieur:
Deste modo, a não regressão a despeito de sua aparente obrigação negativa conduz a uma obrigação positiva aplicada a uma norma fundamental. Distintos textos internacionais dos direitos humanos evidenciam a característica progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, os quais estão normalmente ligados ao direito ambiental. Deduz-se facilmente desta progressividade uma obrigação de não regressão ou não retrocesso52.
O meio ambiente é um direito que compõe a terceira geração de direitos fun-damentais. Para Norberto Bobbio, os direitos que integram essa geração seriam uma categoria de direitos a um meio ambiente não degradado, não poluído. Esse autor, quando anuncia o direito ao meio ambiente equilibrado, reforça o direto à vida. Faz perceber que o direito ao meio ambiente, quanto a um ato de Justiça, reforça que nenhum poder sobrepõe-na, refletindo-se, assim, a dignificação humana53.
50 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. Disponível em www.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012. p. 08/09.
51 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. Disponível em www.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012. p. 08.
52 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. Disponível em www.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012. p. 08.
53 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.28/29.

362 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
O princípio da não regressão, de forma objetiva, é um princípio que deve conter, prevenir, nas ações ou omissões, de forma que aquilo que foi consagrado pelo direito não recue, não retroceda, garantindo a dignidade da pessoa humana quanto à regulamentação do bem coletivo54.
O que o direito alcançou quanto à proteção do meio natural deve ser con-servado, não podendo ser omisso para as mudanças daquilo que prejudicou, ou deixou de produzir efeitos. Mas, quanto às normas, à jurisprudência, às ações que produziram e ainda produzem efeitos na preservação do meio natural, não deve haver meios que causem um recuo normativo que alcance a eficácia do direito quanto à matéria a ser protegida. No sistema de legislação, por exemplo, uma lei pode ser revogada ou derrogada por outra lei; contudo, se isso causar retrocesso, há proibição no que diz respeito à preservação dos direitos enfatizados ao meio ambiente.
Não pode haver a criação de normas que produzam efeitos que causem o retrocesso de direitos já consagrados. As normas devem ser criadas para conservar e para proteger direitos presentes e futuros, não recuando de forma que atinja a dignidade humana55.
O que poderia levar a pensar que a ciência jurídica, por meio das normas ju-rídicas, possa causar o retrocesso do direito? As questões políticas, econômicas, o próprio desenvolvimento social podem lançar-se no mundo jurídico, interferindo naquilo que já está sendo protegido, garantido, assegurado, causando o viés do retrocesso. Nesse contexto, Michel Prieur, na palestra proferida sob o título “Princípio do não retrocesso em Direito Ambiental”, assim se pronunciou:
Esse risco de retrocesso pode ser justificado por grupos de interesse de diferentes maneiras (motivos jurídicos, políticos, econômicos e psicológicos).
Nesse sentido, poderia ser invocado o poder soberano dos constituintes e legisladores, como regra da democracia, pugnando que não existe direito eterno nem direito adquirido pelo direito.
54 AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental e sustentabilidade: desafios para a proteção jurídica da sociobiodiversidade. Curitiba: Juruá, 2012, 40/41.
55 NETRO, Luísa Cristina Pinto: O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, 33.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 363
Também é possível que esse retrocesso ocorra por iniciativas de desregulamentação e deslegiferação, sob o pretexto de simplificação do complexo direito ambiental, diminuindo com isso seu nível de proteção. Motivos econômicos (crises e globalização) também são argumentos recorrentes para justificar o retrocesso da legislação ambiental. Já as razões psicológicas consistem no sentimento de que a produção jurídica sobre meio ambiente seria demasiada e complexa56.
Segundo Michel Prieur, a intenção da interação desse princípio com o fundamento de sustentabilidade se dá pelo fato de que é uma norma que impediria a retroatividade da proteção ambiental assegurado pelo ordenamento jurídico. Essa proteção é preconizada como uma segurança jurídica vital para as gerações futuras, pois o direito, a norma, a situação assegurada para a preservação de determinada circunstância deve ser um aporte inicial ao não regresso. Assim dispôs:
O princípio do não retrocesso tanto responderia à necessidade de segurança jurídica quanto satisfaria a exigência de proteção das gerações futuras, não se impondo a estas um meio ambiente em degradação. Caso haja uma lei regressiva hoje, quem pagará serão as gerações futuras. Sob uma dimensão ética e moral, o conceito de não retrocesso envolve menos poluição e mais biodiversidade.
O não retrocesso no Direito Internacional do Meio Ambiente revela uma visão progressista – presente no Princípio 7º da Declaração do Rio – de conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre57.
O não retrocesso dos direitos ambientais é reflexo do princípio da segurança jurídica. Em um ordenamento jurídico, no qual os princípios são normas
56 PRIEUR, Michel. Palestra proferida pelo Michel Prieur, sob o título O Princípio do não retrocesso em Direito Ambiental. Disponível em: http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. Acessado em 20 de julho de 2012.
57 PRIEUR, Michel. Palestra proferida pelo Michel Prieur, sob o título O Princípio do não retrocesso em Direito Ambiental. Disponível em: http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. Acessado em 20 de julho de 2012.
PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 10.

364 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
orientadoras das regras jurídicas, trata-se de uma forma de progressão para além daquilo que já fora assegurado e normatizado quanto ao bem fundamental, no caso o meio ambiente, garantindo-lhe.
Assim dispôs Michel Prieur:
(...) Uma fórmula positiva, com um “princípio de progressão”, não foi por nós escolhida por ser demasiado vaga e pelo fato de se aplicar, de fato, a toda norma enquanto instrumento, funcionando a serviço dos fins da sociedade. Ao nos servimos da expressão “não regressão”, especificamente na seara do meio ambiente, entendemos que há distintos graus de proteção ambiental e que os avanços da legislação consistem em garantir, progressivamente, uma proteção a mais elevada possível, no interesse da Humanidade58.
Na mesma linha doutrinária quanto ao princípio da não regressão, no que se refere ao meio ambiente, à proteção do meio natural está interligada com a elaboração de normas (poder legislativo) que regulamentem essa pretensão material, por se considerar, repita-se, o direito a um meio ambiente equilibrado um direito humano59.
A palavra regressão tem um significado de retroceder, voltar para trás. A linha evolutiva do ser humano, do Estado social, é uma percepção evolutiva, de crescimento. O desenvolvimento tecnológico, por exemplo, é a conclusão lógica de que se está em plena evolução. Porém, havendo a excessiva exclusão social quanto aos meios econômicos – pobreza/riqueza – em contraponto à degradação do meio natural em nome do desenvolvimento – homem/natureza – a percepção é a de que se estaria em decrescimento, retrocedendo-se na consagração dos direitos fundamentais – meio ambiente e dignidade da pessoa humana – os quais se encontram em uma esfera de intangibilidade.
Na concepção de o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equili-brado ser um direito fundamental intangível e que não comporta modificações
58 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 15.
59 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. Disponível em WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012, p. 08.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 365
quanto seu estado de direito adquirido, deve-se referir a sua preeminência com relação aos demais princípios que fundamentam a proteção, a regulamentação do Direito Ambiental. Nesse sentido, resta citar, por primordial, o efeito da sustentabilidade, princípio que assegura o desenvolvimento social presente sem comprometer a vida das gerações futuras. Assim, aos se resguardar os meios naturais disponíveis, evita-se o retrocesso e se assegura o bem-estar social.
Michel Prieur declara que “o princípio da não regressão em matéria ambien-tal não é um obstáculo à evolução do Direito. Ele não “congela” a lei60”. É um primado que visa à efetivação dos direitos fundamentais, assegurando o progresso contínuo do direito ambiental vinculado ao progresso científico e tecnológico, voltado à proteção desse direito – o meio ecológico sadio61.
Assim, percebe-se quão importante é a verificação desse princípio quanto ao tópico do direito ambiental, o qual se correlaciona com a dignificação humana, com o primado da segurança jurídica, afastando-se, qualquer petrificação material e evoluindo com perspectivas positivas para com a sociedade, no que diz respeito aos reflexos normativos.
5. conclusões
A presente investigação teve como objeto científico, de forma geral, analise da sustentabilidade no contexto da crise ambiental como resposta a esse con-texto social contemporâneo, a inserção das novas tecnologias como uma via indispensável ao desenvolvimento sustentável e a designação do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado como um direito fundamental.
O fator sustentabilidade ser uma relação entre o homem/natureza caracteriza-se por ser um princípio norteador da garantia de vida digna no planeta. Diante das devastações ambientais, tragédias climáticas, desmatamentos florestais, poluição da água, do solo e do ar, entre tantas outras catástrofes ambientais, a cada dia colocam em risco a sobrevivência da sociedade e demais seres vivos.
60 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 41.
61 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 42.

366 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
O não pensar no hoje, para garantir uma sobrevivência digna no futuro, enfatiza uma irracionalidade social, uma forma de operar irracional, insustentável. A sustentabilidade, como um fenômeno para garantir a continuidade da vida terrena, ou um desenvolvimento sustentável com o pensamento nas ações presentes e futuras, sem prejuízo de vida quanto aos recursos naturais, é uma forma de resguardar, de preservar um direito fundamental, o bem natural como fonte de subsistência. A comunidade atual não deve apenas pensar em sustentar recursos disponíveis, mas, de forma satisfatória, propiciar condições melhores às gerações futuras. O agir momentâneo com reflexos futuros.
A era ambiental tende a reabrir o conflito entre a exploração e a libertação humana numa nova forma de pensar. Com a libertação do ser humano para a produção, sem atentar para a escassez de recursos, tendenciou o açodamento do alarme na esfera ecológica, sendo a área atingida, de forma primária e emergencial, como as etapas ocultas do progresso e da modernização mundial. Nessa realidade, que há necessidade de haver uma conscientização ambiental, uma mudança de valores pós-modernos em face da degradação ambiental. Por meio da maximização da economia, poderia haver os reflexos da sustentabilidade, com o melhor uso dos recursos em prol do meio ambiente e do seu crescimento econômico futuro. Uma construção social que visa ao desenvolvimento da pessoa humana de forma linear com o meio ambiente, perfazendo-se, uma construção do desenvolvimento sustentável.
No que tange às tecnologias, tem-se a conceituação de que são formas de consolidar o desenvolvimento sustentável, pois energias limpas, energias re-nováveis, que venham suprir as energias naturais em extinção e, ainda mais, outras formas que não degradem ou prejudiquem o entorno natural, por meio das inovações tecnológicas e sua materialização.
Verificam-se as novas tecnologias como os avanços da ciência em prol do enfrentamento da crise ambiental, como uma resposta concreta aos efeitos do desen-volvimento sustentável na era contemporânea. Delineou-se a inquietação em evidenciar que a utilização de energias renováveis, de fontes que são diferenciadas das bases naturais, por serem infinitas, ilimitadas, não poluentes, com a finalidade de direcionar o intuito de preservação e manutenção dos recursos ecológicos sadios e equilibrados, condições essenciais de existência humana atual

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 367
e das futuras gerações. Considerando-se o cenário de degradação ambiental, como um malefício para a humanidade, tem-se expectativas positivas nas novas tecnologias quando direcionadas para este fim: a manutenção da base ecológica. A ciência em prol do progresso humano tende a desencadear um desenvolvimento sustentável, conservando e mantendo os recursos naturais indispensáveis para a vida das presentes e futuras gerações.
Por fim, com fundamento no paradigma da sustentabilidade, abordou-se a aplicação de seus reflexos no princípio da não retrocessão quanto à matéria de direito ambiental. Demonstrou-se a real importância de caracterizar esse direito fundamental – o direito ao meio ambiente – como um direito e um dever de preservação transnacional. Nesse sentido, a legislação brasileira, com todo o aparato legal organizado, ainda assim não consegue evitar os resultados degradantes da ação humana. Dessa forma, imagina-se como deva se dar essa relação homem/ambiente nos demais locais que nem mesmo contêm, em seu ordenamento jurídico, normas que protejam ou que garantam os meios naturais ainda disponíveis.
É de suma importância a observação do princípio do não retrocesso quanto ao direito ao meio ambiente. Normas, tratados, acordos, que repousam em proteger, regulamentar, preservar, conservar, punir, prevenir e reprimir danos, degradações, violações ao bem comum, o meio ambiente, devem progredir quanto aos seus fundamentos legais, produzindo eficácia nos meios judiciais relaciona-dos a essa matéria.
O princípio da não retrocessão tem ingerência direta no tópico ambiental, o qual visa a assegurar o direito adquirido pelo ordenamento legal, restringindo e abolindo ameaças quanto à sua essência legal. O princípio, ora em glosa, insere-se na ordem legal como necessidade veementemente comum da humanidade.
Conforme exposto, pretende-se concluir que, ao adentrar um novo paradigma na conjuntura da sociedade global, tende a haver uma mudança avassaladora na forma de pensar, de viver, de agir e de respeitar, de acolher em prol da vida humana, mas uma vida com dignidade seja ela na área ambiental, econômica, social ou política. O ser humano deve modificar a sua maneira de estabelecer-se no mundo terreno, principalmente, no que diz respeito aos seus atos com reflexos no meio ambiente. Tratando-se de um direito primordial à existência humana às

368 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
evoluções tecnológicas deverão ser aplicadas pára conservação desse bem digno de qualificar a existência humana. No aparato normativo que está o Direito de preservar a base natural, obstando o retrocesso legal conquanto à precaução do entorno natural.
6. referências
AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental e sustentabilidade: desafios para a proteção jurídica da sociobiodiversidade. Curitiba: Juruá, 2012.
BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e direito: compromissos com a proteção da saúde humana e ambiental. In: BRAUNER, Maria Claudia Crespo; LIEDKE, Mônica Souza; SCHNNEIDER, Patrícia Maria. Biotecnologia e direito ambiental: possibilidades de proteção da vida a partir do paradigma socioambiental. Jundiaí: Paco, 2012. p. 9-26.
BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008. p. 175-192.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. Título original: L’età dei Diritti.
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 22.
CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo. Trans-nacionalización, sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho en el siglo XXI. Opinión Jurídica, Medellín, Colombia, v. 10, n. 20, p. 159-174 jul./dic. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf>. Acesso em: maio 2013.
CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do estado e do direito transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. p. 55-71.
CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no século XXI. Itajaí: Universidade do Vale de Itajaí, 2011, p. 156.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 369
DIAFÉRIA, Adriana. Desenvolvimento sustentável e o direito ao progresso científico, tecnológico e econômico: as oportunidades e as possibilida-des de tutela. In: MINAHIM, Maria Auxiliadora; FREITAS, Tiago Batista; OLIVEIRA, Thiago Pires (Coords.). Meio ambiente, direito e biotecnologia: estudos em homenagem ao prof. Dr. Paulo Affonso Leme machado. Curitiba: Juruá, 2010, p. 439-454.
EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento social. Curitiba: Juruá, 2012.
FERRER, Gabriel Real. Política de Sostenibilidad em la Unión Europea. Palestra ministrada na Universidade de Alicante, em maio de 2013.
FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciu-dadanía ¿construimos juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013.
HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. A caminho de uma eugenia liberal? Tradução de K.Jannini & E. A. Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2004. Título original: [título em alemão].
LEFF, Henrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, com-plexidade, poder. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 222.
LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 28.
MARCOVITCH, Jacques. Para mudar o futuro: mudanças climáticas, polí-ticas públicas e estratégias empresariais. São Paulo: Saraiva 2006.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
NETRO, Luísa Cristina Pinto: O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
PRIEUR, Michel. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: SENADO FEDERAL. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-calização e Controle. O princípio da proibição de retrocesso ambiental.

370 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Brasília, [2012]. 11-54. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.
PRIEUR, Michel. O princípio do não retrocesso em direito ambiental. Palestra. Disponível em: <http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. Acessado em 20 de julho de 2012.
PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. Revista NEJ - Novos Estudos Jurídicos, [Itajaí], v. 17, n. 1, p. 6-17, jan./abr. 2012. Disponível em: <www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 15 ago. 2012.
RATTNER, Henrique. Uma ponte para a sociedade sustentável. São Paulo: SENAC, 2012.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
SCHONARDIE, Elenise Felzke. Direito ambiental e sustentabilidade. Revista do Direito UNISC, Santa Cruz do Sul. N. 36; p. 17/28; jul-dez,2011. Disponível em:http://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view File/2189/1733. Acessado em 20 de julho de 2012, p. 21/22.
SARLET, Indo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang [Org. Ingo Wolfgang Sarlet. Estado socioambiental e direitos
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p.11-38.
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: SENADO FEDERAL. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. O princípio
da proibição de retrocesso ambiental. Brasília, [2012?]. p. 121-206. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 20 jul. 2012.
SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 371
SOUZA. Maria Claudia da Silva Antunes de; Souza, Greyce Kelly Antunes de. Sustentabilidade e sociedade de Consumo: avanços e retrocessos. In: SOUZA. Maria Claudia da Silva Antunes de; ARMADA, Charles Alexandre de Souza (coord). Teoria jurídica e transnacionalidade. Volume I. Itajaí: UNIVALI, 2014. p. 172. Disponível em: http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx. Acesso em: 16 de junho 2014.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 373
comércio virtual e estabelecimento tributário: entre o direito
brasileiro e a ocde
Jonathan Barros Vita1
Maria de Fátima Ribeiro2
Resumo
Este trabalho objetiva determinar os contornos jurídicos do que atualmente constitui o conceito de estabelecimento e sua aplicabilidade no campo do comér-cio virtual. Para tanto, foi produzido um estudo das formas e definições do Direi-to Civil brasileiro para conceito como o de estabelecimento e sede, especificando sua adequação definitória frente aos virtuais. Posteriormente, os desdobramentos desta concepção de estabelecimento virtual foram estudados no campo do direito tributário brasileiro. Com tais premissas postas, incluindo referências a vários tributos e direito comparado, estabeleceram-se as bases para determinação da nova interpretação para este importante instituto jurídico, especialmente no plano da identificação do conceito de estabelecimento permanente virtual feito pela OCDE.
1 Advogado, Consultor Jurídico e Contador. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET-SP, Mestre e Doutor em Direito do Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP e Mestre em Segundo Nível em Direito Tributário da Empresa pela Universidade Comercial Luigi Bocconi – Milão – Itália. Coordenador do Mestrado e professor do Mestrado e da Graduação da UNIMAR. Professor de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e exterior. Conselheiro do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Ex-Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Secretário da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB.
2 Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (1978), Mestrado em Ciências Jurídicas Empresarias pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983), Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1993). Pós Doutorado em Direito Tributário na Universidade de Lisboa (2012). Atualmente é professora titular do PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO da Universidade de Marília - UNIMAR, Marilia, São Paulo, Brasil. É Presidente eleita do Conselho Deliberativo 2012-2014 do Instituto de Direito Tributário de Londrina, professora convidada da Universidade Estadual de Londrina. Ensina em diversos cursos de Especialização. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Tributário, atuando principalmente nos seguintes temas: direito tributário, tributação e desenvolvimento econômico e social, políticas públicas , princípios constitucionais e soberania, direito constitucional e internacional econômico.

374 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Palavras-chave
Direito Tributário; Estabelecimento tributário; Comércio virtual.
Abstract
This work aims to determine the legal contours of what nowadays constitutes the concept of establishment and its applicability on the virtual commerce. In order to do so, a study on the forms and definitions of Brazilian Civil Law to the concept of establishment and place of business, specifying its definitory adequacy to the virtual establishment. Afterwards, the unfolding of this concept of virtual establishment was studied on the realm of the tax law. With these premises, including references to several taxes and comparative law, it was established the foundations to the determination of the new interpretation for this important legal institute, especially in identifying the concept of virtual permanent establishment made by OECD.
Key words
Tax Law; Tax establishment; Virtual commerce.
1. introdução
As introduções de textos científicos servem para estabelecer uma justificativa para o mesmo, além do método/sistema de referência empregado, delimitando as premissas teóricas e desenvolvendo a estrutura encadeada entre este sistema e o seu objeto de estudo, demonstrado também através de um plano de trabalho, finalizando com conclusões sintéticas, que deverão ser compatíveis com tais discursos empregados.
Nesse sentido, a contemporaneidade tem exigido evoluções constantes do estudo do direito, especialmente para captar as complexidades da desmaterialização dos meios comerciais, o que justifica plenamente o tema escolhido.
Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar o atual status da doutrina na definição do conceito de estabelecimento e qual sua nova configuração (tributária) com o advento da internet, especialmente citando-se o atual status interpretativo no campo da OCDE.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 375
Metodicamente, tem-se a aplicação do método empírico dialético, conjuga-do ao sistema de referência empregado3, o qual agrega vários desenvolvimentos de teorias já estabelecidas e, especialmente, muda constantemente de posição de observação.
Estes sistemas de referência coordenados seriam o Law and Economics de Posner4 e5, que detém influência majoritária no plano da doutrina internacio- nal, as Teorias da Linguagem, representadas pelo Construtivismo Lógico-Semân-tico de Barros Carvalho6, e a Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann7.
No caso concreto, no estudo a ser realizado neste texto, tem-se que as teorias da linguagem são úteis para compreender os limites semânticos das expressões da língua do direito, suas regras de construção e como esta se propaga.
Em um segundo plano, aqui, tem-se que as análises da Teoria dos Sistemas e do Law and Economics seriam úteis para delimitar os porquês das modificações legislativas que tratam sobre a tributação de operações comerciais intermediadas pela internet.
Finalmente, o plano de trabalho do trabalho inicia-se com o estabelecimento dos limites jurídicos da definição e tipificação do comércio eletrônico (e-commer-ce), seguindo-se com seus desdobramentos no campo da noção de estabelecimento em vários tributos e na experiência internacional, especialmente da OCDE no campo do chamado estabelecimento permanente virtual.
3 Para a visão mais atual deste sistema de referência proposto: VITA, Jonathan Barros. Teoria Geral do Direito: Direito Internacional e Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin 2011.
4 Para um apanhado geral sobre Law and Economics: ROEMER, Andrés. Derecho y economía: uma revisión de la literatura. Cidade do México: ITAM, 2000.
5 Já na doutrina brasileira, como autores que trabalham com este sistema de referência, mais especificamente voltado ao direito tributário, entre outros: CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria do sistema jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2005; CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise econômica do direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009; e SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011.
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 2ª edição. São Paulo: Noeses, 2008.
7 LUHMANN, Niklas. Law as a social system. Oxford: Oxford University Press, 2004.

376 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
2. definindo as formas e os limites do chamado co-mércio eletrônico8
Inicialmente, lembra-se que poucas são as obras que tratam do tema do co-mércio eletrônico e seus desdobramentos, incluindo aquelas em que se cunham os ramos didaticamente autônomos dos chamados direito digital, direito informático ou direito eletrônico.
Estes estudos são normalmente desenvolvidos por autores que possuem a formação clássica do chamado direito empresarial9 e incluem, entre suas especulações, a forma de prova e a determinação do local da celebração dos contratos, sendo este último extremamente útil para a solução do problema estudado.
Adicionalmente, também existem estudos do direito do consumidor10 e, também, das responsabilidades cíveis e penais a respeito de danos/delitos informáticos11 como os derivantes de danos materiais causados por vírus, os danos morais (e materiais) relacionados à invasão de privacidade ou a determinação dos sujeitos responsáveis pelos crimes, como os contra a honra ou patrimônio, cometidos por este meio virtual.
Tangentemente, estes textos também focalizam suas preocupações no campo da delimitação das vantagens econômicas através da geração de eficiências no
8 Para um histórico mais acurado do comércio eletrônico: BALAN JÚNIOR, Osvaldo. O estabelecimento virtual na sociedade técnica: a necessária busca de segurança jurídica nas transações comerciais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2011.
9 Entre outros que estudam o tema: FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Aspectos jurídicos do comércio eletrônico. Porto Alegre: Síntese, 2004.
10 Como importante texto que estuda estas relações entre direito do consumidor e direito eletrônico: LUCCA, Newton de. Aspectos atuais da proteção aos consumidores no âmbitos dos contratos informáticos e telemáticos. In: Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 25- 76; FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Aspectos jurídicos do comércio eletrônico. Porto Alegre: Síntese, 2004.
11 Para um estudo mais aprofundado sobre o tema: BASSO, Maristela; e POLIDO, Fabrício. Jurisdição e lei aplicável na internet: adjudicando litígios de violação de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social. In: Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 441-490.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 377
campo do Law and Economics e incluindo dados estatísticos para demonstrar o crescimento de tal campo (e a correspondente necessidade de tributação)12 e 13.
De qualquer maneira, delimita-se o foco deste interessante estudo nos seus aspectos jurídicos e não técnico-informáticos, determinando quais as modalidades comerciais em que se correlacionam direito e internet, para, posteriormente, estabelecer os desdobramentos jurídicos destas formas e sua relação com o direito tributário.
Neste sentido, várias poderiam ser as classificações das transações jurídicas que se relacionam direta ou indiretamente com a internet, ou mesmo das modernas14 subespécies dos contratos correlacionados com estas transações, que sejam: contratos eletrônicos intersistêmicos, interpessoais (simultâneos ou não) ou interativos, cada um destes relacionado a potenciais espécies de estabelecimentos virtuais15.
Mais ainda, qualquer espécie de ato comercial que tenha correlação com o meio eletrônico, virtual ou não, poderia ser classificado como forma de transação eletrônica.
Entretanto, é mais útil utilizar-se da noção clássica16 de que os meios eletrônicos podem ser:
12 Para mais sobre estes problemas: ANDRADE, Maria Isabel de Toledo. Reforma tributária: como tributar o comércio eletrônico? A pouca experiência internacional. In: Informe-se – BNDES. Brasília: Secretaria para assuntos fiscais – SF, nº 14, maio 2000.
13 Para mais notas da doutrina italiana sobre os fatores que implicaram o surgimento deste estabelecimento: BALAN JÚNIOR, Osvaldo. Estabelecimento virtual, uma nova fonte de estudos . In: Viajus. Porto Alegre: http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=1173&idAreaSel=12&seeArt=yes acesso 20/11/2011.
14 BARROS, Aline Cardoso de; e COSTA, Maria Victoria Santos. Contratos eletrônicos: norteadores aplicáveis frente à ausência de regramento específico. In: Questões atuais de direito empresarial. Vol. II. São Paulo: MP Editora, 2009, p. 17-42.
15 Para esta subclassificação dos estabelecimentos: PERON, Waine Domingos. Estabelecimento empresarial no espaço cibernético. Dissertação (Mestrado em Direito) – FADISP, São Paulo, 2009.
16 Como exemplo de obra que cita esta classificação: BRAGHETTA, Daniela de Andrade. Tributação no comércio eletrônico à luz da teoria comunicacional do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2003; e GATTASS, Giuliana Borges Assumpção. A Tributação no Comércio Eletrónico. RIDB - Revista do Instituto do Direito Brasileiro. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Ano 3, número 1, 2014, p. 133-176.

378 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
• Meroambientecomunicativo,naschamadastransaçõesoff-lineoudi-feridas; ou
• Objetodocomércioe,concomitantemente,meioambientecomunica-tivo (transações on-line ou em tempo real).
É dizer, no caso das transações off-line, tem-se uma relação jurídica (comercial) entre dois sujeitos mediada através da internet e que permite a entrega de uma determinada mercadoria ou serviço em um dado lugar utilizando como canal comunicativo os meios eletrônicos, incluindo as lojas virtuais ou o mero uso de e-mail para formalizar as vendas.
Já na segunda espécie, on-line, tudo ocorre no ambiente virtual, ou seja, tanto a operacionalização da relação entre os sujeitos contratantes como o objeto em si desta relação jurídica são virtuais, ou seja, o meio e o objeto transferido são virtuais.
Obviamente, tanto uma como a outra situação poderiam ser objetos de conflitos em matéria da determinação da sujeição ativa do ICMS, vez que, o desenho da noção de estabelecimento é que seria o elemento que permitiria o uso (analogamente) dos chamados (pelo direito tributário internacional) elementos de conexão17 e ancoragem (pelos autores do comércio eletrônico18), que possuem clara analogia com aquelas formas de atração de competência penal19.
Da mesma forma, superficialmente, tem-se que há uma também clara analogia com o conceito de estabelecimento permanente constante do artigo 5o dos Tratados para evitar a dupla tributação sobre a renda20, como será visto.
17 De maneira sucinta e com pesquisas sobre os clássicos estudos sobre o tema, além de utilizar-se da regra-matriz como fundamento: MOREIRA FILHO, Aristóteles. Critérios de conexão na estrutura da norma tributária. In: Direito tributário internacional aplicado. Vol. I. São Paulo: Quartier Latin, 2003.
18 Entre outros: LORENZETTI, Ricardo Luis. Contratos “eletrônicos”. In: Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 541-594.
19 Para um estudo mais aprofundado sobre o tema: BASSO, Maristela; e POLIDO, Fabrício. Jurisdição e lei aplicável na internet: adjudicando litígios de violação de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social. In: Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 441-490.
20 Apesar de algumas premissas distintas podem ser destacadas, com muitas citações das clássicas concepções deste instituto: TAVOLARO, Agostinho Toffoli. O estabelecimento permanente: instituto próprio do direito tributário internacional. In: Tributação, Justiça e Liberdade. Curitiba: Juruá Editora, Jan/2005, pg. 35; TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 379
Concluindo parcialmente, tem-se que, no caso tributário, menos ainda (em relação àqueles que escrevem sobre direito empresarial) são os autores que tentaram lidar com a matéria de relação entre o comércio eletrônico e a tributação21, lembrando que duas espécies de transações são classicamente estudadas: entre empresas (B2B (business-to-business)); ou entre empresas e consumidores (B2C (business-to-consumer)).
Normalmente, as especulações destes autores gravitam em torno da, entre outros temas, delimitação dos critérios jurídicos para estabelecer a solução para o conflito de competência entre ISS e ICMS, como no caso dos softwares (de prateleira ou encomenda)22.
Como tema igualmente importante, mas já superado pelos tribunais supe-riores, especialmente o STF23, tem-se a determinação de tangibilidade ou intan-gibilidade dos bens vendidos pela internet24 e sua tributabilidade pelo ICMS25.
Lembra-se que, neste ponto, ainda não foram estabelecidas as bases para a determinação de qual tributo incidiria sobre os chamados Software as a Service, Infrastructure as a Service e Plataform as a Service, mas não se tratará mais deste interessante assunto por não ser pertinente ao tema do trabalho.26
internacional sobre as rendas de empresas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; e XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 6ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003.
21 Como importantes obras, citam-se: BRAGHETTA, Daniela de Andrade. Tributação no comércio eletrônico à luz da teoria comunicacional do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2003; BARASUOL, Eliana Mara Soares. Incidência do ICMS no comércio eletrônico. In: Jus Navigandi. Teresina: ano 8, n. 64, 1 abr. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/3992>. Acesso em: 29 nov. 2011; e GRECO, Marco Aurélio. Internet e Direito. São Paulo: Dialética, 2000; BIFANO, Elidie Palma. O Negócio Eletrônico e o Sistema Tributário Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2004; SCHOUERI, Luis Eduardo (org.). Internet: o direito na era virtual. Rio de Janeiro: Forense, 2001; e FERRAGUT, Maria Rita (org.) Direito tributário eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2010.
22 A exemplo em: GONÇALVES, Renato Lacerda de Lima. A tributação do software no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
23 Entre outros julgados, são destacados os REs 176.626 e 285.870 e a ADI 1.945.24 A exemplo: CEZAROTI, Guilherme. O ICMS sobre o comércio eletrônico de mercadorias.
In: Teses Tributárias. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 227-253.25 Como exemplo de autor que admite tal tributabilidade integralmente virtual: GRECO,
Marco Aurélio. Estabelecimento Tributário e Sites na Internet. In: Direito e Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes, Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 350.
26 Como interessante texto que lida com os problemas da tributação de serviços eletrônicos no âmbito do IVA: PARRILLI, Davide Maria. European VAT and Electronically Supplied

380 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Contextualmente, não se olvide que estas preocupações sobre tributabilidade ou não dos bens digitais e a cobrança em relação a origem ou destino, especialmente do IVA ou Sales Tax já são discutidas em âmbito internacional27.
Especificamente, lembra-se que existe a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que trata sobre o tema do comércio eletrônico, mas é explícita em determinar sua inaplicabilidade ao IVA, assim como o relatório Commission Expert Group On Taxation Of The Digital Economy de 2014, o qual estabelece a definição de certos conceitos e estruturas que devem ser utilizadas para regular, tributariamente, o comércio virtual, voltando-se especialmente para o IVA e o imposto sobre a renda.
Igualmente, nos EUA, inexiste tributação interestadual (ou na entrada em outro estado) do Sales Tax, mesmo que com intermediação da internet, sendo considerada a venda realizada pela internet como fora do campo de tributação por este, temas estes análogos aos discutidos neste trabalho.
É dizer, o escopo deste texto é estabelecer os contornos jurídicos do conceito de estabelecimento no comércio virtual e seus desdobramentos na sistemática do ICMS sobre as vendas tanto on como off-line, deixando claro que o escopo mais claro do objeto do Protocolo 21/2011 do CONFAZ é relacionado com as vendas off-line.
Este escopo do Protocolo potencialmente surge, pois no caso das vendas on-line e sua correspondente ausência de suporte físico do objeto da transação, tem-se um controle (para fins de tributação) extremamente difícil, dando ensejo a propostas como o chamado bit-tax28.
Aparentemente, estas formas de lidar com o virtual estão vinculadas com uma (quase ultrapassada) noção de localização geográfica de mundo que pressupõe
Services. Disponível em: http://www.itdweb.org/documents/European_VAT_and_Electronically_Supplied_Services_DPTI_010908.pdf Acesso: 15/06/2014.
27 Como exemplo de texto que trata sobre o direito comparado no campo da relação entre tributação e comércio eletrônico: FERREIRA, Ana Amelia Menna Barreto de Castro. Tributação comércio eletrônico. In: Revista de Derecho Informático. Lima: Alfa-Redi, Nº. 045 - Abril 2002.
28 Como autor que trata deste conceito e das demais formas estudadas no âmbito do direito comparado: LOPREATO, Francisco Luiz C. Taxação no comércio eletrônico. Campinas: IE/UNICAMP n. 108, abr. 2002.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 381
uma vinculação com um dado território algo que, efetivamente, faz parte de um paradigma já obsoleto, vinculado não a uma evolução da sociedade pós-moderna.
Talvez a justificativa para esta necessidade de vinculação com o real ou territórios tenha que ver com a coercibilidade do direito, acesso do sistema jurídico à força do sistema político, entretanto, nada mais pode ser feito a este respeito senão estabelecer mecanismos de coordenação mundial, emulando esta coercitividade.
Mais ainda, este problema vincula-se a menor velocidade de (re)programação e adaptação do sistema jurídico em relação à globalização e a virtualização, algo com que o sistema econômico lida de maneira muito mais natural e evoluída.
Sob outro giro, também a internet faz parte da modernidade sob o ponto de vista filosófico, pois o estabelecimento não teria mais um valor intrínseco (como os aviamentos) e passaria a ter um valor ideal, intangível muito mais evidente do que os meros bens corpóreos, em que a representação virtual do estabelecimento passa a ter muito mais valor do que aqueles estabelecimentos corpóreos.
De qualquer maneira, a forma com que o sistema jurídico enfrenta atualmente este problema, vez que a efetiva identificação do estabelecimento acaba sendo um problema mais agudo e de quase impossível solução, é resolvido a partir da criação de ficções ou presunções jurídicas.
Como exemplos do direito tributário, que serão mais bem explorados, esta estratégia de política legislativa foi utilizada no Modelo OCDE e seu estabelecimento permanente e indiretamente utilizado pela legislação do ISS (LC 116) em seus artigos 3o e 4º, como será melhor aprofundado.
Com isto, (re)cria-se, juridicamente, uma forma de atração da competência através da residência da companhia ou de seus servidores, espécie de elemento de conexão para atração da competência tributária.
3. o estabelecimento comercial no direito civil bra-sileiro e sua descorporificação na internet
Antes de estabelecer os elementos caracterizadores de um estabelecimento comercial, tem-se que vários podem ser os indícios de localização da atividade desenvolvida por uma dada empresa.

382 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
É dizer, o registro de uma companhia nos órgãos competentes é fundamento para determinar, tão-somente, o domicílio da mesma, não sendo idêntico ao conceito de estabelecimento, especialmente o comercial, ou, mesmo, de sede, lembrando que o CC, em seu artigo 1.126, caput29, somente determina a nacionalidade das pessoas jurídicas, nunca seu domicílio específico.
Este domicílio possui várias subespécies, como tributário, societário, entre outros, termos que se conectam (reciprocamente), em alguns casos, para determinação desta localidade para a realidade jurídica ou para a vinculação com um dado sistema jurídico ou, mesmo, apenas para comunicações, inclusive em meio eletrônico.
Neste contexto, a RFB criou, com a IN 664/2006, nos termos da nova redação do parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/1972 dada pela Lei 11.196/200530, o chamado domicílio tributário eletrônico, lembrando que esta denominação é imprópria, pois este chamado domicílio seria, tão-somente, um endereço para correspondência.
No mesmo plano, a Receita Federal delimitou interpretação ao artigo 127 do CTN,31 atribuindo definição aos conceitos de domicílio, matriz, filial e
29 Art. 1.126. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração.
30 Art. 23. Far-se-á a intimação: III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei nº
11.196, de 2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei nº 11.196, de 2005) b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei
nº 11.196, de 2005) § 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação
dada pela Lei nº 11.196, de 2005) I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)31 SEÇÃO IV - Domicílio Tributário Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na
forma da legislação aplicável, considera-se como tal: I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida,
o centro habitual de sua atividade; II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede,
ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 383
estabelecimento através da Solução de Consulta nº 27 da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, que elucidou alguns conceitos da Instrução Normativa da Receita nº 1.183, de 2011, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Paralelamente, lembra-se que os artigos 3o, I32 c/c 5o33 da Lei 8.934 e seus espelhos nos artigos 3o, II e 5o, caput do Decreto 1.800/1996 são lacônicos sobre a questão do domicílio empresarial para os fins de registro de empresas, lembrando que o registro e certificações virtuais são realizados nos moldes da MP 2200-2/2001.
Sob outro ângulo, tem-se que, dentro dos componentes indiciários para delimitação de uma conexão com a competência de uma dada parcela do território, o local da formação dos contratos regulado pelos artigos 435 do CC34 c/c o 9o, § 2o da LINDB35 estabelecem, respectivamente, como fundamentais: o local da proposta e da residência do proponente36, sem olvidar as hipóteses nas quais pode ocorrer a eleição de tal local pelos contratantes.
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.
§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
32 Art. 3º Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins serão exercidos, em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem), composto pelos seguintes órgãos:
II - as Juntas Comerciais, como órgãos locais, com funções executora e administradora dos serviços de registro.
33 Art . 5º Haverá uma junta comercial em cada unidade federativa, com sede na capital e jurisdição na área da circunscrição territorial respectiva.
34 Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.35 Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem. § 2o A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que residir o
proponente.36 Lembra-se que, para os fins de aplicação do CDC esta presunção é relativizada, dando
competência territorial para o domicílio do autor da demanda de acordo com o artigo 101, I deste texto legal, que segue:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

384 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Concluindo parcialmente, de qualquer maneira, a definição de estabeleci-mento, de acordo com o artigo 1.142 do CC37, seria um conjunto ordenado de capitais como meio para exercício de uma atividade empresarial, algo que, quando vendido, seria o fundamento conceitual (e econômico) para a expressão fundo de comércio quando vendido.
Mais ainda, lembra-se que o conceito de estabelecimento permite que para cada um deles vários domicílios autônomos, nos termos do artigo 75, parágrafo primeiro do Código Civil38, do que os domicílios tributários podem também ser múltiplos.
Não se olvida que o termo estabelecimento era utilizado no antigo Código Civil e ainda o é no Código Comercial, entretanto, seus contornos jurídicos não eram bem definidos, o que exige uma interpretação dinâmica, da legislação, não olvidando que, também o texto citado do novo código civil também exige tal adaptabilidade interpretativa.
Lembra-se que estabelecimento e pessoa jurídica são termos análogos, mas não coincidentes, vez que uma pessoa jurídica deverá ter, de alguma forma, um estabelecimento como forma de quase corporificação de sua existência comercial, uma sede de negócios organizada, dependência da empresa.
Da mesma forma, não se confunde este termo com ponto comercial, pois este é, apenas, um de seus elementos constituidores, lembrando que este conceito de ponto comercial também é relativizado, como na hospedagem em sites de grande fluxo ou, mesmo, com a ideia de domínio de internet.
37 Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.
38 Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: I - da União, o Distrito Federal; II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e
administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles
será considerado domicílio para os atos nele praticados. § 2o Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da
pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 385
Prosseguindo, para que este conceito seja aplicado ao campo da internet, algumas observações seriam necessárias, partindo da decomposição dos requisitos para ingresso neste conceito e verificar sua aplicabilidade ao campo virtual.
É dizer, cabe determinar se o estabelecimento virtual é um efetivo esta-belecimento comercial39 e a forma jurídica de localizar este conjunto de bens voltado a um fim comum40.
Correlatamente, tem-se uma discussão (e que não será abordada aqui) que trata da determinação da autonomia ou dependência de um estabelecimento virtual em relação a um estabelecimento real41, deixando claro que pode existir, atualmente, uma empresa completamente virtual42.
Aparentemente, os critérios para determinação da existência de um esta-belecimento comercial seriam simples, pois existe um capital e este é organizado com fim empresarial, sendo até desnecessária a analogia de Coelho43 reprodu- zida por Forgioni44 de que a ideia de estabelecimento pressuporia um lugar físico que foi materializado no campo virtual45 e 46.
39 Para uma extensa pesquisa sobre as atuais doutrinas sobre o tema, especialmente através do tema da chamada universalidade constante dos artigos 90 e 1.146 do CC: PERON, Waine Domingos. Estabelecimento empresarial no espaço cibernético. Dissertação (Mestrado em Direito) – FADISP, São Paulo, 2009.
40 Utilizando uma não adotada classificação destes estabelecimentos: BALAN JÚNIOR, Osvaldo. O estabelecimento virtual na sociedade técnica: a necessária busca de segurança jurídica nas transações comerciais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2011.
41 Como autor que critica esta independência: CARVALHO, Osvaldo Santos de. Guerra Fiscal.com In: VIII Congresso nacional de estudos tributários: derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, p. 909-762, 2011.
42 A respeito de tal autonomia, entre outros: PERON, Waine Domingos. Estabelecimento empresarial no espaço cibernético. Dissertação (Mestrado em Direito) – FADISP, São Paulo, 2009.
43 COELHO, Fábio Ulhoa. O estabelecimento virtual e o endereço eletrônico. In: Tribuna do Direito. São Paulo: Editora TD, nov. 1999, p. 32.
44 FORGIONI, Paula. Nome de domínio e título de estabelecimento: nova função para um antigo instituto. In: Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 507-519.
45 No mesmo sentido aqui apresentado, ou seja, que o conceito de estabelecimento prescinde de um aspecto físico: CASTRO, Aldemario Araujo. Os meios eletrônicos e a tributação. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 48, dez. 2000. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1813. Acesso em: 30 nov. 2011.
46 Reiterando a indistinção entre o estabelecimento físico e virtual sob o ponto de vista jurídico: FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Aspectos jurídicos do comércio eletrônico. Porto Alegre: Síntese, 2004.

386 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Quanto a critérios de localização das comunicações entre partes contratantes no campo virtual, lembra-se que a Lei Modelo da UNCITRAL estabelece, em seu artigo 15, § 4o47, critérios para aferição, aparentemente, da sede de uma companhia virtual.
Neste artigo, o elemento de conexão desta sede a uma dada jurisdição estaria ligado, em ordem de preferência: ao local de sua efetiva sede principal; ou, em caso de múltiplas sedes, aquela mais vinculada a transação; ou, em caso de ausência de sede efetiva ou existência de sede móvel, o da residência da empresa, que pode ser considerada como local da constituição desta.
Obviamente, existem autores que tendem, neste ambiente de maximização da virtualidade, estabelecer como critério de conexão, no caso de grande mobilidade da sede da empresa, o local do servidor48, opção esta criticada49 por sua maior ainda dificuldade de aferição, pois vários podem ser os servidores de uma mesma empresa ou que estes pode ser de propriedades de terceiros, a exemplos.
Prosseguindo e finalmente, aparentemente, a determinação dos estabele-cimentos, no caso, tributários, deveria seguir a questão do registro estadual ou municipal, lembrando que para os fins de cadastro das pessoas jurídicas, este é centralizado através da Receita Federal, sem distinção geográfica, deixando claro que estes registros mencionados não dependem daquele referido no artigo 969, parágrafo único do Código Civil50, o qual não deve ser aplicável ao estabelecimento virtual mesmo para fins cíveis.
47 No original em inglês: Article 15. Time and place of dispatch and receipt of data messages (4) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a data message is
deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business. For the purposes of this paragraph:
(a) if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relation- ship to the underlying transaction or, where there is no underlying transaction, the principal place of business;
(b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be made to its habitual residence.
48 TOSI, Emilio. La conclusion di contratti “online”. In: I problem giuridici di internet. Milano: Giuffre, 1999.
49 Entre outros: LORENZETTI, Ricardo Luis. Contratos “eletrônicos”. In: Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 541-594.
50 Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 387
Obviamente, a determinação deste domicílio fiscal para fins de IR (e IPI) afetaria o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e FPE (Fundo de Participação dos Estados), entretanto, esta não é uma preocupação maior da RFB.
Logo, a necessidade de cadastro específico com delimitação territorial con-trolada seria mais fortemente importante para os fins do ISS e ICMS, pelos clássicos conflitos de competência imanentes a estes tributos, como será visto.
4. o estabelecimento para fins tributários: notas in-trodutórias sobre iss, ipi e icms
Como introdução ao ponto, lembra-se que o artigo 127 do CTN51 possui um texto lacônico sobre a matéria e coube a cada um dos tributos em espécie definir o critério jurídico (útil) para determinar um centro de imputação jurídica geograficamente localizado.
Mais ainda, não se pode olvidar que tem-se como fundamental a determinação de que o direito tributário não poderia, por força do artigo 110 do CTN52, criar artificialidades em relação aos chamados conceitos de direito privado.
prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser
averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.51 Domicílio Tributário Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na
forma da legislação aplicável, considera-se como tal: I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida,
o centro habitual de sua atividade; II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede,
ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território
da entidade tributante. § 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo,
considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
52 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

388 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Entretanto, tal assertiva deve ser temperada com o fato que o direito tributário, em muitos casos, cria subclasses de conceitos do direito privado, estabelecendo diferenças pontuais em relação aqueles institutos.
Neste sentido, tem-se como importante o fato que as marcas de identificação de um dado estabelecimento tributário não podem ser distintas daquelas dos estabelecimentos cíveis.
Entretanto, o direito tributário pode criar ficções jurídicas ou, mesmo, critérios mais distintos para sua determinação, desde que o estabelecimento tributário, no caso, permaneça como subclasse do estabelecimento como desenhado no direito privado.
Para tanto, este item será decorrência lógica do anterior para utilizar a defini-ção do conceito de estabelecimento no campo cível, incluindo a disciplina jurídica dos contratos celebrados na internet e o específico local de sua constituição, como elementos que servem como indícios de uma tendência de (re)localização das prestações e determinação do local da constituição destas obrigações.
Tais indícios são mais fundamentais ainda quando se considera a inexistência de uma base física de negócios, especialmente no caso das compras completamente on-line, que possuem uma dificuldade imanente na detecção da efetivação destas operações.
Obviamente, no caso das operações off-line, tais preocupações são reduzidas pelo mero fato que a tangibilidade facilita o estabelecimento de um elemento de conexão com um dado sistema jurídico (parcial, no caso) e sua consequente tributação.
Tendo sido definidos os contornos jurídicos do direito empresarial vinculados à definição (e localização) dos estabelecimentos virtuais, utilizando-se das teorias clássicas da definição deste conceito e os modernos doutrinadores do chamado do direito virtual ou eletrônico, tem-se como necessário estabelecer algumas notas sobre como certos tributos atuam na delimitação do conceito de estabelecimento.
Mais especificamente, o direito tributário tem sido alvo de intensos debates a respeito desta matéria, pelo simples fato que, para determinados tributos, tal aferição do conceito de estabelecimento (e os correlatos conceitos de residência e domicílio) implica consequências efetivas, que seja, a alocação de sujeições ativas e correspondentes receitas tributárias e deveres de fiscalização.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 389
Neste campo de multiplicidade de residências e estabelecimentos, no direito brasileiro, basicamente o IPI, o ISS, o ICMS e o IR tem-se destacado, sendo que este último será objeto de tópico mais profundo e específico, infra.
A menção ao conceito de estabelecimento no IPI é realizada de maneira apenas a determinar os locais onde ocorre o processo de industrialização e que, a partir de sua saída, concretizam a hipótese de incidência deste tributo, conforme o artigo 35, II do RIPI53 (decreto 7.212/2010 que reproduz textos da Lei 4.502/1964).
Esta definição ocorre pela subclassificação, criando o estabelecimento industrial (artigo 8o do RIPI54) e, mais interessantemente, neste texto legal há um uso bastante consistente das ficções jurídicas (enumeradas no artigo 9o) para determinar tal conceito, algo que deveria ser aproveitado tanto pelo ISS como pelo ICMS, como poderá ser intuído.
Mais ainda, este tributo determina um alinhamento entre o local do domicílio e estabelecimento tributários, conforme disposto no artigo 32 do RIPI55, lembrando que seus parágrafos estabelecem ficções jurídicas para estabelecer o domicílio quando houver impossibilidade na determinação do mesmo.
Prosseguindo, de maneira simples, o ISS56 historicamente, assim como o ICMS, possui uma série de problemas em relação ao conflito de competência entre municípios para atração das rendas tributáveis.
53 Art. 35. Fato gerador do imposto é (Lei nº 4.502, de 1964, art. 2º): II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.54 Art. 8º Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no art.
4º, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
55 CAPÍTULO IV - DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO Art. 32. Para os efeitos de cumprimento da obrigação tributária e de determinação da
competência das autoridades administrativas, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Lei no 5.172, de 1966, art. 127, e Lei nº 4.502, de 1964, art. 41):
I - se pessoa jurídica de direito privado, ou firma individual, o lugar do estabelecimento responsável pelo cumprimento da obrigação tributária;
§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos do caput, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do § 1º.
56 Para uma visão mais profunda sobre a visão deste autor sobre a noção de estabelecimento para fins de ISS, especialmente com notas em relação ao conceito de estabelecimento permanente: VITA, Jonathan Barros. O ISS e os tratados internacionais: convergências possíveis. In: ISS pelos conselheiros julgadores. São Paulo: Quartier Latin, 2012. (no prelo)

390 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Esta delimitação (geográfica) da capacidade tributária ativa é dada pelo processo de atração exercido pelos artigos 3o57 e 4o58 da LC 116, sendo a regra a tributação da residência (do local do estabelecimento prestador) em detrimento da fonte (local do estabelecimento do tomador ou da efetiva prestação do serviço).
Neste ponto, frisa-se que há a necessidade de uma maior reflexão por parte da doutrina contemporânea em relação à definição do local da efetiva prestação de serviços e da sua realização (resultado), algo que seria resolvido a partir da construção de ficções e/ou presunções jurídicas com o fim de dirimir este potencial conflito de competência.
Importante mencionar que, aparentemente, no regime tributário anterior (DL 406) e, também no atual da LC 116, a jurisprudência consolidada pelo STJ equipara o local do estabelecimento ao local do resultado59 (e, em alguns casos, incorretamente, da execução do mesmo60) do serviço.
Esta ideia faz com que se (re)crie o estabelecimento prestador do ISS como sendo uma figura próxima ao conceito de estabelecimento permanente (termo que será elucidado no tópico, infra) do que uma forma de (re)produzir os elementos de conexão de fonte ou residência, pois enquanto estes trabalham como aberturas semânticas que (re)compõem o critério espacial da RMIT em detrimento de uma noção de territorialidade, aquele conceito trabalha mais como uma forma de consolidação/formalização, para fins tributários, de uma definição para o con-
57 Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
58 Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
59 Historicamente, várias foram as decisões que estabeleceram que o local do estabelecimento é o local da prestação dos serviços no STJ, vez que existe recusa do STF em analisar a matéria no AI 742877 AgR, como nos REsps 16033, 23371, 41867 e 302330, sendo a consolidação deste entendimento, no campo do DL 406 realizada na solução de divergência no EREsp 130792. Já no campo da LC 116, apesar das mudanças legislativas, tal solução foi reiterada nos EDcl no AgRg no Ag 1019143 e no AgRg no Ag 903224.
60 Como criticado exemplo de decisão judicial que equipara tais conceitos, tem-se no famoso caso das turbinas de aeronaves (Resp 831.124) tal solução.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 391
ceito de estabelecimento prestador de serviços, o que alinharia a jurisprudência a uma interpretação possível do atual texto da LC 116.
Paralelamente, o GATS utiliza-se do conceito presença comercial, forma criada pelo artigo 28, d do GATS61, muito semelhante ao estabelecimento per-manente, o que perfaz uma legal importação desta ideia, lembrando que o GATS e, portanto, aquele instituto, é de 1994, enquanto o estabelecimento permanente remonta a década de 1960.
Finalmente, em relação ao último tributo estudado neste tópico, dentro do sistema federativo brasileiro, em especial em relação à matéria tributária, ocorreram uma série de tomadas e posição política que estabelecem a regra geral de repartição das receitas tributárias (entre origem e destino) quando o ICMS incide sobre operações interestaduais.
Esta regra geral possui algumas exceções, especialmente, o ICMS-importação (art. 155, § 2o, IX, a) e aquela incidente sobre combustíveis e lubrificantes que são tributáveis somente no destino (§ 4o, I) 62, e o ICMS com venda para consumidor localizado em Estado distinto (parágrafo 2o, VII, b) e nas exceções do inciso III do parágrafo 4o do artigo 155 da CF.
De qualquer forma, para determinar o que significam estados de origem e destino de mercadorias, a legislação do ICMS utilizou-se do conceito de operação de circulação de mercadorias como o núcleo de suas especulações, tendo o estabelecimentos como o local de saída para um consumidor final como um de seus elementos principais na definição de circulação.
Interessantemente, a história da definição do conceito de estabelecimento no direito brasileiro para os fins do ICMS surge com a definição do direito comercial
61 Artigo XXVIII - Definições Para fins do Presente Acordo: d) “presença comercial” significa qualquer tipo de estabelecimento comercial ou profissional,
inclusive sob a forma: i) da constituição, aquisição ou manutenção de uma pessoa jurídica; ou ii) da criação ou manutenção de uma sucursal ou escritório de representações no território de
um Membro para o propósito da prestação de um serviço;62 VITA, Jonathan Barros. ICMS na importação de mercadorias e triangulação interna de
operações: uma nova perspectiva pós-DN CAT 3 e Convênio 85 de 2009. In: Revista direito tributário atual, Vol. 23. São Paulo: Dialética, 2009. p. 258-276.

392 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
em seu código de 1850, seguindo-se o Código Civil de 1916, passa-se pelo lacônico artigo 127 do CTN e segue-se com o artigo 11 da LC 87/1996, que cumpre a determinação do artigo 155, § 2o, XII da CF de 198863.
Este artigo 11 é o que preencheria semanticamente este conceito64, deixando claro que a forma legalmente escolhida foi de dar uma definição genérica para este no seu parágrafo 3o65, acompanhando-a de ficções (inciso III e parágrafo 5o66) e presunções jurídicas (inciso I) são utilizadas para determinar situações limítrofes.
Mais ainda, este artigo também circunda este conceito com definições de-notativas de situações em que a determinação deste elemento é importante para atrair a competência tributária de um Estado, perfazendo a função de dirimir conflitos de competência do artigo 146, III da CF.
Não se olvide que este artigo pressupõe, também, uma autonomia entre eles (§ 3o, II), o que implica que há uma tendência a que cada uma unidade de negócios que atenda o requisito de ser um lugar (público ou privado, edificado ou não) no qual sejam exercidas atividades comerciais (permanentes ou não).
Como conclusão parcial, o conceito de estabelecimento para o estes tributos pressupõe, um elemento físico da instalação (IPI), o resultado do serviço (ISS) e uma situação de flutuação de critérios para mercadorias, serviços ou suas importações (ICMS).
63 XII - cabe à lei complementar: d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das
operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;64 Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e
definição do estabelecimento responsável, é:65 § 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público,
edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:
I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; III - considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante
e na captura de pescado; IV - respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular.66 § 5º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do
próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 393
Entretanto, como elemento comum, tem-se a vinculação lógica entre local da prestação/realização efetiva dos serviços e o local do estabelecimento, implicando, especialmente no ISS e ICMS, balizas legais para delimitação das competências tributárias municipais e estaduais, respectivamente.
5. o comércio eletrônico e a vis atractiva do es-tabelecimento virtual no campo da tributação da renda: o exemplo da ocde na definição do concei-to de estabelecimento permanente67
Como introdução ao subtópico, tem-se que, classicamente, o conceito de estabelecimento, aparentemente, não é tão importante para a delimitação do conceito de imputação da renda tributável, vez que este subramo didaticamente autônomo do direito tributário trataria de conceitos como domicílio e residência, matriz e filial.
Entretanto, por conta do aspecto internacional, que a OCDE vem expressando seu interesse neste tema e vem defendendo que o cenário virtual é apto a utilização de uma lógica tributária (principiologicamente) que não difere muito da tradicional68.
Neste sentido, os tratados para evitar a dupla tributação que seguem o Modelo OCDE têm constituído um importante avanço neste campo, determinando que estruturas jurídicas não consideradas como residentes69 podem ser um centro de imputação de rendas, consubstanciado na ficção jurídica chamada de estabelecimento permanente.
67 Para mais sobre este histórico: ANDRADE, Maria Isabel de Toledo. Reforma tributária: como tributar o comércio eletrônico? A pouca experiência internacional. In: Informe-se – BNDES. Brasília: Secretaria para assuntos fiscais – SF, nº 14, maio 2000.
68 Entre outros que entendem a postura da OCDE desta forma: FERREIRA, Ana Amelia Menna Barreto de Castro. Tributação comércio eletrônico. In: Revista de Derecho Informático. Lima: Alfa-Redi, Nº. 045 - Abril 2002; e KRAKOVIAK, Leo; e KRAKOVIAK, Ricardo. Tributação aduaneira e problemas jurídicos decorrentes da informatização do comércio exterior. In: Direito e Internet - Relações Jurídicas na Sociedade Informatizada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 58.
69 Menciona-se, aqui, que, mesmo com o caso Saint Gobain da CJE (Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v Finanzamt Aachen-Innenstadt – Caso C-307/97 da CJE – Corte de Justiça Europeia, julgado em 1999), permanece a interpretação clássica deste artigo que considera que os EP não são residentes.

394 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Sinteticamente definindo, estabelecimento permanente é uma estrutura jurídico-tributária que equivale a um centro de imputação de rendas e foi positivada no artigo 5o dos tratados que seguem o modelo OCDE70 (e também
70 A exemplo, no tratado Brasil-África do Sul: ARTIGO 5 - Estabelecimento Permanente 1. Para os fins da presente Convenção, a expressão “estabelecimento permanente” significa
uma instalação fixa de negócios por meio da qual as atividades de uma empresa são exercidas no todo ou em parte.
2. A expressão “estabelecimento permanente” inclui especialmente: a) uma sede de direção; b) uma filial; c) um escritório; d) uma fábrica; e) uma oficina, e f ) uma mina, um poço de petróleo ou de gás, uma pedreira ou qualquer outro local de
extração de recursos naturais. 3. Um canteiro de obras ou um projeto de construção, montagem ou instalação constituirá
um estabelecimento permanente apenas se existir por mais de seis meses. 4. Não obstante as disposições precedentes do presente Artigo, considerar-se-á que a expressão
“estabelecimento permanente” não inclui: a) a utilização de instalações unicamente para fins de armazenagem, exposição ou entrega de
bens ou mercadorias pertencentes à empresa; b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente
para fins de armazenagem, exposição ou entrega; c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente
para fins de transformação por outra empresa; d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para fins de adquirir bens ou
mercadorias ou obter informações para a empresa; e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para fins de desenvolver, para
a empresa, qualquer outra atividade de caráter preparatório ou auxiliar; e f ) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para fins de qualquer
combinação das atividades mencionadas nas alíneas (a) a (e), desde que a atividade geral da instalação fixa de negócios resultante dessa combinação seja de caráter preparatório ou auxiliar.
5. Não obstante as disposições dos parágrafos 1 e 2, quando uma pessoa - que não seja um agente independente ao qual se aplique o parágrafo 6 - atue por conta de uma empresa e tenha e exerça habitualmente num Estado Contratante poderes para concluir contratos em nome da empresa, considerar-se-á que tal empresa dispõe de um estabelecimento permanente nesse Estado relativamente a qualquer atividade que essa pessoa desenvolva para a empresa, a menos que tais atividades se limitem às mencionadas no parágrafo 4, as quais, se exercidas por intermédio de uma instalação fixa de negócios, não permitiriam considerar-se essa instalação fixa como um estabelecimento permanente nos termos do referido parágrafo.
6. Não se considerará que uma empresa de um Estado Contratante tenha um estabelecimento permanente no outro Estado pelo simples fato de aí exercer sua atividade por intermédio de um corretor, de um comissário geral ou de qualquer outro agente que goze de um “status” independente, desde que essas pessoas atuem no âmbito normal de suas atividades.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 395
nos que seguem o modelo ONU e EUA), sendo uma figura clássica do direito internacional tributário71.
Mais especificamente, o estabelecimento permanente é uma ficção exclusiva do direito tributário que prescinde da formalização sob o ponto de vista cível e, mesmo, fiscal para sua operatividade.
É dizer, não se trata de uma pessoa jurídica, mas de uma filial, branch, que perfaz uma base fixa de negócios para realização de um determinando conjunto orientado de atividades, agregando todos os elementos positivos e/ou negativos da renda, sendo considerada como pessoa jurídica para este fim determinado.
Como consequência prática, no lugar de ser tributado tão somente através das retenções na fonte (tributação na fonte), tem-se tributação idêntica aquela das pessoas jurídicas, com receitas e despesas contrapostas sendo apenas tributado seu resultado (lucro auferido), como se residente fosse naquele estado.
Tais estabelecimentos são classicamente classificados em: materiais, com presença física; e pessoais, ou seja, sem a necessidade de uma sede juridicamente consolidada e, portanto, registrada civilmente naquele país.
Interessantemente, tais conceitos estão sendo reavaliados por conta das novas formas eletrônicas de prestação de serviços (vide os itens 42.1 a 42.10 dos Comentários ao artigo 5o do Modelo OCDE), pois há uma necessidade de compreensão destas novas formas de atuação transnacional.
Não se olvide, entretanto, que também estes comentários estão sob análise no campo da OCDE, sendo relevante mencionar que ainda estão em fase de consulta pública, mas que não alteram os parágrafos mencionados.
7. O fato de que uma sociedade residente de um Estado Contratante controle ou seja controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante, ou desenvolva sua atividade nesse outro Estado (quer por intermédio de um estabelecimento permanente quer de outro modo), não caracterizará, por si só, qualquer dessas sociedades como um estabelecimento permanente da outra.
71 Apesar de algumas premissas distintas podem ser destacadas, com muitas citações das clássicas concepções deste instituto: TAVOLARO, Agostinho Toffoli. O estabelecimento permanente: instituto próprio do direito tributário internacional. In: Tributação, Justiça e Liberdade. Curitiba: Juruá Editora, Jan/2005, pg. 35; TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; e XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 6ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003.

396 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Entretanto, tais modificações fazem menção ao fato que, com a proposta de alteração do parágrafo 22 dos comentários a este artigo, o termo goods e merchandise não compreenderiam aqueles bens digitais72, posição criticada, mesmo que exista uma advertência ao fato que esta interpretação restritiva seria vinculada apenas aos termos do parágrafo 4o do artigo 5o do Modelo.
Antes de mencionar qual o conteúdo destes itens interpretativos agregados ao Modelo OCDE, lembra-se que, especificamente em relação a eles o Brasil apôs reservas na sua posição em relação aos comentários73, lembrando que tal reserva diz respeito à questão da tributação no estado da fonte e não especificamente a certas considerações trazidas por estes comentários.
Basicamente, após uma pequena introdução (42.1) estes comentários estabelecem que um site não seria em si só um estabelecimento permanente, entretanto, o local dos seus servidores pode ser considerado como tal (42.2), obviamente se estes permaneçam em um lugar um tempo relevante (o tempo mencionado no artigo 5o (42.4) e forem de propriedade da empresa (42.3), excluindo o uso de ISPs (42.10).
72 No original da discussão pública: 22. Subparagraph a) relates only to the case in which an enterprise acquires the use of facilities for storing, displaying or delivering its own goods or merchandise. Subparagraph b) relates to the stock of merchandise itself and provides that the stock, as such, shall not be treated as a permanent establishment if it is maintained for the purpose of storage, display or delivery. Subparagraphs a) and b) apply regardless of whether the storage or delivery takes place before or after the goods or merchandise have been sold provided that the goods or merchandise belong to the enterprise whilst they are at the relevant location (e.g. the subparagraphs would remain applicable if some of the goods that are stored at a location have already been sold but the property title to these goods will only pass to the customer after their delivery). These subparagraphs also cover situations where a facility is used, or a stock of goods or merchandise is maintained, for any combination of storage, display and delivery since facilities used for the delivery of goods will almost always be also used for the storage of these goods, at least for a short period. In the context of these subparagraphs, the words “goods” and “merchandise” refer to tangible property that can be stored, displayed and delivered and would not cover, for example, immovable property and data (although the subparagraphs would cover tangible products that include data such as CDs and DVDs).
73 No original: Positions on the Commentary 23. Brazil does not agree with the interpretation provided in paragraphs 42.1 to 42.10 on
electronic commerce, especially in view of the principle of taxation at the source of payments in its legislation.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 397
Importante mencionar que a aferição do quantum do negócio ser imputável a este servidor somente pode ser analisado caso a caso (42.5), o mesmo devendo ocorrer em relação a determinação de qual espécie de atividade (preparatória ou auxiliar) está sendo desenvolvida (42.7), lembrando que somente se estas atividades forem relevantes (nos dizeres do item 42.9) é que se pode permitir a existência do EP (42.8).
Como nota adicional, lembra-se que o fato de inexistir pessoas no local do servidor afeta esta característica (42.6, que, aparentemente, reflete o julgamento do caso Pipeline Urteil74).
Conclusivamente, tem-se como importante mencionar que todos estes comentários ao Modelo (especialmente o 42.9) tem como fundamento principal o tipo de negócio realizado, se somente preparatório ou parte necessária do comércio, especialmente em suas funções típicas como assinatura ou aceite do contrato, processamento do pagamento (no caso em que a venda é do tipo off-line) e/ou entrega da mercadoria ou serviço (comércio on-line) é que determinam a força de atração ou existência de um estabelecimento virtual, mas fixo em um provedor, autônomo em relação ao estabelecimento real.
Portanto, apesar de algumas diferenças em relação a esta ideia, o elemento fundamental é verificar que ocorreu uma escolha consciente da OCDE que utilizou-se de um critério de conexão para atrair a competência tributária (em relação àquela estabelecimento (permanente)) para o local do servidor que permite o comércio on ou off-line.
6. conclusões
1. O direito tributário, como dito, de acordo com o artigo 110 do CTN apenas permite criar critérios para subclassificar seus institutos, estabelecendo diferenças específicas em relação ao conceito estabelecido pelo direito civil.
2. Estabelecimento é, sinteticamente, o conjunto de capitais voltados para a consecução de um negócio, sendo considerado também como estabelecimento
74 Este caso foi citado por: TAVOLARO, Agostinho Toffoli. O estabelecimento permanente: instituto próprio do direito tributário internacional. In: Tributação, Justiça e Liberdade. Curitiba: Juruá Editora, Jan/2005, pg. 35.

398 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
(autônomo) aquele virtual, tendo como fundamento jurídico atual o artigo 1142 do Código Civil de 2002.
3. Este estabelecimento virtual pode servir como plataforma para o chamado comércio on ou off-line, ou seja, instantâneas ou completamente virtuais ou diferidas ou com parcela virtual (venda em si) e parcela não virtual (entrega física), respectivamente.
4. A determinação deste conceito para o direito tributário é mais importante para o ICMS e ISS, pois determina a competência (e receitas tributárias) destes tributos, mas também é citado fortemente na legislação do IPI e do IR, especialmente no artigo 5o do Modelo OCDE.
5. No campo do ISS, a definição do conceito de estabelecimento está vincula-da ao local da efetiva prestação de serviços, sendo vinculada ao seu resultado, o mesmo operando em relação ao IPI, pois o local da industrialização (incluindo os locais equiparados aos estabelecimentos industriais) determina o estabelecimento responsável por este tributo.
6. Para o IR, o conceito de estabelecimento surge com força na menção ao chamado pelo artigo 5o do Modelo OCDE de estabelecimento permanente, que foi objeto de (re)estudo em seus comentários (42,1 a 42.10), permitindo a regra de atração de bases imponíveis para o local do servidor quando se tratar de comércio on ou off-line em que haja atividade principal que viabilize os atos do comércio.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 399
competência administrativa em matéria ambiental no brasil e o novo regime
instituído pela lei complementar n. 140/2011
Marcelo Buzaglo Dantas1
Resumo
Uma questão de profunda relevância para a efetiva proteção ambiental diz respeito à competência administrativa comum dos entes federados, conforme estipulado no artigo 23, III, IV, VI e VII, da Constituição Federal de 1998, en-volvendo notadamente as atividades de licenciamento e fiscalização. Nesse tema, são significativas as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, sobretudo ao se considerar as questões relativas ao licenciamento de atividades potencialmente po-luidoras, bem como à respectiva fiscalização. Após mais de duas décadas de espera e inúmeras controvérsias ocorridas na prática, foi editada a Lei Complementar n. 140/2011, a qual estabeleceu parâmetros objetivos para o exercício das atribuições administrativas, o que tende a reduzir as frequentes discussões acerca do tema. O presente artigo, apresentado ao Grupo de Trabalho n. 5 (Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Ambiental e Sustentabilidade), tem por objetivo analisar a controvertida questão da competência administrativa em
1 Marcelo Buzaglo Dantas (CPF n. 849.360.029-68). É advogado militante e consultor jurídico na área ambiental. Graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC (1996). Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/PR (2004). Mestre (2007) e Doutor (2012) em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Visiting Scholar do Environmental Law Program da Pace Law School (White Plains/NY), de janeiro a abril de 2012, tendo sido Bolsista do PDSE da CAPES no período. Ex-Presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB/SC (2007 2009 e 2010-2012), membro das Comissões de Direito Ambiental da OAB/RJ e da Comissão Permanente de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB. É, ainda, professor de Direito Ambiental da Escola de Preparação e Aperfeiçoamento do Ministério Público de Santa Catarina - EPAMPSC, assim como de diversos Cursos de Especialização em Direito Ambiental (PUC-SP/, PUC-RJ, UNISINOS, UNIVALI, CESUSC) e Direito Processual Civil (UFJF e CESUSC). Coordena o Curso de Especialização em Direito e Gestão Ambiental do CESUSC. Conselheiro da Fundação Grupo O Boticário de Proteção à Natureza. Endereço: Rua Adolfo Melo, n. 38, sala 1, Centro, CEP 88015-090, Florianópolis/SC - Brasil. Endereço eletrônico: [email protected]. Telefone para contato: (048) 3224-1473.

400 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
matéria ambiental, apresentando um panorama sobre o tema antes e depois da vigência da recente Lei Complementar n. 140/2011, através do método dedutivo, fundado na consulta à doutrina, à legislação e à jurisprudência pátria.
Palavras-chave
Meio ambiente; Direito ambiental; Competência administrativa; Compe-tência administrativa comum.
Abstract
A question of profound importance for effective environmental protection concerns the common administrative powers of the federated entities, as stipulated by the Brazilian Federal Constitution of 1988 in its Article 23, III, IV, VI and VII, specially involving the licensing and inspection activities. In this theme, there are significant doctrinal and jurisprudential controversies, especially when considering the issues concerning the licensing of potentially polluting activities, as well as its supervision. After more than two decades of waiting and many practical controversies, it has been edited the Complementary Law n. 140/2011, which established objective parameters for the exercise of the administrative powers, what tends to reduce the frequent discussions about the subject. The present article, presented to the Working Group n. 5 (Administrative Law, Tax Law, Environmental Law and Sustainability), aims to examine the controversial issue of the administrative power in environmental matters, presenting an overview of the topic before and after the enactment of the recent Supplementary Law n. 140/2011, following a deductive approach, based on the doctrine, legislation and national jurisprudence consultation.
Key words
Environment; Environmental Law; Administrative power; Common adminis-trative power.
1. introdução
A manutenção de um meio ambiente sadio é de todo vital para o desen-volvimento econômico e social da humanidade, cuja sobrevivência e qualidade

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 401
de vida sempre estiveram profundamente interligadas aos recursos naturais, tanto bióticos quanto abióticos.
Como resultado, nota-se uma conscientização crescente por parte da população e Poder Público, tendo o Direito Ambiental no Brasil evoluído em muito nos últimos anos.
Mesmo existindo legislação mais remota (o Código Florestal de 1965, por exemplo), o fato é que o marco regulatório mais relevante do ponto de vista histórico foi a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - LPNMA, a Lei n. 6.938, de 1981. De lá para cá, passaram-se pouco mais de 30 anos. Comparando-se com outros ramos da Ciência Jurídica, pode-se dizer que o Direito Ambiental é uma área extremamente nova.
Como quer que seja, muita coisa aconteceu neste período.
Comece-se pela produção legislativa. De 1981 para cá, foram editados inúmeros diplomas legais em matéria ambiental, sendo a maioria deles de relevância inegável, como as Leis ns. 7.347/85 (Ação Civil Pública), 7.661/88 (Gerenciamento Costeiro), 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 9.433/97 (Recursos Hídricos), 9.605/98 (Crimes Ambientais), 9.795/99 (Educação Ambiental), 9.985/00 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), 11.105/05 (Biossegurança), 11.428/06 (Mata Atlântica) e, mais recentemente, LC n. 140/11 (Competências Ambientais) e 12.651/12 (Novo Código Florestal). Pari passu, regulamentações do Poder Executivo Federal foram expedidas (Decretos ns. 99.274/90, 4.340/02, 5.300/04, 6.514/08, 6.660/08). Isto sem falar nos inúmeros atos normativos de categoria inferior, como é o caso das Resoluções, Instruções Normativas e Portarias. Ainda, dada a competência legislativa concorrente dos Estados-membros (Constituição Federal de 1988 - CF/88, art. 24) e suplementar dos Municípios (art. 30, II, da mesma Carta), também estes têm expedido seus respectivos diplomas normativos na temática ambiental.
Diante deste novo cenário jurídico normativo e da mudança de paradigmas em relação aos direitos tradicionais, a jurisprudência floresceu enormemente, dada a infinidade de demandas que passou a chegar ao Poder Judiciário, muito por conta do relevante papel desempenhado pelo Ministério Público, órgão

402 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
precursor no manejo das ações de responsabilidade civil e criminal em matéria de meio ambiente (Lei n. 6.938/81, art. 14, 1o), aquela posteriormente convertida na ação civil pública ambiental (Lei n. 7.347/85, art. 1o, I).
Face à importância que o tema passou a ter no cenário jurídico do país, a produção bibliográfica igualmente cresceu consideravelmente. Foram publicadas obras de fôlego, tanto as que traçaram um panorama geral sobre o Direito Am-biental Brasileiro quanto monografias específicas sobre determinados assuntos, sendo a maioria de grande qualidade técnica e científica.
À vista de tudo isto, não se pode compreender o Direito Ambiental senão como ramo autônomo e independente da Ciência Jurídica. É o que ocorre, por exemplo, quanto ao Direito Processual Civil, dado que, como há muito se constatou, os institutos processuais clássicos (legitimidade ad causam, interesse processual, ônus da prova, coisa julgada, etc.) são absolutamente incompatíveis com a tutela jurisdicional dos interesses da coletividade, de que o meio ambiente é uma das espécies de maior repercussão. Foi necessário, portanto, operar uma verdadeira revolução na Ciência Jurídica Processual a fim de adequá-la às novas necessidades, decorrentes dos conflitos de massa surgidos na sociedade pós-moderna.
O mesmo se diga do Direito Civil, que teve de redimensionar um de seus institutos mais tradicionais, qual seja, o direito de propriedade, que por influência, entre outros, do Direito Ambiental, passa a ter de se compatibilizar com a nova exigência de que exerça a sua função social (CF/88, art. 5º, XXIII; Novo Código Civil - NCC, art. 1.228, § 1º).
Também a prescrição, típica do Direito Privado clássico, é estudada sob uma ótica inteiramente diferente, visto não alcançar as ações coletivas em matéria ambiental, uma vez que, nesta seara, considera-se que o dano se perpetua, reiniciando-se a cada dia o prazo para a busca da tutela jurisdicional respectiva.
Também o Direito Penal é revisto, para, em oposição ao sistema clássico – em que a pena não passa da figura do criminoso (societas delinquere non potest) – vir a admitir a responsabilização da pessoa jurídica por crimes ambientais, hoje consagrada em sede constitucional (art. 225, § 3º) e legal (Lei n. 9.605/98, art. 3º).
Em relação ao Direito Administrativo, este fenômeno é rigorosamente o mesmo, fazendo-se notar, em especial, no que se refere ao regime jurídico dos atos autorizativos (licenças e autorizações) e na responsabilidade civil do Estado.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 403
Mas é sem sombra de dúvidas no estudo da Constituição de 1988 que o Direito Ambiental se consagra como ramo da Ciência Jurídica autônomo e in-dependente. Não só por ter a referida Carta lhe dedicado um capítulo próprio, mas principalmente pelos reflexos de inúmeras outras disposições constantes de todo o texto constitucional que lhe são afetas.
De fato, ao contrário do que uma interpretação apressada poderia indicar, a questão ambiental na Constituição em vigor não se resume às normas contidas no art. 225, caput e seus parágrafos – apesar da importância e do ineditismo de tais disposições.
Há muitos outros preceitos constitucionais que, embora reflexamente, regu-lam a proteção do meio ambiente em suas diversas formas. É o caso, por exemplo, de algumas garantias individuais e coletivas, previstas no art. 5º, da Lei Maior, como por exemplo, a reparabilidade do dano moral (incisos V e X), a celeridade dos processos judiciais e administrativos (LXXVIII), além de dois dos quatro instrumentos que compõem o chamado microssistema de tutela jurisdicional de interesses difusos, que são o mandado de segurança coletivo (LXX) e a ação popular (LXX). As outras duas modalidades são também previstas na Carta Magna, a saber: a ação de improbidade administrativa (art. 37, §4º) e a ação civil pública (art. 129, III) – esta última, instrumento por excelência de tutela ambiental. Isto sem falar nas ações de controle de constitucionalidade, pelas quais se tem levado aos Tribunais de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal relevantes discussões acerca da constitucionalidade de regras ambientais.
Nesse contexto, uma questão de profunda relevância para a efetiva proteção ambiental diz respeito à competência administrativa (executiva) comum dos entes federados, cuja previsão se encontra consagrada no art. 23, III, IV, VI e VII, da Lei Maior, envolvendo notadamente as atividades de licenciamento e fiscalização.
É talvez aí que residam as maiores controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais em matéria ambiental, sobretudo ao se considerar as questões relativas ao licenciamento de atividades potencialmente causadoras de algum tipo de poluição ou degradação, bem como à respectiva fiscalização.
Felizmente, depois de mais de duas décadas de espera e inúmeras controvérsias ocorridas na prática, sobreveio a Lei Complementar n. 140/11, que, regulamentando o comando contido no parágrafo único do art. 23 da

404 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Carta Magna, estabeleceu parâmetros objetivos para o exercício das respectivas atribuições, o que tende a reduzir as frequentes discussões acerca do tema, que permeavam de insegurança as relações sujeitas ao uso de recursos naturais e o próprio cotidiano dos órgãos relacionados.
Dito isso, o presente estudo tem por objetivo analisar a questão da compe-tência administrativa em matéria ambiental, apresentando um panorama sobre o tema antes e depois da vigência da recente Lei Complementar n. 140/11, através do método dedutivo, fundado na consulta à doutrina, à legislação e à jurisprudência pátria.
2. hipóteses de competência privativa dos entes fe-derados
A competência para o exercício do poder de polícia ambiental vem regulada nos arts. 21 e 23 da Constituição Federal de 1988.
O primeiro deles estabelece a competência privativa da União para os seguin-tes temas, com repercussão na esfera da proteção ao meio ambiente: explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão (XII), serviços e instalações de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água (b), a navegação aeroportuária (c), serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros (d), os portos marítimos, fluviais e lacustres (f ); planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações (XVIII); instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso (XIX); instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos (XX); executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (XXII); explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos determinados princípios e condições (XXIII).
Nesse norte, lembra Vladimir Passos de Freitas (2005, p. 71) que:
Fora do art. 21 também se encontra atividade de competência da União. Cuida-se da pesquisa e lavra de recursos minerais

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 405
e aproveitamento de energia hidráulica, objeto do art. 176 da Lei Magna. Os recursos minerais pertencem à União, e não ao proprietário do solo, cabendo, portanto, à administração federal autorizar a sua exploração. A fiscalização dos demais atos de administração, da mesma maneira, constitui atribuição do Governo Central. Nunca é demais lembrar a necessidade de rígido controle nessa área, pois a lavra sem as cautelas necessárias constitui uma das mais graves causas de poluição dos rios. Também a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo, atividades com alto risco de poluição, são do interesse e da competência material da União, nos termos do art. 177 da Constituição Federal.
Nessas hipóteses, portanto, não há qualquer espaço para que os demais entes federados legislem, sendo que qualquer iniciativa que contrarie esta máxima estará eivada de inconstitucionalidade.
3. a competência comum em matéria ambiental
O art. 23 determina ser comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a competência para: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens na-turais notáveis e os sítios arqueológicos (III); impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (IV); proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (VI) e preservar as florestas, a fauna e a flora (VII).
Em matéria de proteção ao meio ambiente, a questão se refere, quase que exclusivamente, à competência dos entes federados para o licenciamento e a fiscalização. O tema, na prática, historicamente gerou profundas controvérsias.
No tema, assinala Vladimir Passos de Freitas (2005, p. 79) que:
A prática vem revelando extrema dificuldade em separar a competência dos entes políticos nos casos concretos. Há – é inegável – disputa de poder entre órgãos ambientais, fazendo com que, normalmente, mais de um atribua a si mesmo competência legislativa e material. Há, também, uma controvérsia histórica que jamais desaparecerá: o poder local está mais próximo dos fatos, porém é influenciado e envolvido nos seus próprios interesses.

406 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Óbvio que cada um apresenta suas vantagens e desvantagens. Há, finalmente, a dificuldade pura e simples de um sistema complexo repartido entre pessoas políticas diversas, no qual os conceitos são genéricos e passíveis de outras tantas interpretações (por exemplo, a atribuição comum a todos de proteção ao meio ambiente, Constituição Federal, art. 23, VI).
Outrossim, em pontual crítica, destaca Hamilton Alonso Jr. (2006, p. 48) que “a experiência mostra que todos querem licenciar determinados empreendimentos. Outros, ninguém se habilita. Politicamente, por vezes, uma atividade é interessante. Outras representam um ônus sem retorno”.
A principal dúvida que sempre norteou as interpretações havidas em relação à matéria diz com o alcance da expressão “competência comum”, a que alude o dispositivo constitucional em apreço.
De fato, duas correntes interpretativas se firmaram no trato do tema. A primeira dizia que, por ser a competência comum, todos os entes federados poderiam, indistintamente, exercer o poder de polícia ambiental, fosse para proceder ao licenciamento de atividades potencialmente causadoras de poluição ou degradação do meio ambiente, fosse para impor penalidades administrativas decorrentes da inobservância das normas correspondentes. A expressão “comum”, assim, teria um alcance ilimitado, sem qualquer parâmetro que tivesse correlação alguma com a esfera de atribuição do respectivo ente federativo.
Ao comentar o tema antes do advento da LC n. 140/11, Édis Milaré (2011, p. 525) afirmava que, “dado que o licenciamento integra o âmbito da competência de execução, os três níveis de poder estão habilitados a implementar o procedimento licenciatório de obras ou atividades impactantes”. E arrematava: “Assim, nada impede venha o licenciamento a ser efetivado, cumulativamente, pelos três níveis de governo, o que, na prática, pode ensejar um indesejado licenciamento múltiplo”.
Para outra corrente, contudo, o exercício da competência comum em matéria ambiental deveria se submeter a determinadas diretrizes, que seguem os padrões da legislação em geral, sendo que tanto o licenciamento quanto a fiscalização haveriam de ser exercidos por apenas um dos entes federados, tendo como fundamento o raio de influência do impacto ambiental da atividade. Assim, ao

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 407
IBAMA competiria o exercício do poder de polícia sobre empreendimentos, obras e atividades de impacto nacional; aos órgãos estaduais, os de impacto regional e, aos entes municípios, os de impacto meramente local.
Sob esse prisma, poderia se chegar mesmo a sustentar que a lei complementar exigida pelo parágrafo único do art. 23 da CF/88 seria desnecessária, pois o objetivo de todos os entes federados seria o mesmo: a cooperação no exercício da competência administrativo-ambiental, de modo que o critério para a definição da competência já estaria previamente definido.
Contudo, a experiência prática revelou o contrário: que a lei complementar era absolutamente indispensável, tendo em vista os inúmeros conflitos de competência entre os diferentes órgãos integrantes do SISNAMA em matéria de licenciamento e fiscalização.
Tanto é assim que Paulo Affonso Leme Machado (2011, p. 296) fundava sua posição acerca da competência comum justamente no fato de não haver sido editada a referida norma, afirmando que, “enquanto não se elaborar essa lei complementar estabelecendo normas para cooperação entre essas pessoas jurídicas, é válido sustentar que todas elas, ao mesmo tempo, têm competência e interesse de intervir nos licenciamentos ambientais”.
Percebe-se que, sem a edição da norma, havia uma certa fragilidade na defesa desta última tese (licenciamento único, com competência definida pelo raio de influência do impacto ambiental), notadamente porque, vez por outra, ao se questionar determinado licenciamento estadual, por exemplo, aventava-se o argumento de que a competência comum exigiria que os demais entes (IBAMA e órgão municipal – às vezes mais de um) também expedissem suas licenças, o que gerava intensa insegurança jurídica no trato da matéria.
Nesse norte, autores renomados chegavam a sustentar o cabimento do triplo licenciamento, como é o caso de Édis Milaré (2011, p. 526), que, malgrado afirmasse que “o critério para a definição do órgão habilitado para o licenciamento é determinado pela Área de Influência Direta (AID) do impacto ambiental que pode ser gerado nas etapas de planejamento, instalação e operação de determinado empreendimento ou atividade”, entendia que o critério legal para a definição do órgão competente para conduzir o licenciamento ambiental “decorre do

408 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
alcance dos impactos ambientais, ou, com mais precisão, da abrangência da área de influência direta do empreendimento, o qual pode ser exigido, cumulativa-mente, por todos os entes federados”.
Evidentemente, se fosse seguido o entendimento em tela, todas as vezes em que o impacto fosse regional ou nacional haveria necessidade de todos os entes licenciarem, o que, além de contraproducente, não obedecia à lógica que a Constituição pretendeu imprimir à competência comum.
De fato, quisesse o legislador constituinte que a competência fosse indistinta, não teria ele previsto, no parágrafo único do artigo que trata do tema, que leis complementares disciplinariam mais detidamente o assunto, de modo a se atingir a cooperação visando ao desenvolvimento nacional.
Não obstante, a tese foi acolhida em diversas situações, gerando a suspensão dos efeitos de licenças ambientais expedidas por um único órgão, por se entender que o licenciamento deveria ser múltiplo, interpretação que nunca nos pareceu fosse a correta.
Um possível argumento para contrapor o entendimento em questão baseava-se no disposto no art. 10 da Lei n. 6.938/81, em sua redação original. Segundo ele, a competência para o licenciamento ambiental, em regra, era do órgão estadual competente e do IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis (caput). Já o § 4º do aludido dispositivo estabelecia competir ao IBAMA o licenciamento de empreendimentos, obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental de âmbito regional ou nacional. Aos órgãos ambientais dos Municípios, por sua vez, caberia o licenciamento de atividades de impacto local, estando esta atividade inserida no âmbito das “outras licenças exigíveis”.
Apesar de algumas controvérsias decorrentes, por exemplo, da ausência de definição quanto ao alcance do caráter de atuação supletiva do IBAMA – que levava alguns a sustentar que se trataria de uma atividade substitutiva da do órgão estadual – e da negativa, por outros, de que a norma do art. 10 atribuiria competência licenciatória aos municípios, o fato é que ao menos se tinha um parâmetro orientador dos órgãos do SISNAMA para fins de licenciamento ambiental.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 409
O mesmo se diga em relação à fiscalização, que, segundo o § 3º do mesmo art. 10, deveria ser exercida, prioritariamente, pelo órgão estadual e, em caráter supletivo (novamente a expressão, reforçada ainda no art. 11, § 1º!), pelo IBAMA. Uma vez mais, apesar das controvérsias, tinha-se um critério norteador da atividade e não se resumia a questão a uma possível atuação indistinta de todos, com base em uma interpretação exageradamente aberta do disposto no art. 23 da CF/88.
O problema é que a Lei n. 6.938/81 é uma lei ordinária, enquanto exigiu a Constituição que a matéria fosse tratada por lei complementar. Chegou-se a sustentar que a norma teria sido recepcionada pela CF/88 como lei complementar, a exemplo do que se deu com o Código Tributário Nacional, mas o argumento, ao que se tem notícia, jamais chegou a ser acolhido de maneira explícita pelo Poder Judiciário. Não obstante, inúmeras decisões foram proferidas com base no art. 10 da Lei n. 6.938/81, o que leva a crer que a norma sempre foi reconhecida como constitucional.
Visando a tentar estabelecer uma maior segurança jurídica no trato da ma-téria, o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução n. 273/99, que, entre outras disposições, pretendeu estabelecer parâmetros concretos no que tange à competência para o licenciamento ambiental.
Dentre os inúmeros considerandos que antecedem o texto normativo, destaque se dê para o da “necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacio-nal do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências”, objetivo visado pelo órgão ao buscar disciplinar a competência para o licencia-mento ambiental de empreendimentos, obras e atividades.
O critério adotado, salvo algumas exceções, não inovou na ordem jurídica vigente, mas, ao contrário, seguiu a linha tradicional, qual seja, a do raio de influência dos potenciais danos. Assim, aos órgãos municipais competiria o licenciamento de atividades de impacto local (art. 6º); ao órgão estadual, aquelas de impacto que ultrapassem as fronteiras de um município (art. 5º) e, ao IBAMA, as atividades de impacto nacional ou que ultrapassem dois ou mais Estados (art. 4º).

410 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
E, de modo emblemático, estabeleceu, no art. 7º, uma regra propiciadora de grande segurança jurídica, qual seja, a de que “os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência”.
Entretanto, apesar dos grandes méritos visualizados no conteúdo da Resolu-ção CONAMA n. 237/97, no particular ela sofreu profundas críticas da doutrina especializada.
Sob esse prisma, ressalta Paulo de Bessa Antunes (2012, p. 191) que:
As grandes dificuldades existentes no processo de licenciamento ambiental, decorrentes, em grande parte, de uma incompreensão da Lei nº 6.938/81, acarretaram que, muitas vezes, fossem exigidas dos empreendedores diferentes licenças ambientais. Tal situação, evidentemente, não poderia prosseguir, em razão dos seus ele-vados custos e de sua irracionalidade latente. O CONAMA, acer-tadamente, tentou enfrentar a questão. Infelizmente, a solução dada ao problema não foi a mais acertada, como se verá.
Em outras passagens de sua obra, o autor afirma que o CONAMA, no caso, agiu sem a necessária base legal. Um dos argumentos – este, aliás, de difícil contraposição – residia no fato de se tratar de norma hierarquicamente muito inferior àquela exigida pela Constituição para a disciplina da matéria (ANTUNES, 2012).
Mas não só. Havia quem questionasse a constitucionalidade justamente do art. 7º da resolução, por entender que ele “fecha as portas para o exercício do poder de polícia em mais de um nível político” (RODRIGUES, 2005, p. 154). E continua o autor:
O fato de se ter uma obra que cause impacto regional (mais de um Estado) pode significar que competirá à União exigir um EIA/RIMA; mas não poderia a resolução impedir que o Estado ou um dos Municípios ali localizados exijam, dentro de suas particularidades, um licenciamento ambiental e, portanto, uma licença municipal, ou se for o caso também estadual (RODRIGUES, 2005, p. 150).
Apesar disso, não foram poucas as decisões judiciais proferidas levando em conta o texto da referida resolução, o que permite concluir que, apesar da pecha de inconstitucional, por diversas vezes ela serviu para a finalidade a que se propunha.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 411
No que tange à fiscalização, sempre se entendeu que a competência comum permitiria que os órgãos ambientais de qualquer ente da federação pudessem exercer o seu poder de polícia com vistas a coibir uma determinada conduta lesiva ao meio ambiente.
A controvérsia sempre gravitou sobre quem deteria competência para impor penalidades a um empreendimento, obra ou atividade devidamente licenciada – se somente o órgão licenciador ou se este e qualquer outro.
Para o enfrentamento da matéria, contudo, é necessário distinguir duas situações. A primeira envolve o descumprimento das condicionantes da licença. Neste caso, parece pacífico o entendimento de que qualquer órgão ambiental – e não apenas o licenciador, mas também este, evidentemente – teria competência para o exercício do poder de polícia respectivo.
Já a segunda situação consistiria em uma circunstância diversa, em que o empreendedor dotado de licença ambiental está exercendo a atividade nos exatos limites e termos do ato autorizativo. Neste cenário, indaga-se: poderia outro órgão ambiental, entendendo que a licença estaria eivada de vício, impor algum tipo de penalidade administrativa (embargo, interdição, cessação da atividade, etc.)? É aqui que sempre residiu o cerne da polêmica.
Sustentava-se, por exemplo, que a atuação supletiva do IBAMA, a que se referia o art. 11, § 1º, da LPNMA, permitiria que o órgão federal autuasse atividade licenciada por outro órgão do SISNAMA. Isso decorreria também do disposto no art. 10, § 3o, do mesmo diploma legal. Ou, ainda, que a norma do art. 23 da CF/88, ao atribuir competência comum a todos os entes federados, estabeleceria a possibilidade de que uma atividade licenciada por determinado órgão fosse autuada por outro.
Outra corrente, contudo, entendia que só quem possuía competência para a- plicar sanções administrativo-ambientais a obras ou atividades licenciadas em que não haja qualquer extrapolamento dos termos da licença era o órgão que a expediu. Para os adeptos dessa tese, se não possuía competência para o licenciamento, o órgão ambiental também não podia autuar atividade devidamente autorizada por quem a detém, sob pena de invalidade do respectivo ato administrativo, por faltar-lhe um de seus requisitos básicos (competência do agente).

412 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Nesse sentido era a lição de Daniel Roberto Fink, Hamilton Alonso Jr. e Marcelo Dawalibi (2002, p. 102), para os quais, “em regra, o órgão com atribuições para o licenciamento também será competente para fiscalização e aplicação de penalidades administrativas em matéria ambiental”.
Nos mesmos moldes, Vladimir Passos de Freitas (2005, p. 80) assinalava que, “quando a competência for do Estado, por não ser a matéria privativa da União ou do município (residual), a ele cabe a prática dos atos administrativos pertinentes, como fiscalizar ou impor sanções (por exemplo, controle da pesca em rio municipal)”.
De modo ainda mais taxativo, Édis Milaré (2011, p. 533) manifestava-se no sentido de que
nenhum órgão de qualquer ente federativo pode se arvorar em corregedor de seus congêneres, posto que tal não é função sua. Assim, os vícios porventura existentes devem ser sanados pelo próprio órgão do qual emanou. Qualquer interferência de outro órgão significaria atuação contra legem, afrontando o princípio da legalidade que rege toda atividade administrativa.
Aliás, como bem lembrava Paulo Affonso Leme Machado (2011, p. 125), a competência dos Estados para legislar, caso a União já tenha editado norma geral, pressupõe a existência de uma norma que não seja contrária à Constituição Federal. Não é a mesma situação, porém, no que tange à “implementação ad-ministrativa da lei (art. 23 da CF), onde não há hierarquia nas atuações das diferentes Administrações Públicas”. Daí por que, concluía, que
a Administração Pública federal ambiental não está num plano hierárquico superior ao da Administração Pública ambiental estadual, nem esta situa-se em plano superior ao da Administração Pública ambiental municipal (MACHADO, 2011, p. 125).
Deste modo, sempre nos pareceu bastante mais plausível sustentar que, se algum dos órgãos integrantes do SISNAMA entendesse que a licença expedida por outro, no âmbito de competência deste último, estivesse eivada de nulidade, não poderia simplesmente atuar de modo a sustar os efeitos de um ato administrativo a que não deu causa. Faltava-lhe, na espécie, elemento

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 413
inafastável do ato de polícia, como, de resto, de qualquer ato administrativo: a competência do agente.
Isto não quer dizer que o referido órgão não poderia buscar, em juízo, a sua invalidação, assim como a tutela específica da obrigação de fazer ou não-fazer, conforme o caso, através da competente ação civil pública, para a qual sempre dispôs de inequívoca legitimidade (Lei n. 7.347/85, art. 5º, III e IV; Lei n. 8.078/90, art. 82, II e III). De fato, como bem se sabe, os atos administrativos só podem ser anulados pelo próprio órgão que os expediu ou pelo Poder Judiciário, nos exatos termos do que estabelece a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, a enunciar que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Também este parecia ser o entendimento de Paulo Affonso Leme Machado (2011, p. 126) ao comentar sobre o caráter supletivo da competência federal:
De outro lado, a Lei 6.938/81 previu uma suplementação administrativa em sentido inverso do que estamos acostumados: se os Estados não intervierem adequadamente, a União deverá intervir para fazer o que os Estados não fizerem no campo ambiental.
Não se trata de sujeitar os Estados ao poder revisional ou de homologação da União. O controle da aplicação da legislação federal de normas gerais ambientais é diferente do exercício da competência ambiental comum. O controle da implementação das normas gerais ambientais só pode ser feito pela União através de ação judicial, procurando anular o ato administrativo estadual acusado de invasão da competência federal ou descumprimento das normas gerais federais.
Neste mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já havia decidido que, “para que seja admitida a atividade supletiva do IBAMA deve ocorrer a inépcia, ou, em outras palavras, a falta absoluta de aptidão técnica do órgão municipal para o licenciamento” (Apelação n. 2007.72.08.003682-0/SC, Rel. Juiz Federal João Pedro Neto, in DJe 08/09/2009).

414 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça parecia caminhar no sentido oposto a este, consoante se pode inferir do único acórdão sobre a matéria de que se tem notícia antes do advento da LC n. 140/11, no qual se assentou que, em caso de omissão do ente “estadual na fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, pode o IBAMA exercer o seu poder de polícia administrativa, pois não há confundir competência para licenciar com competência para fiscalizar” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 711.405-PR, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe 15/05/2009).
Como se nota, o assunto, seja sob a ótica do licenciamento, seja da fiscalização, sempre suscitou profundas controvérsias.
É esse, a grosso modo, o quadro interpretativo que historicamente se adotou em relação ao tema – antes, é claro, do advento da LC n. 140, de 2011.
De fato, todas as polêmicas acima descritas decorriam, essencialmente, da ausência de edição de uma das leis complementares a que se refere o parágrafo único do art. 23 da CF/88, cujo objetivo, segundo o dispositivo, é o de fixar normas para a cooperação entre os entes federados, tendo em vista “o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Esta norma, publicada após mais de 23 anos de espera, é que se passa a examinar.
4. o regime da lei complementar n. 140 de 2011
Boa parte de toda a discussão travada durante décadas acerca do tema, a qual foi retratada no tópico anterior, ficou superada com o advento da lei complementar em tela, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, além de alterar a Lei n. 6.938/81.
A expectativa, após tantos anos de espera, seria que a norma tivesse sido recebida com entusiasmo pela sociedade e pelos operadores do Direito Ambiental. Isto porque uma simples leitura do seu teor permite verificar que ela pretende

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 415
conferir uma maior segurança jurídica no trato da matéria, sendo inequívocos os benefícios à coletividade e ao meio ambiente gerados pela fixação de regras claras sobre a competência administrativa em matéria ambiental.
Nesse sentido, tem-se que:
É realmente muito importante tentar estabelecer princípios a respeito. Nesse campo, o papel da doutrina, em um primeiro momento, e dos tribunais, depois, revela-se decisivo. A insegurança que se cria com a indefinição a todos prejudica. Ao meio ambiente, porque a sua defesa fica indefinida e fracionada. Ao cidadão, porque não se sabe a quem dirigir-se para a solução de suas pretensões e até mesmo para reivindicar ao Poder Judiciário (federal ou estadual, dependendo do órgão ambiental) (FREITAS, 2005, p. 79).
Ainda, sob outra ótica, são as palavras de Analúcia de Andrade Hartman (2005, p. 50) ao afirmar ser “também forçoso concluir que a ausência de regulamentos claros sobre a competência administrativa é um empecilho para se estabelecer a responsabilidade do ente público em caso de omissão”.
Surpreendentemente, quando ainda se estava em fase anterior à sanção do projeto pela Presidente da República, diversos segmentos se posicionaram radicalmente contra o advento da norma, sob os mais variados e discutíveis ar-gumentos, sendo o mais comum deles o de que os Estados e Municípios passariam a deter competência para o licenciamento ambiental e, como tal, estariam sujeitos a pressões pela liberação das licenças, o que não ocorreria com a União.
Além de se tratar de argumento metajurídico, o fato é que a realidade tem demonstrado que, muito ao contrário do afirmado, lamentavelmente a pressão ocorre em todos os níveis da Federação e a transferência de competência para os órgãos federais de meio ambiente em nada contribui para uma gestão mais adequada dos recursos naturais.
Demais disso, no que se refere à fiscalização, aduziu-se que a edição da norma representaria um enfraquecimento do IBAMA, que perderia competência fiscalizatória para os órgãos licenciadores. O argumento é falacioso, uma vez que, como se verá adiante, a lei complementar, embora tenha privilegiado a atuação do órgão licenciador – no que está absolutamente correta – resguardou a atribuição de todos os órgãos do SISNAMA para o exercício da fiscalização.

416 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A nova regra, inclusive, chegou a ser alvo da ação direta de inconstitucionali-dade n. 4757/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, ainda pendente de apreciação.
Feitas estas considerações, passemos à análise detalhada da Lei Complementar n. 140/11.
Após estabelecer, no seu art. 1o, o objetivo de fixar normas destinadas à co-operação para o exercício da competência comum para a proteção do meio ambiente, nos termos do art. 23 da CF/88, a lei estabelece importantes definições em seu art. 2o, quais sejam, a de licenciamento ambiental e de atuações supletiva e subsidiária2, conceitos que sempre se fizeram necessários para um adequado trato da matéria.
O art. 3o arrola os quatro objetivos fundamentais dos entes federados no exercício da competência executiva comum.
Já o art. 4o indica os instrumentos de cooperação institucional de que se podem valer os órgãos, a saber: a) consórcios (inciso I); b) convênios, acordos de cooperação técnica e similares (II e § 1o); c) Comissões Tripartites Nacionais e Estaduais (III e §§ 2o a 5o); c) fundos públicos e privados (IV); d) delegação de atribuições (V); e) delegação de execução de ações (V).
A delegação mediante convênio para a execução de ações administrativas depende de o órgão delegado estar devidamente capacitado (por técnicos próprios ou em consórcio) e possuir conselho de meio ambiente (art. 5o, caput e parágrafo único).
Depois de estabelecer que as ações de cooperação entre os entes federados deverão ser promovidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3o e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais (art. 6o), a lei passa a elencar a competência de cada um deles.
2 II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar; III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 417
De um modo geral, a simples leitura do disposto nos arts. 7o, 8o e 9o da lei é mais do que suficiente para a plena compreensão do tema.
O destaque fica a cargo da competência para o licenciamento ambiental – tema que, como se viu, sempre trouxe profundas controvérsias e dificuldades práticas decorrentes justamente da ausência de normatização apropriada como determinava a Constituição da República.
Agora, há clareza suficiente para que, se não cessarem, pelo menos diminuam consideravelmente os conflitos de competência entre os órgãos do SISNAMA e as tentativas de transferência de um para outro através de ações judiciais propostas para este fim, que historicamente sempre causaram inúmeros prejuízos ao bom andamento do licenciamento ambiental.
Insta notar que, ao contrário do que dispunha a Resolução CONAMA n. 237/97, o critério adotado pelo legislador de 2011 para estabelecer a competência para o licenciamento ambiental não é mais o do raio de influência do impacto, mas sim o do local da atividade, obra ou empreendimento. É o que se denota da simples leitura do art. 7o, XIV, a a e (União), 8o, XV (Estados e DF) e 9o, XIV, b (Municípios).
A única exceção parece ser o disposto na alínea a deste último dispositivo, que atribui aos Municípios a competência para licenciar atividades que “causem ou possam causar impacto de âmbito local”. Nos demais casos, é o lugar onde são desenvolvidas as atividades o parâmetro que em regra fixa a competência3.
Além disso, também releva notar que a lei estabelece a competência para se autorizar a supressão de vegetação, tendo tocado ao ente licenciador fazê-lo (art. 7o, XV, 8o, XVI e 9o, XV). Aliás, a regra constante do § 2o do art. 13 da lei
3 Assim: “Art. 7o São ações administrativas da União: (...). XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados”.
“Art. 8º São ações administrativas dos Estados: (…). XV- promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs)”.

418 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
expressamente prevê isto. Soluciona-se, assim, outro ponto de tradicional con-trovérsia, decorrente da ausência de regulação no período anterior ao advento da LC n. 140/11.
Interessa notar que o art. 11 da LC n. 140 faz uma ressalva em relação à competência para autorização de manejo e supressão de vegetação de acordo com a espécie (primária ou secundária) e com os estágios de regeneração, bem como quanto à existência de espécimes ameaças de extinção. Evita-se, assim, a existência de conflitos entre as regras constantes desta lei e as que regem determinados biomas, como a Mata Atlântica (Lei n. 11.428/06), por exemplo.
O art. 13, caput, reproduzindo em certa medida o que previa o art. 7o da Resolução CONAMA n. 237/97, dita que “os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo”. Tenta-se, com isso, evitar a sobreposição de atuações entre os diferentes órgãos, com o dispêndio de esforços e dinheiro público.
No mesmo passo, evita-se que discussões acerca da necessidade de duplo ou até mesmo triplo licenciamento – tão comuns no passado recente da prática do licenciamento ambiental no Brasil – sejam levadas ao Judiciário, eternizando-se um debate que não interessa ao meio ambiente ou a quem quer que seja, a não ser aos partidários da insegurança jurídica e do caos.
Buscando sepultar controvérsia histórica existente na prática do licencia-mento ambiental, o art. 15 da LC n. 140/11 deixou claro no que consistem a atuação supletiva e a atuação subsidiária dos órgãos do SISNAMA e que elas se aplicam apenas ao licenciamento e não à fiscalização – que possui um regime jurídico próprio (art. 17).
Assim, espera-se terminem as distorções decorrentes da expressão “caráter supletivo”, que constava tanto do caput do art. 10 (licenciamento) quanto do § 1o do art. 11 (fiscalização), ambos da Lei n. 6.938/81.
Agora, torna-se indubitável que a atuação supletiva refere-se tão somente ao licenciamento e consiste na possibilidade de o órgão de outro ente federado desempenhar as atuações administrativas daquele que seria o competente, na hipótese única de inexistência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente na referida unidade federativa (art. 15, I a III). Certo, portanto,

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 419
que, com o novo sistema de competências ambientais, não existe qualquer outra hipótese legítima de atuação supletiva que não a ora referida.
A lei inova também ao estabelecer no que consiste a chamada atuação sub- sidiária, que, ao contrário do que se poderia pensar, não representa o esta-belecimento de uma hierarquia entre os órgãos, de modo a que um pudesse intervir nas hipóteses de competência do outro, mas sim na definição de um regime de colaboração entre eles. É o que se depreende do disposto no caput do art. 16 da nova lei, segundo o qual “a ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo e financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação”.
Logo, trata-se de uma ação colaborativa, com o quê se cumpre fielmente o espírito do disposto no art. 23, parágrafo único, da LC n. 140/11. De bom alvitre também é a norma constante do parágrafo único do referido art. 16, que prevê que a atuação subsidiária deve ser solicitada pelo detentor da competência originária, evitando-se assim interferências indesejáveis e não pleiteadas.
A fiscalização ambiental de atividades licenciadas ou autorizadas recebeu uma nova disciplina, constante do art. 17 da lei complementar. Em absoluta conformidade com aquilo que sempre consideramos mais adequado juridica-mente, o caput do dispositivo prevê que a competência fiscalizatória deve ser exercida, a priori, pelo órgão licenciador.
De fato, conforme salientamos acima e defendemos em diversos trabalhos, como não há hierarquia entre os órgãos integrantes do SISNAMA, nunca nos pa-receu possível que aquele que não expediu a licença pudesse, moto proprio, autuar um empreendimento ou atividade licenciada por outro, por faltar-lhe competência para tanto – a não ser, reitere-se, nos casos de descumprimento da licença.
Só quem detém atribuição para autuar uma atividade licenciada é o órgão licenciador, cabendo aos demais a invalidação do ato autorizativo através da busca da tutela jurisdicional, mas não mediante uma ação administrativa ilegítima, porque decorrente de falta de competência. A nova lei agora consagra esta tese.
Reconhecendo esta questão, não foi outra a conclusão do Tribunal Regional da 4ª Região em recente aresto da lavra do Desembargador Fernando Quadros:
A edição da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011, onde definidas legalmente a atuação supletiva e subsidiária, por meio

420 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de seu artigo 17, § 3º, acaba por legitimar o exercício do poder de polícia ambiental por qualquer dos entes federativos com atribuição comum de fiscalização, fornecendo solução para eventual sobreposição de autuações, ou seja, a prevalência do auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização (Apelação n. 5002506-23.2012.404.7006, juntado em 16/05/2013).
O novo diploma permite ainda que os demais órgãos, tomando conheci- mento de casos de “iminência ou ocorrência de degradação da qualidade am-biental”, possam adotar medidas para fazer cessá-la ou mitigá-la (§ 2o). Trata-se de medidas administrativas, portanto, cuja adoção independe do recurso ao Judiciário, exigindo a regra que, nestes casos, o órgão licenciador seja imediatamente comunicado para que adote as providências cabíveis.
Apesar disso, não se impede a atuação administrativa dos demais, que inclu-sive é reafirmada no § 3o do dispositivo, quando estatui que a disposição contida no caput (competência fiscalizatória do órgão licenciador) não obsta o exercício do poder de polícia ambiental pelos demais entes federativos. É bem verdade que a parte final deste dispositivo estabelece que, havendo mais de uma autuação, prevalece aquela expedida pelo órgão licenciador ou autorizador, o que, longe de representar um enfraquecimento dos demais, consiste na vedação ao bis in idem no exercício fiscalizatório e dá àquele que tem melhores conhecimentos acerca do empreendimento ou atividade licenciada a prioridade para agir.
Por fim, o disposto no § 1o estabelece o que nem seria necessário, ou seja, que qualquer pessoa legalmente identificada pode dirigir representação ao órgão licenciador para o exercício do seu poder de polícia. Evidentemente, esta regra também se aplica à representação aos demais órgãos integrantes do SISNAMA, os quais, contudo, devem pautar a respectiva atuação pelo disposto nos demais parágrafos, ora comentados.
O art. 18 traz importante regra de direito intertemporal, deixando claro que a nova lei somente se aplica aos processos administrativos iniciados após a sua vigência. Logo, para os feitos anteriores, as novas regras de competência não se aplicam.
Se o processo já se encontrasse em etapa avançada em 8 de dezembro de 2011, não há qualquer dúvida de que o novo regime não incide. No entanto, elas

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 421
poderão surgir na prática em razão da ausência de definição precisa do dies a quo do processo de licenciamento ou autorização.
De fato, ante o silêncio da norma a tal respeito, é bem possível que surjam discussões no tema. É que, segundo o disposto no art. 10, I e II, da Resolução CONAMA n. 237/97, ao que tudo indica o início do processo de licenciamento ambiental se dá com o requerimento de licença acompanhado dos documentos, estudos e projetos pertinentes (inciso II). Antes disso, o que há é apenas a “definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor” de quais são estes elementos necessários ao “início do processo de licenciamento” (inciso I). Logo, o marco inicial é o protocolo do requerimento acompanhado dos estudos ambientais e demais documentos pertinentes.
Contudo, se, por exemplo, uma lei estadual disciplinar o tema de maneira diversa, esta prevalece em relação àquela. Daí entendermos que o legislador perdeu uma boa oportunidade de deixar isso claro desde logo, evitando, assim, discussões acerca da aplicabilidade ou não da lei aos feitos pendentes.
Por fim, com o intuito de deixar harmônica a legislação ambiental em vigor, alterou-se a Lei n. 6.938/81, que anteriormente disciplinava o tema. Deu-se então nova redação ao art. 10, caput, que originariamente atribuía competência para o licenciamento ambiental os órgãos estaduais integrantes do SISNAMA e ao IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, suprimindo-se por completo esta regra; remanesceu apenas a parte que trata da exigência de licença para as atividades potencialmente poluidoras e degradadoras.
Também foram revogados os §§ 2o, 3o e 4o deste mesmo art. 10, assim como o § 1o do art. 11, que igualmente estabeleciam regras de competência para o licenciamento e para a fiscalização. Já o § 1o sofreu nova redação, apenas para se adaptar à nova sistemática, já que a publicação dos pedidos de licenciamento, sua renovação e concessão devem agora ser feitas em jornal oficial da União ou do Estado – e não apenas deste, como outrora.
5. conclusões
Com efeito, as maiores polêmicas envolvendo a questão ambiental no Brasil nas últimas décadas sempre estiveram vinculadas à competência dos órgãos públicos para o licenciamento e a fiscalização.

422 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Havia dúvidas sobre quem deveria licenciar um empreendimento ou ativi-dade que pudesse causar impacto ao meio ambiente, se o IBAMA, o órgão do Estado ou o do Município. Do mesmo modo, era intenso o debate sobre quem poderia fiscalizar uma obra ou atividade licenciada, se somente a entidade que expediu a licença ou qualquer outra.
Tudo isto se devia ao fato de não haver uma legislação específica válida tra-tando sobre o tema, uma vez que a Constituição Federal de 1988 exigiu que a matéria fosse regulada através de lei complementar – cujo quórum de aprovação é mais elevado do que aquele necessário para a votação de uma lei ordinária. Na ausência desta lei, existiam interpretações de todo tipo, chegando-se alguns até a sustentar a necessidade de três licenças para um único empreendimento.
Neste contexto, a expedição de uma licença ambiental pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, por exemplo, não significava, em absoluto, que não se pudesse exigir que o IBAMA e/ou o Município também licenciassem a atividade, o que não raro redundava em esforços e gastos públicos absolutamente desnecessários.
Também isto se dava no tocante à fiscalização, em que o empreendedor ficava a mercê de que outro órgão que não aquele que expediu a licença viesse a questionar os seus termos.
Nesse contexto, imperava a insegurança jurídica e o caos no SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, formado pelos órgãos ambientais da União, Estados e Municípios.
Esta lamentável situação tende a se alterar de maneira significativa com o advento da Lei Complementar n. 140, de dezembro de 2011, que estabelece regras de cooperação entre os entes federados em matéria ambiental.
Trata-se da regulamentação do art. 23, da Constituição de 1988 e que, passadas mais de duas décadas, finalmente veio a traçar um rumo a ser seguido no tormentoso tema do licenciamento e da fiscalização.
De maneira precisa, a nova lei estabelece critérios para o licenciamento de atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente. O parâmetro utilizado, a grosso modo, foi o da localização do empreendimento. Além disso, são definidas as situações que ensejam atuação do IBAMA (art. 7º), dos Estados (art. 8º) e dos Municípios (art. 9º), bem como se prevê as hipóteses de atuação

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 423
supletiva (art. 15) e subsidiária (art. 16) dos órgãos ambientais. E, sepultando de vez qualquer tipo de polêmica a respeito, estabeleceu, em seu art. 13, que “os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo”. Termina-se, assim, com qualquer pretensão de se exigir mais de uma licença.
Em relação à fiscalização, a lei, no art. 17 e em seus parágrafos, adotou critério misto: a prioridade é do órgão licenciador, mas os demais podem atuar se para evitar, fazer cessar ou mitigar a degradação. Havendo mais de uma autuação, contudo, prevalece o auto de infração imposto pelo órgão licenciador, tornando sem efeito a autuação imposta pelo órgão incompetente. Da mesma maneira, a autuação do órgão incompetente também perderá seus efeitos, caso o órgão licenciador, após analisar os motivos que levaram a autuação, conclua por sua invalidade.
Como se vê, a nova lei traçou um norte a ser seguido pelos órgãos integrantes do SISNAMA. A tendência, com a sua aplicação correta, é que se diminuam os casos de conflitos de competência administrativa.
De todo modo, não se pode subestimar aqueles que são partidários do caos e, mesmo diante do novo regime, tentem imaginar hipóteses que possam gerar controvérsias a ser dirimidas pelo órgão licenciador e pelo Judiciário. Por isso, o novo texto merece atenção, para evitar que distorções indesejáveis venham a minimizar os inequívocos avanços que o mesmo representa para a sociedade como um todo.
6. referências
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.
ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
FINK, Daniel Roberto. ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

424 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
HARTMANN, Analúcia de Andrade. Políticas públicas ambientais: a atuação do Ministério Público. In: D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. NERY JUNIOR, Nelson. MEDAUAR, Odete (Coord.). Políticas públicas am-bientais: Estudos em homenagem ao Professor Michel Prieur. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 31-57.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental – Parte Geral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 711.405-PR, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe 15/05/2009.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Apelação n. 2007.72.08.003682-0/SC, Rel. Juiz Federal João Pedro Neto, in DJe 08/09/2009.
______. Apelação n. 5002506-23.2012.404.7006, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 16/05/2013.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 425
decadência do direito da administração pública anular ato administrativo:
uma análise a partir da discussão administrativa e judicial sobre a
declaração de anistia política aos cabos da fab licenciados pela
portaria 1104/gm3/1964
Aline Sueli de Salles Santos1
Resumo
O direito da Administração Pública de anular seus atos sofreu limitações com a edição da Lei 9784/1999, que instituiu o prazo de 5 anos para a decadência deste direito quando se tratar de ato do qual decorram benefícios aos interessados, salvo má-fé. A mesma lei prevê que o prazo decadencial é interrompido com a adoção de medida por autoridade administrativa com vistas a impugnar a validade do ato. O caso da revisão das portarias de anistia política dos cabos da FAB licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964 é caso paradigmático para o tema, com toda a discussão que se desenrolou em âmbito administrativo e judicial. Em especial, a decisão do STJ no MS 18606 é precedente relevante na construção de parâmetros a partir do qual se opera a decadência administrativa do direito de anulação dos atos administrativos.
Palavras-chave
Anistia política; Cabos da FAB; Anulação; Decadência; Ato administrativo.
Resumén
El derecho de la administración pública de anular sus actos sufrió limitaciones con la promulgación de la Ley 9784/1999, que estableció el plazo de 5 años para la caducidad de este derecho en el caso de un acto que traiga beneficios mala fe. La
1 Doutora em Direito pela UnB. Professora de Direito da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

426 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
misma ley establece que el plazo queda interrumpido por la adopción de medidas por la autoridad administrativa, a fin de impugnar la validez del acto. El caso de la revisión de los decretos de amnistía política para los militares de la Força Aerea Brasileira (FAB) destituido por la Portaria 1104/GM3/1964 es paradigmático en el caso, con toda la discusión que tuvo lugar en el marco administrativo y judicial. En particular, la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el precedente Mandado de Segurança (MS) 18606 es relevante para los parámetros de construcción en que se opera la caducidad del derecho administrativo de nulidad de los actos administrativos.
Palabras clave
Amnistía política; Militares de la FAB; Caducidad; Acto administrativo.
1. introdução
A anulação de ato administrativo pela própria Administração Pública é uma decorrência dos princípios da legalidade e da autotutela aplicados à função administrativa.
No contexto do Estado Democrático de Direito, no entanto, esses princípios são sopesados com outros de igual dimensão, como o da segurança jurídica e da boa-fé (e correlatos), e com a edição da Lei de Processo Administrativo (LPA – Lei 9784/1999) o direito da Administração de anular seus próprios atos ganhou uma limitação temporal de 5 anos, a partir de sua edição, sob determinadas condições: do ato decorram benefícios ao(s) interessado(s) e não haja má-fé. Ademais, “qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato” obsta a decadência. (art. 54)
Se o primeiro critério é mais pacífico quanto à sua interpretação, a má-fé já demanda mais atenção e o tipo de medida que seria o suficiente para a interrupção do prazo decadencial é bastante polêmica e pouco estudada.
E é justamente este o ponto central de uma disputa que está em curso no Governo Federal envolvendo a declaração de anistia política (e respectiva reparação econômica) aos cabos da Força Aérea Brasileira (FAB), licenciados durante a ditadura militar em virtude da Portaria 1104/GM3/1964, que foi considerada

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 427
pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (em súmula administrativa) como “ato de exceção, de natureza exclusivamente política.”
A partir desta súmula cerca de 3000 anistias políticas foram concedidas entre os anos de 2002 e 2005, e, desde então, há uma intensa discussão administrativa sobre essas anistias, com forte resistência sobre elas do Ministério da Defesa e também da AGU. Depois uma rodada de anulação de portarias de anistia em 2004, apenas em 2011 foi instituído um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), por meio da Portaria MJ/AGU 134/2011, com o fim de rever 2530 anis-tias e, se pertinente, instaurar os respectivos processos de anulação, cuja decisão deve ser apreciada pelo Ministro da Justiça que edita, ou não, a portaria anulatória da declaração de anistia e os efeitos financeiros a ela vinculados.
Todo este dissenso foi objeto de várias discussões judiciais, em especial no STJ, em razão do foro da autoridade competente, envolvendo questões difíceis sobre o ato administrativo, mas especialmente, envolvendo a decadência do direito da Administração Pública de anular os atos administrativos.
Com a efetivação de anulações e a determinação de cessar o pagamento das reparações econômicas que vinham sendo pagas mensalmente pelo Ministério da Defesa desde a declaração de anistia (muitas há mais de 10 anos), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) depois de várias discussões, passou a adotar, em decisões que, entendemos, configuram-se como precedentes essenciais, o posicionamento pela decadência do direito de anulação aqueles atos de anistia.
Assim, este trabalho apresenta e reflete sobre os parâmetros jurisprudenciais que os tribunais superiores (em especial o STJ) construíram a respeito da decadên-cia do direito da Administração Pública anular atos administrativos. Desenvol- vido pelo método indutivo, parte desse caso concreto e do conjunto de documen- tos e decisões a ele relacionado, para identificar critérios gerais que devem ser aplicados às situações que envolvem a autotutela na anulação de atos adminis-trativos. Para tanto, além de doutrina administrativista, há um uso marcante de fontes primárias, como normas, pareceres e decisões judiciais e administrativas.
À uma breve apresentação do caso concreto que deu origem à polêmica (a anistia política de cabos da FAB licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964), segue-se um também rápido apanhado dos principais atos que marcaram a

428 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
discussão administrativa dentro do Executivo Federal (envolvendo a Comissão da Anistia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e a Advocacia Geral da União – AGU) e o Tribunal de Contas da União. Enquanto o primeiro tópico busca situar o leitor no contexto material da controvérsia, o segundo precisa pontuar aqueles momentos que são relevantes na discussão sobre a decadência do direito da Administração de anular as respectivas portarias de anistia.
Por fim, focalizamos como as decisões judiciais estão tratando do tema, identificando os critérios que estão sendo observados para tratar do decurso do tempo nos termos determinados pelo art. 54 da Lei 9784/1999 e que devem servir de parâmetro para a anulação de atos administrativos por parte da Adminis-tração Pública.
2. o regime de anistiado político e a comissão de anistia da lei 10559/2002
A concessão de anistia política no Brasil ganhou as mídias nos últimos anos, não raramente de uma forma depreciativa, enfocando nos valores das indeniza-ções que são concedidas pela Comissão de Anistia com base no art. 5ª do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 (ADCT/1988) a Lei 10559, de 13 de novembro de 2002.
Poucos conhecem, no entanto, o regime jurídico de anistia política no Brasil e o funcionamento da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que faz o trabalho espinhoso de revelar histórias do Brasil e proporcionar reparação àqueles que foram atingidos por atos de motivação exclusivamente política no período de 1946 a 1988. A reparação às vítimas de regimes de exceção é um dos pilares fundamentais que devem marcar um processo de transição para a democracia, e uma marca do caso brasileiro.2 Foi o caso, no entender da Comissão da Anistia, dos cabos da FAB licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964.
Assim, da apresentação do regime jurídico de anistiado político e da Comissão de Anistia, buscamos refletir sobre a história que envolve a anistia desse grupo de militares.
2 A respeito da Justiça de Transição no Brasil ver: TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição e Estado Constitucional de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 429
2.1. a lei 10559/2002: a nova lei de anistia política
A Lei nº 10559/2002 veio para regulamentar o art. 8º do ADCT, sendo aprovada por unanimidade e vigente sem alterações até os dias de hoje3. Instituiu o Regime de Anistiado Político, alargando em muito o rol de direitos do anistiado e o espectro de situações passíveis de reconhecimento de anistia, além da criação da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
O Regime de Anistiado Político compreende um plexo de direitos além da reintegração (ou readmissão) de servidores e empregados públicos, da contagem de tempo e da aposentadoria excepcional4, já concedidas anteriormente. O art. 1º da Lei 10559/2002 prevê a declaração da condição de anistiado político; reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada; contagem de tempo, para todos os efeitos, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias; conclusão do curso ou registro do respectivo diploma para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior; e reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político.
Dos direitos assegurados neste art. 1º vale ressaltar a própria declaração de anistiado político (inc. I), e a instituição de reparação econômica (inc. II) em prestação única (PU) ou mensal, permanente e continuada (PMPC), que são os direitos envolvidos neste trabalho.
Os que podem ser declarados anistiados políticos a partir de então são aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, se enquadram em uma das 17 situações previstas no art. 2º da Lei 10559/2002
3 Tramita hoje no Congresso Nacional proposta de alteração da Lei 10559/2002, o PLS 517/2007, de autoria do sen. Expedito Junior, “para tratar sobre o cálculo do valor dos danos morais e materiais devidos ao anistiado político e determinar forma de fiscalização das decisões da Comissão de Anistia.”
4 A aposentadoria excepcional para anistiado político era prevista no art. 150 da Lei 8213/1991, devendo continuar a serem pagas até serem substituídas por prestação mensal, permanente e continuada - PMPC pela Comissão de Anistia (Lei 10559/2002, art. 19).

430 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
por motivação exclusivamente política, ou no art. 8º do ADCT5. Esta lei tornou possível uma aplicação mais abrangente dos critérios que se colocavam até então para a concessão da anistia política em especial se levamos em conta o inc. I do art. 2º que deixou claro que são anistiados aqueles atingidos por ato de exceção “na plena abrangência do termo”.
Apesar de ser um ato declaratório, que reconhece um direito, ele também pode constituir direitos, de modo acessório, por meio do que está previsto entre os inc. II a V do art. 1º da Lei 10559/2002, em especial as reparações econômicas (PU, PMPC e retroativos) e contagem de tempo.
Sobre o direito de reparação econômica, o Capítulo III da Lei 10559/2002 que trata do tema já inicia denunciando sua natureza indenizatória6. O art. 3º dispõe que estas despesas correrão à conta do Tesouro Nacional (em rubrica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, para os anistiados civis, e no Ministério da Defesa – MD, para os militares – art. 19, p.u.), que sua concessão se dá por portaria do Ministro da Justiça a partir de parecer favorável da Comissão de Anistia, e que a reparação em PU não é cumulável com a PMPC.
Ao se referir à PU, no seu art. 4º, a lei prevê que sua concessão será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral, na razão de trinta salários mínimos por ano (ou fração de ano) de punição, até o teto de R$ 100.000,00.
Mas é entre os art. 5º a 9º onde encontramos a disciplina do direito mais polêmico do Regime de Anistiado Político: a reparação econômica em PMPC. Sua concessão é “assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação única” (art. 5º, caput).
A determinação do valor é complexa e obedece a uma série de critérios e possibilidades trazidos pelo art. 6º da Lei 10559/2002, tendo como critério
5 Em especial: ADCT, art. 8º, § 5º “A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos [...] que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978”
6 A natureza da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada foi objeto de discussão no Tribunal de Contas da União (TCU) que confirmou tratar-se de indenização, sendo, desnecessário, portanto, seu registro por este órgão (TC 017.239/2008-7 – Plenário)

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 431
geral: “O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse”.
Percebe-se com bastante clareza na leitura do artigo que o parâmetro para definir o valor das indenizações em PMPC é essencialmente laboral, garantindo-se ao anistiado todas as promoções da carreira, inclusive direitos e vantagens incorporadas, uma vez que é vedada a exigência de requisitos como cursos e avaliações que lhes foi obstado fazer em virtude da motivação política que levou à quebra do vínculo laboral. As balizas para a tomada de tal decisão podem ser os planos de carreira profissionais; o paradigma entre os pares contemporâneos ao anistiado (considerado como a situação funcional de maior frequência, e não a média entre eles); informações de órgãos e instituições oficiais e privadas; bem como o arbitramento com base em pesquisa de mercado.
É neste mesmo artigo que, entende-se, está previsto o retroativo qüinqüenal calculado sobre o valor da PMPC a contar do primeiro requerimento de anistia, que pode ser ainda de 1979, que vai ser contado, então, a partir de 05 de outubro de 1988 (art. 6º, §6º).7
Em uma leitura sistemática, os direitos sociais de cunho patrimonial garan-tidos aos trabalhadores em geral como 13º salário (gratificação natalina) e 1/3 a mais do salário por férias, são automaticamente calculados e incluídos no valor total do retroativo. Além disso, a lei estabelece outros regramentos e vantagens relativa à PMPC.
Como se vê, na equação para se chegar ao valor de uma PMPC a trajetória política do anistiando não é um componente relevante de acordo com a lei, que não previu nenhuma espécie de “militrômetro” para o cálculo da reparação indenizatória. Ou seja, havendo a quebra do vínculo laboral por motivação exclusivamente política (art. 2º, Lei 10559/2002) ou em virtude de paralisação laboral (art. 8º, §5º, ADCT), deve ser deferida a PMPC no valor que o anistiado receberia “se na ativa estivesse”.
7 O pagamento do montante do retroativo está regulado pela Lei nº 11354/2006.

432 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Como ato administrativo, a portaria de concessão de anistia goza da presunção de legitimidade e de autoexecutoriedade, o que permitiu o uso de mandado de segurança para fins de exigir o pagamento do retroativo8.
Para implementar este Regime de Anistiado Político e centralizar os processos relativos ao tema no âmbito do governo federal foi criada a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça com a finalidade de examinar os requerimentos de anistia política, assessorar o Ministro de Estado da Justiça em suas decisões e centralizar os processos relativos ao tema no governo federal (art. 10, 11 e 12). Até então não havia um único órgão competente para tratar dos pedidos de anistia; as anistias decorrentes das outras normas foram deferidas por órgãos ad hoc, em entes variados do poder público Federal.
Ela é composta por pessoas designadas pelo Ministro da Justiça, sendo assegurado um representante do Ministério da Defesa e outro dos anistiados (art. 12, §1º). Para o cumprimento de suas funções, a lei assegura a seus membros vários poderes, como realizar diligências e ouvir informações (art. 12, § 3º a 5º) que podem ser aptas para a definição mais justa dos pedidos. Até meados de 2013 eram 27 Conselheiros.
Instalada em 28 de agosto de 2001, desde a sua criação até 2011, já foram recebidos mais de 60 mil requerimentos, já tendo sido apreciado cerca de 56 mil e restando ainda 15 mil pedidos e recursos.9 Além dessa função que lhe é própria, desenvolve projetos na área da Justiça de Transição, como as Caravanas da Anistia, a Revista da Anistia, o Marcas da Memória e o Memorial da Anistia Política no Brasil, entre outros.
As deliberações iniciais sobre os requerimentos de anistia ocorrem em sessões públicas de julgamento por turmas de, no mínimo, 3 membros, para discussão
8 Uma vez que o Ministério da Defesa se recusa a efetuar o pagamento dos valores retroativos previstos nas portarias de anistia há uma enormidade de processos judiciais pleiteando seu recebimento, tanto ações ordinárias de cobrança, como mandados de segurança alegando omissão de autoridade ao não cumprir integralmente o disposto nas portarias de anistia. Em maio de 2011 o STF reconheceu repercussão geral para decidir sobre a possibilidade ou não do uso do Mandado de Segurança para recebimento dos retroativos, no RE 553710, de relatoria do Min. Dias Tóffoli.
9 Informações a partir de números aproximados fornecidos pelo então Secretário Executivo da Comissão de Anistia, Muller Borges, por telefone, em 29 de julho de 2011.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 433
e deliberação dos requerimentos de anistia; ou em plenário (com no mínimo 9 membros), para recursos, súmulas administrativas, entre outro, nos temos do seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MJ 1797/2007.
A concessão de anistia decorre de um processo administrativo previsto pela LPA e normas próprias, atualmente a Portaria MJ 2523/2008.
É destes diplomas que se tira a permissão de realizar os procedimentos com informalismo e celeridade, o que torna legítimo a realização de julgamentos em bloco e o uso de votos condutores pela Comissão, na apreciação de processos baseados nos mesmos fundamentos, já que a ditadura muitas vezes punia coletivamente grupos que ela julgava atuar contra o Estado e o Governo brasileiro. Da mesma forma, o uso de súmula administrativa vem garantir os mesmos princípios, como se vê:
É neste o contexto normativo que aparece a questão dos cabos da FAB licen-ciados pela Portaria nº 1104/GM3, de 12 de outubro de 1964, anistiados por por-tarias do Ministro da Justiça após deliberações favoráveis da Comissão de Anistia, na aplicação da Súmula Administrativa 2002.07.0003, como se passa a expor.
3. a comissão de anistia e a anistia política dos cabos da fab licenciados pela portaria 1104/gm3/1964
A concessão de anistia política com base na decisão sobre a Portaria 1104/GM3/1964 ser um ato de exceção, de natureza exclusivamente política, nunca foi admitida pela Aeronáutica ou pelo Ministério da Defesa, que sempre a defendeu como um mero ato de organização do serviço.
Considerando apenas os cabos que ingressaram na FAB antes da Portaria 1104/GM3/1964 (cabos pré-1104, como já explicaremos) e que por isto unicamente foram anistiados, no cômputo final atualizado, segundo cálculos do Ministério da Defesa, “a Força Aérea possui 3.290 anistiados [...] e a mesma Força Aérea (excetuados os casos dos ex-cabos da 1.104) possuiria 744 anistiados” (segundo o Parecer CONJUR-MD 457/2009), o que resulta em uma despesa mensal de aproximadamente 13 milhões de reais e chega a 1,5 bilhão de retroativos, em valores atualizados (pelas contas apresentadas no Parecer 119/CONJUR-MD/2011).

434 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Até por isso, o relacionamento entre as instituições militares e seus anistiados não é tranquilo, segundo denunciam as associações de anistiados militares. Dos pontos de maior tensão destaca-se o não enquadramento dos anistiados no regime jurídico militar10 e a retenção do pagamento de retroativos11.
É desse contexto conflituoso que vai redundar a discussão sobre a anulação das portarias de concessão de anistia para esse grupo de militares e da decadência deste direito
3.1. a história dos cabos da fab e a portaria 1104/gm3/1964
Na década de 1960 ainda havia categorias militares (os praças) que sofriam sérias restrições na sua vida civil em virtude de pertencer às fileiras das Forças Armadas, como o direito ao casamento, além de limitações quanto à liberdade de associação. Foi então que começaram a surgir no Brasil associações de cabos e soldados que tinham por objetivo não apenas proporcionar lazer à categoria, mas incorporava aquelas outras bandeiras além de lutar pelo direito à estabilidade. Algumas associações como a Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira (ACAFAB), no Rio de Janeiro, e a Casa dos Cabos da Aeronáutica de São Paulo, são citadas nominalmente no Boletim Reservado do Ministério da Aeronáutica nº 21, de 11 de maio de 1965, prestando-se a “explorações políticas” e “de caráter tendencioso”. É inegável a participação efetiva da ACAFAB no protesto popular no Sindicato dos Metalúrgicos às vésperas do Golpe Militar de 1964, como se vê no mesmo Boletim.
Assim, com o início do governo autoritário foi aberto um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar atividades subversivas na ACAFAB, por meio da Portaria 1103/GM3, de 8 de outubro de 1964 (imediatamente anterior à portaria que estamos tratando)12. Este mesmo documento expulsava nominalmente cabos
10 Objeto, no STF, da ADPF 158, proposta pelo Conselho Federal da OAB e que tem associações de anistiados militares como amici curiae.
11 Ver nota de rodapé 7.12 Se a anterior tinha viés político, a posterior não era diferente: a Portaria 1105/GM3/1964, que
versava sobre IPM em clube de suboficiais e sargentos da Aeronáutica, o que dá a dimensão do contexto político que ela foi editada.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 435
da diretoria da ACAFAB do IPM ali previsto resultou a determinação de especial cautela e exame cuidadoso do comportamento civil e militar para o engajamento ou reengajamento de centenas de cabos ali listados.
Ainda no ano de 1964 houve a edição de nova Lei do Serviço Militar (Lei nº 4375/1964), e, logo a seguir, a Portaria 1104/GM3, de 12 de outubro de 1964, com as novas “Instruções para as prorrogações do Serviço Militar das Praças da ativa da Força Aérea Brasileira”.
Esta portaria foi elaborada a partir do Ofício Reservado do Estado-Maior do Ministério da Aeronáutica (EMAER) nº 4, de 4 de setembro de 1964, que trazia o resultado do grupo de trabalho constituído em janeiro daquele mesmo ano para estudar e propor alterações nas instruções sobre permanência de praças no serviço ativo. Este Ofício se refere ao “problema dos cabos”, indicando, em seu Anexo, questões administrativas como tal (muitos cabos com muitos anos de serviço) além de outros fatores relacionados, de fundo mais ideológico e político.
1º – Alinharemos, antes de tudo, como fator número um aquele que acreditamos ser a causa fundamental e imponderável do problema: a demagogia. Esta, aliada a interesses excusos, deu causa a que muitos subalternos confiassem na possibilidade de obtenção de Leis que os mandassem promover a sargento, mesmo sem terem condições mínimas para o exercício das funções próprias da graduação. [...]
15º – Vários dos fatores anteriormente relacionados explicam até a recente tentativa de muitos em organizarem-se em Associações de caráter civil, para assim pleitearem, mais ao abrigo de sanções disciplinares, os benefícios legais que almejam, valendo-se, por instinto, de políticos. Nesse caso, ao mesmo tempo em que pleiteiam favores ficam sujeitos à exploração de demagogos ou agitadores que pretendem cavar dissensões nas Forças Armadas, com incitamentos diretos ou indiretos a indisciplinas, para imobilizarem a ação dos chefes militares ou atrasarem-na, enquanto manobram para a posse do Poder.
O resultado desta comunicação foi a rápida aprovação e publicação da Portaria 1104/GM3/1964, que trouxe uma mudança substancial frente à anterior: a impossibilidade de reengajamentos sucessivos de modo a impedir que os cabos alcançassem a estabilidade.

436 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A norma sobre permanência no serviço ativo vigente naquele momento (Portaria 570/GM3/1954) possibilitava (não garantia) reengajamentos suces-sivos aos cabos até que atingissem a estabilidade e o tempo limite para serviço ativo ou condições de transferência para a inatividade, nos limites fixados por graduação, especialidade ou subespecialidade, e mediante o preenchimento de certas condições13. A política de pessoal vigente até então era pela permanência de praças, conforme afirma o estudo descrito no Anexo do Ofício Reservado EMAER 04/1964.
Mas a Portaria 1104/GM3/1964, no entanto, agora já com base na nova Lei de Serviço Militar, limitava a 8 anos o tempo máximo de serviço dos cabos desde seu ingresso na FAB, nos termos do item 4.5., e 5.1. c).
As regras de transição trazidas pela portaria se referiam apenas a 2 grupos, sendo que os únicos cabos que tiveram seus direitos preservados foram aqueles que contavam com mais de 8 anos nas fileiras da FAB.
Foi este o contexto jurídico-político apresentado à Comissão de Anistia logo no início de seus trabalhos, pelos então anistiandos ex-cabos da FAB licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964, organizados em várias associações. A Comissão de Anistia recebeu, então, muitos pedidos de anistia dos cabos e se preparou para apreciar o tema.
3.2. os cabos da fab e a comissão de anistia
A demanda do grupo de cabos da FAB estava represada, pois até a edição da Lei 10559/2002 as leis de anistia anteriores não davam guarida ao seu pleito, já que a Portaria 1104/GM3/1964 nunca foi considerada pela administração militar como um ato de exceção que possibilitasse que seus licenciados recebessem anistia. E como esses pedidos eram analisados por comissões formadas no interior dos próprios órgãos que perseguiram, os cabos não tinham conseguido aprovar seu pleito coletivo até então, fora algumas raras decisões judiciais isoladas.
13 A Portaria 570/GM3/1954 trazia: “2.1. São condições básicas para prorrogação de tempo de serviço, mediante requerimento: 2.1.1 - robustez física, comprovada em inspeção de saúde; 2.1.2 - comprovada capacidade profissional, atestada em conceito emitido pelo Comandante; 2.1.3 - boa conduta militar e civil, avaliada na forma em vigor no Ministério da Aeronáutica; 2.1.4 - ter 25 anos incompletos de idade, em se tratando de engajamento não consequente de conclusão de curso e promoção correspondente.”

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 437
A edição de uma lei que ampliava o regime jurídico de anistia política e criava uma Comissão fora da estrutura administrativa das Forças Armadas, consagrando o direito à declaração de anistiado político aos “atingidos por atos [...] de exceção na plena abrangência do termo” e aos “[...] licenciados [...], ainda que com fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilo- sos” (art. 2º, I e XI, Lei 10559/2002), era a oportunidade que a categoria esperava. O termo “licenciados”, inclusive, teve a Portaria 1104/GM3/1964 como motivação como se lê da justificativa que acrescentou o termo à MP 2151/2001, que também cita a referida portaria em sua exposição de motivos, segundo informa a Comissão de Anistia em seu Parecer Final s/n, de 2011.
Às informações documentais trazidas pelos anistiandos, somou-se a oitiva do Brigadeiro Rui Moreira Lima, heroi brasileiro da II Guerra Mundial e coman- dante da Base Aérea de Santa Cruz (RJ) à época dos fatos, e a incipiente jurisprudência existente no início dos anos 2000. Em seu depoimento ele foi categórico ao afirmar que a “Portaria em questão teve como objetivo principal, produzir uma limpação política nos quadros de praças da Força Aérea Brasileira, visando diretamente os Cabos”, “mascarando a punição que deveria ser imposta através dos Atos Revolucionários de Exceção, em simples punições administra-tivas” (LIMA, 2002) (grifos nossos)
Quanto às decisões judiciais existentes até 2002, de 1ª ou 2ª instância da Justiça Federal, elas se referiam à Portaria 1104/GM3/1964 como um “ato de exceção, de motivação essencialmente política”, ou de “natureza própria de ato de exceção com conotação ou motivação política”, ou de “caráter punitivo”, ou, ainda, “meio dissimulado de punição dos apelantes, revelando, portanto, caráter de exceção.” (retirado de várias decisões colacionadas no Parecer Final s/n, de 2011 da Comissão de Anistia, como a do STF, RE- AgRg 329656).
Diante deste quadro, a Comissão de Anistia, em sessão plenária de 16 de julho de 2002 votou e aprovou por unanimidade a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003-CA, com o seguinte enunciado: “A Portaria n.º 1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, é ato de exceção, de natureza exclusivamente política”.
A partir de então foi elaborado um voto-condutor e a Comissão de Anistia passou a julgar em bloco esses pedidos, tendo como único requisito para a

438 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
concessão da anistia o licenciamento com base na Portaria 1104/GM3/1964. Neste momento não se fazia distinção da data de ingresso do requerente na FAB (se antes ou depois da edição da portaria – “cabos pré-1104” e “cabos pós-1104” para fins deste artigo) e o promovendo à graduação de suboficial, com proventos de 2º Tenente.
Com o preenchimento da vaga do representante do Ministério da Defesa em setembro de 2002, a Comissão passa a promover novos estudos que a levam, a partir de janeiro de 2003, ao seguinte entendimento:
os requisitos necessários para caracterizar o direito daqueles militares à anistia são:
a) que estivessem prestando o serviço militar à Aeronáutica quando da emissão da Portaria nº 1.104/64 (12 de outubro de 1964) [cabos pré-1104];
b) que fossem licenciados na graduação de Cabo;
c) que este licenciamento ocorresse quando completassem 8 (oito) anos de serviço. (OLIVEIRA, 2008)
Em seguida, em setembro de 2003, a Comissão passa a conceder aos anistiados a promoção até a graduação de 2º Sargento, com proventos de 1º Sargento (cerca de 80% das anistias concedidas ao grupo).14
3.3. da anistia à revisão da anistia
É entre também 2002 e 2003 que tem o início os questionamentos por parte do Ministério da Defesa a respeito do teor da Súmula Administrativa 2002.07.0003-CA (a Portaria 1104/GM3/1964 não seria ato de exceção, mas mero ato administrativo, de caráter genérico e abstrato) e o modo de sua aplicação (por meio de voto-condutor e sem análise de toda a situação individual do requerente).
14 A matemática usada para definir as promoções envolvem um estudo mais específico da legislação sobre a carreira militar que não é objeto deste estudo, nem interfere no que se está a trabalhar. Basta destacar que a graduação que eles teriam direito se na ativa estivesse também é uma questão bastante judicializada.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 439
A Nota AGU/JD-10/2003 (antes, Nota Preliminar AGU/JD-03/2003)15 (elaborada a pedido do Ministro da Justiça, por provocação do Ministério da Defesa), aprovada pelo Advogado Geral da União, leva a Comissão de Anistia a proceder, em 2004 e 2005, a uma primeira leva de revisão de anistias concedidas a cabos que ainda não tinham ingressado na FAB na data da edição da Portaria 1104/GM3/196416, os cabos pós-1104.
No início de 2006 ocorre um evento importante no desenrolar do caso: em 7 de fevereiro a AGU emite nova nota (Nota AGU/JD-1/2006, aprovada pelo AGU) a pedido do Ministro da Justiça, provocado por associações de anistiandos e anistiados. Nela afirma-se que a Portaria 1104/GM3/1964 não é ato de exceção e que o critério temporal não é suficiente para por si só ensejar a declaração de anistia, pois esta deve vir de uma análise individualizada e pormenorizada de cada caso.
Por isso faz a seguinte recomendação, entre outras:
6. A revisão das análises implementadas exclusivamente com base na data de ingresso nos quadros da Força Aérea Brasileira, mostra-se adequada e justa a fim de se evitar que decisões administrativas carentes de fundamentação, praticadas com base em análises superficiais, sujeitem a União a questionamentos judiciais e a prejuízos patrimoniais e morais.
Não traz a Nota referência a nenhum processo de anistia em particular, respondendo a uma questão em tese. A partir desta Nota houve uma movimentação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fiscalizar as reparações econômicas
15 Este documento como os demais pode ser acessado digitalizado no “Portal dos Cabos da F.A.B. Atingidos Pela Portaria nº 1.104GM3/64”. Disponível em: <http://www.militarpos64.com.br/sitev2/>. Acesso em 15.06.2015
16 Não havia até então qualquer questão temporal envolvendo a decadência. Foram instaurados 495 processos de anulação de anistia, por meio da Portaria MJ 594/2004 (continuada pela Portaria MJ 1788/2005) “sob o fundamento de que, à época da edição da Portaria nº 1.104/64 do Ministério da Aeronáutica, os abaixo nominados não ostentavam status de cabo. Assim, diversamente do que se dera com os cabos então em serviço, a referida portaria não os atingiu como ato de exceção de natureza política, mas, sim, como mero regulamento administrativo das prorrogações do Serviço Militar, do qual tinham prévio conhecimento.” Os ex-anistiados, cabos pós-1964, conhecidos como “cabos fora da nota”, continuam mobilizados, com processos na justiça e iniciativas no âmbito legislativo. No âmbito judicial destaca-se a ADPF 158, e no Legislativo o PL 7216/2010.

440 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
que vinham sendo concedidas pela Comissão de Anistia (não somente as referentes aos cabos da FAB).
Neste ínterim o assunto continuou a ser objeto de discussão entre os órgãos envolvidos, criando um alto grau de indefinição e instabilidade jurídica no entendimento do tema dentro da Administração Pública Federal.
Até que a Consultoria-Geral da União foi novamente chamada a dar uma interpretação administrativa final “acerca da legalidade da instauração de processos de revisão das anistias concedidas aos cabos da FAB que ingressaram na força em data anterior a edição da Portaria 1104”, que redundou no Parecer 106/2010/DECOR/CGU/AGU (aprovado pelo Consultor-Geral da União), que traz como ementa:
REVISÃO DE ANISTIAS CONCEDIDAS COM BASE NA PORTARIA 1.104-GM3. POSSIBILIDADE. NOTA AGU/JD/1-2006. CAUSA IMPEDITIVA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR. ART. 54, 2.º DA LEI 9.784/99. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER SEUS ATOS ILEGAIS. INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DO ART. 2.º, XIII, DA LEI 9.784/99.
1. Conforme entendimento firmado nesta AGU, corroborado por jurisprudência do STJ, os pareceres produzidos por suas unidades consultivas tem o condão, em regra, de obstar a decadência, nos termos do art. 54, § 2.º, da Lei 9.784/99.
2. O poder-dever da Administração Pública de rever seus atos eivados de vícios aplica-se, em tese, aos atos concessivos de anistia deferida com base na Portaria n.º 1.104-GM3, segundo posicionamento adotado por esta AGU na ADI [sic] n.º 158.
Como se vê, o referido parecer libera o Ministério da Justiça para rever as portarias, todas emitidas até 2005. A partir daí, provocada pelo Ministro da Justiça, a Comissão de Anistia apresentou, um diagnóstico bastante completo tanto dos processos que foram levantados (2532), como do histórico da situação e das controvérsias que ela encerra, por meio do Parecer Final (sem número), de 09 de fevereiro de 2011. Nele a Comissão de Anistia reafirma sua posição quanto ao caráter de exceção da Portaria 1104/GM3/1964, mas se curva às manifestações da AGU, realizando os procedimentos de revisão que lhe cabia e apresentando seus resultados.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 441
A AGU faz então, em pedido de revisão feito pelo MJ, um parecer definitivo, da lavra do Consultor-Geral da União (Nota AGU/CGU/ASMG nº 01/2011, aprovada pelo AGU Substituto), indicando a necessidade de que o Ministro da Justiça constituísse grupo de trabalho para rever as anistias em foco.
Envolto em toda essa discussão jurídica e institucional, com base nesta nota é publicada a Portaria Interministerial MJ/AGU 134, de 15 de fevereiro de 2011, para
instaurar procedimento de revisão das portarias em que foi reconhecida a condição de anistiado político e concedidas as conseqüentes reparações econômicas, em favor das pessoas relacionadas no Anexo desta portaria, consoante os respectivos requerimentos de anistia fundados em afastamentos motivados pela Portaria n.º 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira”.e listados 2530 processos que entraram em procedimento de revisão e estão sujeitos à abertura de processos de anulação das portarias de anistia. (art. 1º)
Para tanto, instaura o GTI de Revisão, que tem previstos 9 membros (4 indicados pela AGU e 5 pelo MJ, incluindo o presidente do GTI) e funciona junto à CONJUR/MJ, com competência para executar todo e qualquer ato decorrente de sua finalidade (ressalvada a competência da AGU para representação e defesa da União em juízo). Determina-se o encaminhamento dos autos físicos pela Comissão de Anistia ao GTI.
Os membros do GTI de Revisão foram designados pela Portaria Interministerial MJ/AGU nº 430, de 7 de abril de 2011, (dentre eles, dois são conselheiros da Comissão de Anistia e um é consultor jurídico do MD), que fixou prazo inicial de 180 dias para a finalização dos trabalhos, renováveis conforme a necessidade.
A revisão por um colegiado ad hoc das portarias de anistia concedidas pela Comissão de Anistia com base no entendimento da Portaria 1104/GM3/1964 como ato de exceção, todas emitidas há mais de 5 anos, gerando efeitos patrimoniais aos anistiados, enseja uma série de questões jurídicas que não são simples e tampouco pacíficas. São estes questionamentos que serão levantados e enfrentados doutrinária e jurisprudencialmente no próximo tópico.

442 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
4. anulação dos atos administrativos de anistia po-lítica
Depois de toda a discussão no interior da Administração envolvendo as anis- tias políticas concedidas com base na Súmula Administrativa nº 2002.07.0003-CA, iniciou-se o processo de revisão e anulação dos atos administrativos respec-tivos pelo GTI de Revisão.
Como essa anulação se procedeu e se fundamentou, bem como as controvérsias que se apresentaram durante o processo é o que vamos ver agora.
4.1. anulação das portarias de anistia
O direito da Administração de rever e anular seus próprios atos parece ser uma prerrogativa indissociável do exercício da função administrativa dentro de um regime de direito administrativo pautado nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da legalidade e da autotutela.
Mas assim, como esses princípios estão em um momento de redefinição de seus conteúdos e papéis17, também o direito da Administração rever seus próprios vem assumindo novos contornos, com a constitucionalização de todo o direito administrativo e a ascensão de princípios como a proporcionalidade e a segurança jurídica.
Alerta-nos, portanto, Raquel Melo Urbano de Carvalho (2006)
Considera-se absolutamente imprescindível que, no presente momento, os Tribunais e os doutrinadores não façam predominar, de modo absoluto, apriorístico e sem considerar as circunstâncias concretas, princípios como o da segurança jurídica como ins-trumentos aptos a afastarem, genericamente e por si só, a observância de outros, como a supremacia do interesse público e o princípio da juridicidade. [...] É tão danoso deformar a concepção
17 De modo breve, os autores discutem as “mutações do Direito Administrativo” (MOREIRA NETO, 2005; 2007) ou “a crise de paradigmas do Direito Administrativo” (BINENBOJM, 2008) indicando a constitucionalização do direito, a centralidade dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico e a emergência de novos princípios, como a proporcionalidade, catalisadores de novas teorias e configurações da Administração Pública.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 443
teórica da supremacia quanto o é afastar a possibilidade de tal princípio servir de fundamento a comportamentos administrativos realizados à luz de uma análise integrada do sistema jurídico.
Nesse sentido, não se pode recusar reconhecer existência à supremacia do interesse público ou à legalidade ao simples argumento de que é também norma principiológica vinculante da Administração a segurança jurídica. Trata-se de elementos integrantes de um sistema cuja validade deve ser assegurada, de modo integrado, como condição de sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proporcionalidade são todos manifestações do Estado Democrático de Direito, tendo o mesmo valor e hierarquia. O prevalecimento de um deles em uma dada situação deve levar em conta a realidade sobre a qual incide e um exame teórico em que sejam contrabalançados os valores jurídicos em questão. Tal atividade jamais pode importar prevalência absoluta, geral e “a priori” de um princípio, nem mesmo negativa genérica dos demais. (CARVALHO, 2006)
Como se sabe, a anulação (ou invalidação) dos atos administrativos recai apenas sobre atos que apresentem algum vício em seus elementos, diferente da revogação18, que é a retirada de ato administrativo perfeito por razões de conveniência e oportunidade da Administração. A anulação pode se dar tanto na órbita administrativa, como judicial; enquanto a revogação deve ser feita pela autoridade administrativa competente para emitir o ato. A revogação, ainda, só é passível de ocorrer em atos cuja diretriz normativa deixe um certo espaço de conformação à Administração, naqueles atos ditos discricionários. Interessante notar que cada vez mais tanto a anulação, como a revogação são atos passíveis de controle judicial em função da alta carga principiológica presente na atuação da Administração Pública e do Direito Administrativo contemporâneo.
A prerrogativa anulatória por meio da autotutela encontra guarita em Súmulas do STF desde a década de 1960:
18 José Cretella Jr. (2006, p. 238) mostra que há a possibilidade do uso do termo revogação como gênero, sendo a revogação e a anulação, espécies. Interessante anotar que isso acontece com relativa frequência na redação das decisões judiciais pesquisadas no que se refere, especialmente, a revisão e anulação das portarias dos Cabos da FAB pós-1964.

444 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. (STF, Súmula nº 346, de 13 de dezembro de 1963)
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (STF, Súmula nº 473, de 03 de dezembro de 1969)
Entre os doutrinadores, entendia-se que era obrigatória a Administração de promover a anulação do ato em qualquer circunstância em nome de restaurar a legalidade, ainda que já reconhecessem a prescrição como modo de assegurar a estabilidade das relações jurídicas e impossibilitar a revisão do ato, quer pela Administração, quer pelo Judiciário (MEIRELLES, 1989, p. 189).19
Mas é com a CB/1988 que as relações entre Administração Pública e cidadãos vão mudar. A Administração Pública passa por uma procedimentalização de suas atividades e um rearranjo institucional para atuar em um estado democrático de direito. Por meio do art. 37 há constitucionalização de toda a organização da Administração Pública e sua adequação aos direitos fundamentais, entre eles várias garantias inerentes tanto ao processo judicial, como administrativo, das quais vale citar o art. 5º, LV, LVI e LXXVIII da CB/1988. Em seguida, a Lei de Processo Administrativo também assegurou alguns princípios no seu art. 2o .
Ao que pese não haver uma disciplina federal a respeito dos tipos de procedimentos administrativos, é pacífico o entendimento que nos processos para anulação de ato administrativo que gera efeitos favoráveis são inafastáveis as garantias ao contraditório e ampla defesa.20
Estas garantias estão explicitamente previstas na Portaria MJ/AGU 134/2011 (“Art. 7º Fica delegado ao Grupo de Trabalho Interministerial a competência
19 A LPA colocar como poder da administração convalidar os atos sanáveis que não acarretem lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros 9art. 55)
20 Como se vê, por exemplo: “O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.” (STF, AI 710.085-AgR)

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 445
para deflagração dos todos os procedimentos contraditórios, a expedição de notificação para apresentação de defesa, análise e pronunciamento de mérito após as manifestações dos interessados [...]”) e procedimentalizado no regimento interno, em associação com a Lei 9784/1999.
Esta lei, em seu art. 50, também exige uma motivação dos atos que “importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. “com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”, “explícita, clara e congruente”. O GTI de Revisão optou por estabelecer a estrutura de votos para a análise das anulações ou ratificações das portarias sob revisão.
A anulação dos atos administrativos retroage à sua edição, desconstituindo, em regra, todos seus efeitos desde aí. A anulação das portarias de concessão de anistia exterminam o fundo do direito, eliminando também os direitos acessórios e de trato sucessivo. No caso presente, são anulados também os direitos de reparação econômica, tanto a PMPC, como o valor retroativo que eventualmente faça direito, bem como a contagem do tempo de serviço por ventura concedida e anotada em entidade previdenciária.
No que se refere ao direito de recurso nos processos sob responsabilidade do GTI de Revisão, não há previsão nem na Portaria MJ/AGU 134/2011, nem no regimento interno, o que faz com que os futuros recorrentes tenham que se socorrer da Lei 9784/1999. Sendo a decisão sobre anistia competência exclusiva do Ministro da Justiça (art. 10, Lei 10559/2002), e sendo o GTI de Revisão um órgão de assessoramento do Ministro para estas questões relativas a um grupo específico, poderia caber, por analogia, a utilização da sistemática recursal prevista pelas normas procedimentais da Comissão de Anistia da Portaria MJ 2523/2008? Não, já que a Comissão de Anistia julga em turmas menores e o recurso fica por conta do Plenário (art. 16 e 18). Já o GTI de Revisão optou por deliberar sobre a anulação por maioria dos seus membros. Ademais, o parecer do GTI é opinativo. Quem tem o poder de decidir e anular as portarias é o Ministro da Justiça.
Assim, o procedimento recursal correto para o caso parece ser um pedido de reconsideração ao GTI, que caso não o acolha, deve encaminhar o recurso ao próprio Ministro da Justiça que tem a palavra final, por ser sua competência exclusiva, não cabendo recurso hierárquico ao Presidente da República.

446 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
4.2. os limites à anulação dos atos administrativos: mudança de interpretação e segurança jurídica
Os questionamentos que levaram a este processo de revisão de 2530 porta- rias de anistia pautam-se pela contestação da posição adotada pela Comissão de Anistia de que a Portaria 1104/GM3/1964 seria ato de exceção e que isto, portanto, seria motivo suficiente para conceder a anistia aos que foram por ela atingidos (cabos pré-1964), independente da análise de outros fatores individuais. Assim, todas as manifestações da AGU e MD indicam a necessidade de verificação de motivação política em cada caso individual, pois rejeitam a premissa da uniformização: a Portaria 1104/GM3/1964 como ato de exceção.
Já foi exposto neste trabalho o contexto jurídico político da edição da Portaria 1104/GM3/1964 que foi apresentado à Comissão de Anistia no início de seus trabalhos, quando começaram a ser julgados os requerimentos dos cabos da FAB. Também já foi dita a posição da jurisprudência à época.
De lá para cá, as decisões judiciais não promoveram nenhum entendimento contrário a isto, com as mais recentes tratando da Portaria 1104/GM3/1964 no que diz respeito aos cabos pós-1964. Afirmam que, para estes, sim, a Portaria 1104/GM3/1964 não é ato de exceção (STF, RMS 25581, RMS 25642).
Ainda no STF, o RMS 25692, inclusive, de relatoria do Min. Cezar Peluso, faz constar em sua ementa: “Anulação. Validez. Servidor público militar. Praça. Cabo da Aeronáutica. Ingresso na Força Aérea já na vigência da Portaria nº 1.104/64. Inexistência de direito subjetivo. Situação diversa dos admitidos anteriormente. Segurança denegada.” (grifos nossos) Da mesma forma, o STF, RMS 25851 AgR, rel. Min. Menezes Direito, onde a decisão monocrática, em 2006 pelo Min. Sepúlveda Pertence, corroborava, inclusive, o caráter excepcional e de motivação política da Portaria 1104/GM3/1964 para aqueles que já eram praças da FAB quando da sua edição.
Para anular as portarias de anistia dos cabos pré-1104, portanto, seria preciso que houvesse um vício na concessão da anistia, tendo a Administração o ônus da prova deste vício. Afinal, a Constituição coroou o princípio da segurança jurídica quando garantiu que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5º, XXXVI) e a Lei 9784/1999 assegurou

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 447
a “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação” (art. 2º, XIII).
Neste caso isso poderia significar ou a Administração fazer prova da não-perseguição política ou não fazer prova da perseguição política. A Administração adotou claramente a segunda perspectiva, o que significa apoiar-se no entendimento que a Portaria 1104/GM3/1964 não pode ser considerada ato de exceção nos termos da Súmula Administrativa 2002.07.0003-CA, podendo o interessado trazer elementos que indiquem que seu licenciamento aconteceu por motivação exclusivamente político.
E a Nota AGU/JD-1/2006 enfrenta esta questão de mérito analisando o porquê da Portaria 1104/GM3/1964 não ser ato de exceção
18. Em primeiro lugar, para considerar a referida Portaria como ato de exceção, seria indispensável demonstrar que ela configura exceção a alguma regra posta, que seja válida para a generalidade dos casos.
19. Ato de exceção é aquele que contraria a regra geral, dando, a alguma pessoa ou grupo de pessoas, tratamento diferenciado em relação à coletividade, sem justificativa.
20. As vítimas ou beneficiários de atos de exceção, embora sujeitos às mesmas regras postas para a coletividade, são submetidos a tratamento diferenciado, contrariando essas regras postas.
21. No caso concreto, haveria de existir regra geral estabelecendo prazo de permanência das praças na Força Aérea Brasileira e as Portarias de licenciamento apontadas como sendo atos de exceção deveriam contrariar essa regra geral, beneficiando ou prejudicando os seus destinatários, em evidente exceção à regra.
22. Em segundo lugar, não basta que os atos sejam de exceção à regra, é preciso que sejam também de natureza exclusivamente política, para dar ensejo à incidência da lei da anistia.
23. Para configurar a natureza exclusivamente política é necessário que os motivos determinantes dos atos praticados em exceção à regra estejam ligados à orientação política de quem os praticou e de quem foi por eles atingido.

448 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Mas apesar de cuidadosa, a Nota, que se atém a determinados requisitos para definir ato de exceção, e não parece aplicar os critérios ao caso concreto. Vejamos: a Portaria 1104/GM3/1964 revogou a Portaria 570/GM3/1954 que permitia que se atingisse a estabilidade, logo aquele grupo específico de cabos teve tratamento diferenciado, prejudicando seus destinatários. Esta portaria tinha um claro rasgo político-ideológico, ainda que seja bastante defensável que não exclusivamente.
Ademais, é possível utilizar-se outro referencial para definir ato de exceção, como este, de Paulo Abrão Pires Jr. (2010):
Portanto, enquanto medida de exceção, medida restritiva de direitos, ou de projeção de expectativas de direitos, ela teria atingido somente aqueles que, quando ingressaram nas Forças, não tinham essa limitação ao seu direito de trabalho. Então, ela se torna ato de exceção na medida em que ela restringe um direito fundamental. E este conceito de ato de exceção é muito importante. Toda e qualquer restrição a direitos fundamentais que tenha ocorrido num ambiente autoritário ou segundo determinações e decisões de organismos ou instituições ilegítimas de Estado se constitui ato de exceção.
A teoria do ato de exceção não é tema deste trabalho, mas com isto se pode defender que uma perspectiva não é melhor que a outra, mas que ambas são razoáveis frente ao conjunto de fatos que envolvem a o licenciamento e a concessão de anistia dos Cabos da FAB pré-1964. Afinal, ao que pese as informações e argumentos do MD e AGU para desqualificar a Portaria 1104/GM3/1964 como ato de exceção, o MJ nunca emitiu um documento que abandonasse seu entendimento de mérito, nem houve manifestação judicial que desqualificasse a natureza política e de exceção da Portaria 1104/GM3/1964 de um modo geral, mas pelo contrário. Questionada a respeito disso, a AGU responde com os mesmos argumentos que se manifestou sobre os cabos pós-1964, e que melhor se aplicam a eles.
Com efeito, a natureza excepcional da Portaria nº 1.104/64. que estabeleceu a impossibilidade de engajamento e reengajamento após 8 (oito) anos de serviço ativo, somente poderia afetar os militares que se encontravam na ativa e que tinham perspectiva de permanência na Força, devido à ruptura com o sistema até então

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 449
vigente de prorrogações do tempo de serviço militar daqueles praças, já que o texto, por si só, não configurava ato de exceção de natureza política. (Parecer 106/2010/DECOR/CGU/AGU)
Neste sentido, parece possível que a edição da Súmula Administrativa 2002.07.0003-CA e os julgamentos para sua aplicação aos cabos pós-1964 eram, e são, decorrentes de uma interpretação jurídica válida. Talvez não a melhor, mas não errada.21 Se for assim, esta nova orientação não vicia o ato emanado com base na interpretação anterior, configurando-se em apenas uma mudança interpretativa que deve ser limitada pelo princípio da segurança jurídica, preservando as portarias de anistia emitidas, reconhecendo-as como ato jurídico perfeito.
5. decadência do direito de anular as portarias de anistia dos cabos pré-1964
A publicação da LPA traz importantes contribuições à limitação do poder de anulação da Administração:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Estes dispositivos são fundamentais para este trabalho, já que todas as porta-rias de anistia em revisão foram emitidas entre 2002 e 2005 e somente dia 28
21 Mesmo com o uso de princípios para ponderar no caso concreto, este estudo respeita mas não comunga das teorias que se baseiam na única resposta correta, decorrente das ideias de Ronald Dworkin e Klaus Gunther.

450 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de julho de 2011 foram publicados os Despachos do Ministro da Justiça que instituíram oficialmente os primeiros 21 processos de invalidação das portarias.
O ato que fundamenta a interrupção da decadência do direito de anular as portarias de concessão de anistia dos cabos da FAB pré-1964, é a Nota AGU/JD-1/2006, de 07 de fevereiro de 2006, aprovada em 16 de fevereiro de 2006, mas a primeira publicação que listou individualmente os anistiados atingidos foi a Portaria MJ/AGU 134/2011, de 15 de fevereiro (1 dia antes dos 5 anos da aprovação da referida nota), mas ela só instituiu o procedimento de revisão, mas não o de anulação, de tal modo que os mandados de segurança (que alegam, entre outros, a ocorrência de decadência) nem são apreciados no mérito, sob o fundamento que a mera instituição do GTI de Revisão não atenta contra direito líquido e certo (como se viu anteriormente)
Desse modo, vale chamar a atenção para 4 pontos que importam para este trabalho: a previsão é de decadência do direito de anular, e não de prescrição; o prazo decadencial inicia a contar do primeiro pagamento; os delineamentos de “qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à prática do ato” que sejam suficientes para interromper a decadência; e a configuração da má-fé no afastamento da decadência.
5.1. prescrição e decadência
Para a estabilização das relações jurídicas pelo decurso de tempo, há, além do instituto da decadência, o instituto da prescrição. Há divergência entre os autores sobre as diferenças entre prescrição e decadência administrativa na leitura do art. 54, caput, havendo até mesmo aqueles que não fazem distinção entre os dois institutos. Enquanto administrativistas paulistas como Maria Sylvia Di Pietro (2007, p. 702-703) e Sergio Ferraz e Adilson Dallari (2001, p. 164) parecem tratar os institutos como sinônimos, dentro do tópico sobre “prescrição administrativa”, mineiros como Luciano Ferraz (2010), Cristiana Fortini (2006) e Raquel Carvalho (2006) apontam a diferença entre a prescrição e a decadência administrativas:
[...] a prescrição, no Direito Público, é a perda da pretensão de uma das partes da relação jurídico-administrativa, decorrente da sua

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 451
inércia em, no prazo fixado no ordenamento, exigir a reparação do direito subjetivo violado pelo devedor.
Já a decadência é a perda do prazo fixado na ordem jurídica para o exercício do direito potestativo lhe reconhecido em razão da supremacia do interesse público, o que implica perecimento do próprio direito.(CARVALHO, 2006)
Desta forma, são unânimes ao afirmar que o art. 54, caput foi feliz em tratar da perda do direito da Administração Pública de anular seus atos como decadência.
[...] os direitos potestativos de que é titular a Administração Pública (sem exclusividade), porque seu exercício cria um estado de sujeição para terceiros, são alcançados, nos prazos fixados pelo ordenamento jurídico, pela decadência.
Esclarece-se: o poder de promover a anulação de seus próprios atos, sujeitando o administrado (cidadão, melhor seria) aos efeitos dessa medida (não sem antes instaurar e bem desenvolver o processo administrativo) espelha exemplo de direito potestativo, tendo em vista que seu exercício implica a submissão do administrado aos efeitos provocados pela extinção do ato.
Não há pretensão violada quando a Administração Pública decide rever seus atos, pela que incabível a prescrição. (FORTINI, 2006)
A decadência, quando acontece, impede que a Administração busque a anulação de um ato administrativo em âmbito interno (administrativo) ou externo (judicial). Ela é interrompida uma única vez, posto que não há previsão legal geral para suspensão de decadência em processos administrativos. Se a decadência ocorrer, a Administração não terá mais como rever o ato e estabilizam-se seus efeitos, o que pode ser encarado como uma forma de garantir a proteção da confiança na Administração e maior segurança jurídica aos administrados.
Mas seria mesmo a previsão legal de 5 anos para a perda desta prerrogativa da administração suficiente para tanto, já que obstada a decadência a Administração não teria mais limitação temporal para agir na anulação de seus atos? Anular os atos depois de um tempo indeterminado não seria uma forma de penalizar ou punir o destinatário, uma vez que sua retirada faz cessar benefícios que ele usufruía? Ademais, a anulação daqueles atos editados com a boa-fé dos destinatários (caso

452 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
contrário, não decai) e dos quais decorrem efeitos positivos, podem se transformar em um ônus decorrente do efeito retroativo da anulação.
Ora, se há previsão de prescrição administrativa geral de 5 anos (e prescrição intercorrente de 3 anos) para a ação punitiva da Administração Pública contra ato ilícito (Lei 9873/1999)22, com mais razão podemos trazer o prazo prescricional para a anulação de ato administrativo em geral pela via da autotutela, como uma forma proporcional de garantir os princípios da legalidade, da supremacia e da indisponibilidade do interesse público e da segurança jurídica e da proteção à confiança.
Ou seja, depois que a Administração fizer a impugnação do ato, interrom-pendo o prazo decadencial (de 5 anos), ela teria o prazo prescricional (de mais 5 anos) para efetivamente intentar e encerrar o processo administrativo anulatório correspondente, podendo incidir, inclusive a prescrição intercorrente, nos moldes de um processo administrativo sancionador, mas isso não foi objeto de discussão das decisões que se analisa.
5.2. a decadência do direito de anular os próprios atos administrativos na jurisprudência
São vários os pontos importantes para a discussão da decadência que o caso dos cabos da FAB nos remete.
De plano, é necessário saber desde quando a decadência passa a correr, pois, apesar das anistias que são objeto da revisão e anulação terem sido editadas de 2001 a 2005, quando do ato decorrer efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial passa a contar do primeiro pagamento (art. 54, §1º). Essa é a situação das reparações econômicas em PMPC que toca aos cabos da FAB anistiados.
Ocorre que há casos que a PMPC não foi implementada até hoje por varia- das questões administrativas. Esse fato tem o condão de afastar a decadência na
22 A respeito da prescrição administrativa e desta lei, ver BARROSO, 2001. Além da Lei 9873/1998, outros diplomas que tratam de prescrição quinquenal para a Administração Pública, como o Decreto 20910/1932 e o Código Tributário Nacional, art. 168, 173, 175, entre outras, além das decisões do STF que tratam da Súmula Vinculante 03, como o MS 25116 e MS 24781.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 453
revisão dessas portarias, em função do que dispõe o art. 54, §1º? Considerando que a Lei de Anistia tem uma previsão expressa do prazo que deve iniciar o pagamento das reparações econômicas23, o STJ deu resposta negativa em decisão unânime no MS 15432, a partir do voto do rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quando a 1ª Seção do STJ deferiu a segurança em um caso desta natureza, em que o anistiado teve processo de anulação iniciado em julho de 2010.
No caso dos autos, não obstante o impetrante tenha sido declarado anistiado político em 2002, até a presente data o benefício da prestação mensal continuada não foi implementado. Dessa forma, a inércia da Administração em iniciar os pagamentos devidos ao impetrante não resulta na postergação do termo inicial do prazo de decadência previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de se retirar a eficácia desse dispositivo e violar o princípio da segurança jurídica.
Vê-se que temos aqui uma solução muito similar ao que acontece na organização da prescrição relativa aos processos disciplinares.
Como regra, a decadência não pode ser interrompida ou suspensa, mas pode admitir exceções24, como a que se vê no próprio art. 54, § 2º, que interrompe a decadência ao ser realizada qualquer medida por autoridade administrativa que vise impugnar o ato. Mas que características essas medidas devem apre-sentar para terem o condão de obstar a decadência, no que se refere à(s) autoridade(s) administrativas competentes e elementos de conteúdo e forma do ato administrativo?
Com a instituição do GTI de Revisão vários mandados de segurança foram impetrados sem sucesso contra o trabalho revisional das anistias, sob o argumento de que a mera instituição de procedimento de revisão não fere qualquer direito e certo (STJ, MS 16222, STJ, MS 16543; STJ, MS 1642, todos com rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, MS 16223, de rel. Min. Humberto Martins), ressal-
23 O art. 18 da Lei 10559/2002 dá o prazo de 60 dias da comunicação do MJ ao MPOG para o início do pagamento das prestações mensais.
24 Até no campo privado há este entendimento a partir do Código Civil, “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

454 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
vada nova apreciação judicial caso venha a ser instaurado de fato o procedimento de anulação da portaria de anistia.
É foi essa a situação de anulação da portaria de anistia o objeto do MS 18606, da 1ª Seção do STJ, de relatoria da Min. Eliana Calmon (com voto vencido), mas com relator para acórdão o Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em abril de 2013, que vai ser o leading case da discussão que estamos enfrentando. Antes dele algumas decisões em processos sobre a mesma questão já tinham declarado a decadência do direito de anular (STJ, MS 15346; STJ, MS 1543225), mas sem a discussão detalhada daquele. Outros, como o STJ, MS 15457, tinham decidido pela necessidade de dilação probatória para a comprovação de má-fé e consequente inadequação da via mandamental eleita.
No STJ, MS 18606, encontramos que a autoridade administrativa compe-tente para interromper o prazo decadencial é aquela que tem competência para o ato pretensamente viciado. No caso, o Ministro da Justiça. Manifestações de outros órgãos interessados, como o MD, ou consultivos, como a AGU, não devem ser considerados aptos para obstar a decadência do direito de anular.
A 1ª Seção do STJ ao julgar o MS 15346 (rel. min. Hamilton Carvalhido) já não tinha aceitado os atos de auditoria do TCU como óbice à decadência, asseve-rando que “somente importa exercício regular do direito de anular a instauração de processo de revisão da condição de anistiado político do impetrante.”
Quanto aos aspectos que a manifestação da Administração Pública deve guardar para tornar-se um óbice ao prazo decadencial, a Portaria MJ/AGU 134/2011 baseia-se na Nota AGU/JD-01/2006 como medida de impugnação apta a obstar os efeitos da decadência com base nos seguintes argumentos:
– o Parecer AGU/GQ nº 203/1999 estipula que não é necessário que a anulação se efetive no qüinqüênio legal, bastando que se verifique qualquer medida válida da autoridade administrativa que importe im-pugnação ao ato;
25 Este, inclusive, já foi objeto de decisão de Plenário do STF, no RE 656256, que negou seguimento ao recurso.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 455
– o mesmo parecer firma o entendimento que pareceres jurídicos são medidas que comportam a impugnação do ato viciado, sendo poste-riormente esta orientação interpretada de maneira mais restritiva pelo Parecer n°004/2009/GT-Transposição/CGU/AGU26, que indica que
somente o parecer jurídico, seja ele de qualquer natureza, que contiver completa análise do vício que inquina o ato, fornecendo à autoridade assessorada subsídios concretos para que possa efetivamente adotar as medidas necessárias de que trata o caput do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 relativamente a determinado e específico ato administrativo, é que pode surtir os efeitos referidos pelo § 2º do mesmo dispositivo. (Parecer 106/2010/DECOR/CGU/AGU)
Neste sentido, o Parecer 106/2010/DECOR/CGU/AGU busca demonstrar que a Nota AGU/JD-01/2006 atende a esses requisitos de trazer manifestações jurídicas conclusivas sobre os atos viciados e suas respectivas implicações.
O que é fundamental esclarecer que NENHUM dos pareceres e decisões administrativas e judiciais que são apontadas no Parecer 106/2010/DECOR/CGU/AGU ou embasam os respectivos documentos apontados tem o mesmo recorte factual do caso que se apresenta. Analisando os documentos originais de cada citação (quando disponível) é possível confirmar que em todas as situações que lhes deram origem, ou a manifestação se referia a um processo individual, ou naqueles que envolviam uma coletividade como destinatário, sempre houve alguma manifestação pública que lhes foi dado a conhecer dentro do lapso temporal de 5 anos para a decadência.
Para os cabos da FAB, excetuando, talvez, aqueles em que há manifestação individualizada por parte do TCU ou do MD, nunca foram individualmente envolvidos nesta controvérsia que se trava no interior da Administração Pública Federal.
26 Importante destacar que, apesar de exaustivas buscas em sites de busca jurídica (inclusive da própria AGU) e geral não foi possível localizar a íntegra do texto do Parecer n°004/2009/GT-Transposição/CGU/AGU. Logo, sua citação e análise está por conta do que consta na Nota 106/2010 e de uma apresentação do grupo de trabalho responsável pelo Parecer n°004/2009/GT-Transposição/CGU/AGU.

456 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Na mesma linha, Marçal Justen Filho assevera que “nos casos em que o exer-cício do poder ou do direito pressupõe o exaurimento de um processo [como o caso de anulações de ato de que decorram efeitos favoráveis], a legislação determina que o prazo decadencial será interrompido quando houver a instauração do dito processo” (2009, p. 1109)
A decisão do STJ, MS 18606, não concorda com os argumentos da Administração Pública para considerar interrompida a decadência de seu direito de anular as portarias. Aponta que as manifestações produzidas durante todo o período de debates entre os órgãos envolvidos não produziram uma medida adequada para obstar o prazo decadencial
Tais manifestações genéricas [notas e pareceres produzidos especialmente pelas consultorias jurídicas dos órgãos] não poderiam, como não podem, obstar a fluência do prazo decadencial a favor de cada anistiado, que já contava com o seu direito individual subjetivado, materializado, consubstanciado, em suma, em ato administrativo da autoridade competente, o Sr. Ministro da Justiça, subscritor da respectiva Portaria concessiva de tal benefício legal [...]
Por trás dessa discussão sobre os requisitos para que uma manifestação administrativa interrompa a decadência está seu próprio fundamento ligado à segurança jurídica, à boa-fé e à proteção da confiança. O que se quer garantir com ela é que o administrado não seja surpreendido a qualquer momento no gozo de um direito constituído ou reconhecido pelo poder público, sob o atributo de presunção de legitimidade.
Logo, não basta que a Administração não fique inerte, mas deve se exigir que para uma medida ser tida como impugnatória a um ato administrativo, ela deve ser dada, de algum modo, a conhecer pelo interessado individualmente conside-rado, seja por publicação na imprensa oficial, nos programas de acompanhamento processual específico, intimação pessoal etc. Dispõe ainda o referido voto do relator para o acórdão: “é, imprescindível – sob pena de violação às garantias maiores do devido processo, do contraditório, da ampla defesa, etc. – que o beneficiário do prazo em curso seja, individualmente, cientificado do teor do ato interruptivo ou suspensivo, no curso do referido prazo.” (STJ, MS 18606)

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 457
E fundamenta ainda no art. 66 da LPA que dispõe que os prazos do processo administrativo passam a correr da data da cientificação oficial.
Caso contrário, se a controvérsia se mantiver no interior da Administração Pública, corre-se o risco de atingir atos favoráveis aos cidadãos emitidos há muito mais de 5 anos, como no caso dos cabos da FAB, cujo intervalo entre a concessão de anistia e o fim de seu processo de revisão pode chegar a mais de 10 anos.
Pois, bem, se há, em tese, decadência, pelo decurso do prazo da Administração exercer seu direito de anular, a única possibilidade dela não operar e continuar possível a anulação das anistias, seria se houvesse comprovada má-fé (art. 54, caput) ou a falsidade dos motivos (art. 17, Lei 10559/2002) na sua concessão. Mas a Lei de Processo Administrativo Federal não deixa claro da parte de quem a má-fé (e ou falsidade dos motivos, na Lei de Anistia) tem que ser configurada para afastar a decadência. Almiro Couto e Silva, no entanto, não tem dúvida ao afirmar que:
A regra do art.54 da Lei n° 9.784/99, por traduzir, no plano da legislação ordinária, o princípio constitucional da segurança jurídica, entendida como proteção à confiança, tem como pressuposto a boa fé dos destinatários. A decadência do direito da Administração à anulação não se consuma se houver má fé dos destinatários. Não está em questão a má fé da Administração Pública ou da autoridade administrativa. Assim, mesmo existente esta, se os destinatários do ato administrativo estavam de boa fé e houve o transcurso do prazo qüinqüenal sem que o Poder Público houvesse providenciado na anulação do ato administrativo ilegal, configuraram-se todos os requisitos para a incidência e aplicação do art. 54, perecendo, pela decadência, o direito à anulação. (SILVA, 2005)
Já Sergio Ferraz e Adilson Dallari são ainda mais radicais ao defender que esta previsão legal de não se consumar a decadência em caso de má-fé do interessado é inconstitucional, com afronta ao princípio da proporcionalidade (2001, p. 166).27
27 Sobre imprescritibilidade de ações administrativas, há a previsão constitucional para os casos de ressarcimento ao erário decorrente de improbidade administrativa, apesar de toda a polêmica que envolve o tema. A respeito, ver Mancuso e Tartuce (2010).

458 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Ao que pese essa posição, o entendimento majoritário é que a decadência não opera quando se está diante de má-fé.
Nas anistias concedidas aos cabos da FAB não há qualquer indício ou acusação de que conjuntamente os anistiados agiram de má-fé, engendrando falsos motivos para o deferimento de seus pleitos (sem afastar de plano que haja casos dessa natureza que possam a vir a serem alegados e provados em processos individualizados da revisão e anulação28), o que confirma que há, neste caso, uma limitação de prazo decadencial para a ação anulatória da Administração.
No que tange à decisão do STJ, MS 18606, ela reforça que a má-fé deve ser comprovada, e que não houve em nenhum momento da discussão judicial ou administrativa comprovação e sequer alegação de má-fé. No STF, os recursos estão sendo negados em virtude da necessidade da reanálise de provas para a comprovação de má-fé (STF, RE-AgR terceiro 784731)
Outra situação onde a decadência não opera é quando se está diante de um vício flagrantemente constitucional (STF, MS 28279). Este entendimento do STF também é atacado pelo STJ, MS 18606 que vaticina: “De fato, o constituinte originário não se preocupou em definir, no art. 8º, caput, do ADCT, o que seria um ato de exceção, institucional ou complementar, de motivação exclusivamente política, tendo sido tal encargo do legislador infraconstitucional, que criou a Lei 10.559/02”
O mesmo é invocado na discussão para afastar os recursos extraordinários que a União está impetrando junto ao STF. A alegação de que se trata de um vício constitucional vem tendo o seguinte tratamento:
Dessa forma, para divergir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento de fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279 do STF – e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. (STF, RE 806056)
Logo, o recurso teve seu seguimento negado, e a declaração de decadência estabilizou o ato declaratório de anistia e os direitos de reparação econômica a ele vinculado.
28 Há pelo menos um caso que foi reconhecida judicialmente a má-fé do ex-anistiado, que tinha se licenciado a pedido para tomar posse em cargo público (STJ, MS 15070-DF).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 459
Outros processos da mesma natureza ainda estão em andamento no STF (como os RE 801022 e RE 806100) e devem, de qualquer forma, ao enfrentar a fundamentação do STJ, MS 18606, aclarar ainda mais as regras a respeito da decadência do direito de anular ato administrativo por meio da autotutela.
6. conclusões
O caso dos cabos da FAB licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964 pare- ce emblemático no estudo da anulação dos atos administrativos, especificamente da decadência desse direito de anulação por parte da Administração Público, na medida em que o modo como se deu a concessão das anistias, seu fundamento e as peculiaridades administrativas que permeiam todo o caso levaram a discussões e decisões judiciais que apontaram parâmetros mais precisos sobre o tema. A decisão do processo do STJ, MS 18606, é um precedente importante para tanto.
É possível aceitar que a decisão da Comissão de Anistia em 2002, com a edição da Súmula Administrativa 2002.07.0003-CA possibilitando a concessão de anistia para toda a categoria dos cabos da FAB licenciados pela Portaria 1104/GM3/1964 não tenha sido a melhor, mas buscou-se por este trabalho defender que é uma decisão razoável que merece acolhida, não resultando em vício que enseja anulação, como vem reconhecendo a jurisprudência.
A análise do decurso do tempo e a ação da Administração neste período provam que é fato que ela não ficou inerte, mas tampouco pôs a par os beneficiários dos atos, da discussão que se travava ente os MJ, MD e AGU, com participação do TCU; ou produziu atos específicos e conclusivos que levassem à anulação das portarias de anistia.
Logo, o acórdão do STJ, MS 18606, definiu a necessidade de manifestações objetivas (que apontem o vício e os procedimentos necessários para saná-lo) da autoridade competente para a revisão e a ciência do interessado da situação instável do ato administrativo do qual é beneficiário, como requisitos mínimos para que uma medida administrativa tenha o poder de interromper a decadência do direito de anular da Administração Pública. Além disso reforçou a necessidade de má-fé comprovada para afastar a decadência.

460 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Um ponto que parece ser chave para auferir se determinada medida ad-ministrativa possibilita interromper a decadência é a ciência do beneficiário do ato que seu direito não está seguro, que o ato administrativo que lhe foi favorável pode ser entendido como imperfeito.
Ademais, necessário repensar a relação entre decadência e prescrição no processo administrativo anulatório de modo que, obstada a decadência, a Administração não fique livre, despreocupada com o prazo para finalizar a invalidação do ato, ou ratificá-lo.
7. referências
BARROSO, Luis Roberto. A prescrição administrativa no direito brasileiro antes e depois da lei nº 9.873/99. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. 1, nº. 4, 2001. Disponível em <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2011.
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2009.
CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. A Segurança Jurídica, a Prescrição e a Decadência no Direito Administrativo. Direito Público: Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. v. 3, n. 1/2. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, jan/dez 2006, p. 79-98.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
CRETELLA JR. José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
DEMO, Roberto Luís Luchi. O regime jurídico da anistia política no brasil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 42, p. 77-82, jul./set. 2008. Disponível em: http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/1053/1204
DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
FORTINI, Cristiana. Os conceitos de prescrição, preclusão e decadência na esfera administrativa - A influência do Novo Código Civil e da Lei Federal

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 461
de Processo Administrativo. Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, n. 15, ano 4, Outubro 2006 Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=38652>. Acesso em: 4 outubro 2010.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.
LIMA, Gilvan Vanderlei. OAB/DF protocoliza ADPF requerida pela ADNAM no Supremo Tribunal Federal. Publicado em 19 dez. 2008. Disponível em: http://www.militarpos64.com.br/sitev2/?p=566
OLIVEIRA, Vanderlei de. A anistia dos cabos da Aeronáutica (Portaria nº 1.104/64). Publicado em 06/10/2008. Disponível em: <http://www.conint.com.br/artigos/artigo1.htm>.
PIRES JR., Paulo Abrão. O descumprimento das Leis nºs 10.559/02; 11.354/06 e 9.784/99 e suas implicações para os Cabos Anistiados da FAB. In: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Seminário, 17/08/2010. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/notas-taquigraficas/nt17082010a>.
VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. A política repressiva aplicada a mili-tares após o golpe de 1964. 2010, 307f. Tese (Doutorado em História Social). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Rio de Janeiro,2010.


i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 463
qualidade de vida: em busca de um conceito jurídico
no ordenamento brasileiro
José Fernando Vidal de Souza1
Resumo
O conceito de qualidade de vida tem merecido atenção cada vez maior na literatura científica em várias áreas do conhecimento e em especial no campo do direito. Trata-se de um conceito com uma gama variada de significados, com diversas possibilidades de análise, inúmeras controvérsias teórico-metodológicas e bastante apropriado pelo senso comum. Objetiva-se com o presente artigo promover uma análise do conceito de qualidade de vida aliado ao conceito de meio ambiente, a partir da leitura do art. 225 caput da Constituição Federal brasileira. A reflexão apresentada visa clarificar o conceito de qualidade de vida, para alterar paradigmas com o escopo de enfatizar que tal conceito, em matéria ambiental, deve estar atrelado aos valores éticos da igualdade, racionalidade econômica e desenvolvimento, de tal forma que a compreensão de meio ambiente seja a interação de elementos naturais, artificiais e culturais, que propiciam uma boa vida para todas as gerações presentes e futuras.
Palavras-chave
Qualidade de vida; Meio ambiente; Desenvolvimento; Consumo.
Abstract
The concept of quality of life has received increasing attention in the scientific literature in various fields of knowledge and in particular in the field of law. It is
1 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1986). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997), doutor em Direito pela mesma instituição (2003) e pós-doutor pelo Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (2007). Pós-doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina– UFSC (2013). Especialista em Ciências Ambientais pela Universidade São Francisco (2000). Bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2011). Atualmente é professor da Universidade Nove de Julho e da Universidade Paulista. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo.

464 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
a concept with a wide range of meanings, with several possibilities for analysis, numerous theoretical and methodological controversies and quite suitable for common sense. It aims to promote with this article an analysis of the concept of quality of life coupled with the concept of environment, from reading the article. 225 caput of the Brazilian Federal Constitution. The reflection presented aims to clarify the concept of quality of life, to change paradigms to emphasize that the scope of such a concept, environmental, must be linked to ethical values of equality, rationality and economic development, so that understanding through environment is the interaction of natural elements, artificial and cultural, which provide a good life for all present and future generations.
Key words
Quality of lif; Environment; Development; Consumption.
1. introdução
O presente texto tem o objetivo de discutir o conceito de qualidade de vida no âmbito do direito, eis que, nos dias atuais, cada vez mais, como se sabe, ouvimos falar sobre a temática.
Trata-se, pois, de um termo que envolve as várias das áreas do conhecimento: biológico, social, político, econômico etc.
Percebe-se, assim, que qualidade de vida é uma preocupação das diversas áreas do saber humano, tais como saúde física e mental, arquitetura, lazer, gastronomia, educação, meio ambiente, segurança etc.
Com isso, tem-se que a temática promove um debate interdisciplinar.
De fato, o termo qualidade de vida passou a integrar a linguagem usual da sociedade contemporânea e o senso comum incorporou o referido termo e as várias formas de conotação de tal forma que há uma grande confusão sobre a temática.
Nesse sentido, em todas as áreas de entretenimento, novas tecnologias e em tudo o que se relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio, o termo qualidade de vida é visto como passível de apreciação. Porém, com definições

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 465
amplas, qualidade de vida passou a inserir-se no contexto da sociedade pós-moderna.
Desta maneira, pode, por exemplo, envolver o cuidado com corpo no aspecto físico, mental e sexual; a boa alimentação; a atividade física; o cultivo de amizades e da espiritualidade; o trabalhar menos, em busca do tempo livre; a prática do lazer; o saber utilizar os avanços da medicina em busca da longevidade.
Ora, tais colocações indicam que não há limites claros e conceituais precisos para a limitação do termo. Por isso, a definição de qualidade de vida seja facilmente capturada, por promessas fáceis e propagandas enganosas com o condão de manipular a opinião pública pela via do mercado.
Porém, em pleno limiar do século XXI, o homem contemporâneo continua a defrontar-se com perguntas essenciais como: “Quem sou eu?” ou “Para onde vou?”.
Essas perguntas enfatizam a necessidade e a relevância da busca por valores humanos universais, a procura consciente pela integração homem/natureza e a conquista pessoal do indivíduo mediante a associação de corpo, mente e alma.
Por ser assim, a definição de qualidade de vida implica compreender conceitos e interfaces com várias áreas de saber que redundem na análise das complexidades contemporâneas.
No campo do direito, o termo qualidade de vida correlaciona-se com o direito de viver em um meio ambiente saudável. Desta forma, têm-se como pressuposto a existência de atuações preventivas por parte do Estado e da coletividade, aliadas à educação ambiental e às punições nas esferas administrativa, penal e civil dos infratores e poluidores.
O presente artigo propõe promover uma análise da regra prevista no artigo 225 caput da Constituição Federal de 1988, ao examinar a tutela do meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Assim colocado, o texto parte do conceito de qualidade de vida, em seguida, examina o conceito de meio ambiente e, por fim, conjuga os dois termos de forma a aclarar a compreensão da temática na esfera do direito.

466 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
2. o conceito de qualidade de vida
O conceito atual de qualidade de vida não é pacífico e leva em conta uma série de fatores que determinam tal qualidade. Neste sentido, o conceito de qualidade de vida pode ser diferente de pessoa para pessoa e tendente a se alterar ao longo da vida.
Alia-se a este fato as considerações de Cristovam Buarque (1993, p. ) ao afirmar que “talvez nenhum conceito seja mais antigo” do que qualidade de vida, mesmo antes de ser definido e, ao mesmo tempo, “o mais moderno do que a busca de qualidade de vida”, eis que:
O primeiro gesto do que viria a ser o homem tinha por motivação a melhoria na qualidade de vida dele e dos demais de sua tribo. Apesar disso, só muito recentemente o conceito surge se consolida no imaginário coletivo dos homens, e assume como definição o uso de técnicas.
Durante séculos, a qualidade de vida estava em não ser ameaçado pelos deuses, nem ser surpreendido pelas intempéries, e ter força para resistir aos inimigos naturais ou humanos. A vida era rotina, a qualidade dela era não quebrar a rotina.
De outro lado, adotando uma visão holística, Nahas (2003, p. 14), observa que qualidade de vida é “a condição humana resultante de um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano”.
Desta forma, conforme já salientado a falta de um consenso quanto a definição do termo qualidade de vida tem gerado o seu emprego de maneira desordenada, confusa, geralmente restrita ao campo da saúde e bem-estar, sem análise profunda da complexidade multidimensional que a definição exige.
A Organização Mundial da Saúde-OMS (1998) define Qualidade de Vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.
Vê-se que o conceito é deveras abrangente e incorpora dados de caráter objetivo, subjetivo e multidimensional, bem como elementos de avaliação positivos e negativos, que se apoiam no contexto cultural, social e ambiental.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 467
Desta maneira, o conceito apresentado pela OMS ao invés de pacificar a questão, joga mais confusão à temática. Neste sentido, muitos passam a enxergar qualidade de vida como uma somatória de fatores decorrentes da interação entre a sociedade e ambiente. A vida sob esta ótica é vista a partir das suas necessidades biológicas e psíquicas, com a satisfação no âmbito das áreas física, psicológica, social, de atuação, material e estrutural do indivíduo.
Enfim, sob esse prisma, a OMS define seis domínios que devem ser considerados para efeito de se compreender o conceito de qualidade de vida: a) domínio físico (energia, fadiga), b) domínio psicológico (sentimentos positivos), c) o nível de independência individual (mobilidade), d) as relações sociais (apoio social), e) o ambiente (com acesso à saúde) e f ) as crenças pessoais/espiritualidade (que fornecem o sentido da vida).
A completude de tais domínios levam à qualidade de vida, que permite aos indivíduos o preenchimento das suas necessidades pessoais. O grau de satisfação das necessidades básicas da vida humana, tais como alimentação, habitação, trabalho, educação, saúde, acesso a água potável, lazer e elementos materiais, levam em conta noções subjetivas de conforto, bem-estar e realização individual e coletiva. Estas uma vez satisfeitas ensejam as oportunidades para se atingir a felicidade.
Assim, qualidade de vida passou a ser um método para medir as condições de vida de um ser humano e, para tanto, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu um questionário para aferi-la. O questionário é composto pelos seis domínios já mencionados: o físico, o psicológico, o nível de independência, o das relações sociais, o do meio ambiente e os aspectos religiosos.
No âmbito econômico qualidade de vida foi um conceito cunhado por J.K. Galbraith, em 1958, que passou veicular não só os efeitos dos objetivos econômicos quantitativos, mas também a melhoria em termos qualitativos das condições da vida humana.
Neste sentido é que se idealizou o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, que é um modo de medir a qualidade de vida nos países, comparando riqueza, alfabetização, educação, esperança média de vida, natalidade e outros fatores, é uma maneira de avaliação e medida do bem-estar de uma população.

468 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Além disso, é conveniente qualidade de vida não se confunde com padrão de vida. De fato, padrão de vida é uma medida que quantifica a qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis.
Não obstante tais considerações, no contexto atual, a questão ambiental se entrelaça com ciência, tecnologia e democracia. Assim, ao falar em sociedade tecnológica vemos o contato direto com ciência e democracia. A democracia, no entanto, sugere a possibilidade de liberdade de escolhas e, sendo assim, todo debate sobre a questão ambiental deveria ser pautado por uma possibilidade de escolha dentre várias opções.
Porém, nos países do Sul, toda análise ambiental crítica deve ser examinada sob o olhar das ausências produzidas diante das escolhas feitas. As ausências permitem verificar a imensa exclusão ocorrida a partir da renovação da opção “mão invisível” de Adam Smith e o novo ciclo do capitalismo expansivo sem fronteiras.
Uma leitura assim entendida visa demonstrar que o termo desenvolvimento passa a ser sinônimo do termo progresso, tomado com uma nova roupagem, mas mantendo viva a chama da conotação positivista, que longe de demonstrar avanço enfatiza retrocesso.
Assim, uma leitura quase sempre desprezada é a análise comparativa entre o crescimento do PIB e o índice de desenvolvimento humano (IDH).
Neste contexto é necessário inicialmente destacar que o Brasil é hoje um país semiperiférico que ocupa a 07ª. posição no ranking das economias mundiais, com PIB de US$ 2,395 trilhão em 2012, segundo dados do IBGE e do FMI. No entanto, o Brasil apresenta uma gritante desigualdade de renda, que coloca o país como detentor dos piores índices do mundo, só perdendo para a Namíbia e Serra Leoa.
Em termos de renda, o Brasil ocupa a 85ª posição no ranking mundial (com renda per capita da ordem de US$ 10.152 em 2013) e IDH da ordem de 1,73.
Porém, 12 países da América Latina e do Caribe têm desempenho superior ao brasileiro, entre eles México (71º no ranking, IDH de 0,842), Cuba (59º no ranking, IDH de 0,78), Uruguai (51º no ranking e IDH de 0,792), Argentina (45º no ranking, IDH de 0,811) e Chile (40º no ranking, IDH de 0,819).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 469
Ademais, o grande problema brasileiro salta à vista na medição, pois a concentração de rendas indica que se trata de uma das sociedades mais desiguais e injustas do mundo, com larga diferença entre pobres e ricos.
De fato, o Brasil padece de altíssima concentração de rendas e vale lembrar que 46,9% da renda estão nas mãos dos 10% mais ricos, sendo que só 7 países estão atrás do Brasil nesse quesito e dos 0,7% com os 10% mais pobres só 5 países estão atrás do Brasil. Tais dados são constatados tanto por índices internacionais, como por índices nacionais.
A explicação para o singelo aumento, segundo economistas brasileiros e técnicos do Banco Mundial para a redução das desigualdades está nos programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, mas não se pode esquecer que dois terços dos rendimentos das famílias brasileiras provém do trabalho assalariado, o que revela um quadro dramático e obriga a uma necessidade de crescimento da economia e do mercado de trabalho.
Assim, o Brasil desde 1990 vem oscilando várias posições entre os 182 países avaliados pelo índice IDH sendo que em 2005 ocupava a 65ª colocação, com índice de 0,792: classificado como médio desenvolvimento humano; em 2006, passou a ocupar 69ª colocação e em 2007 e 2008 ocupava a 70ª colocação; 2009 passou a ocupar a 75ª; 2010 ocupava a 73ª colocação; 2011 ocupou a 84ª colocação; 2012 passou a ocupar a 85ª colocação.
Num quadro comparativo vê-se que o Brasil aparece logo abaixo da Omã e logo acima da Armênia, mas em termos gerais Portugal encontra-se no 43º lugar, com um índice de 0,816 (muito alto desenvolvimento humano) e é o 16º colocado entre os 27 países da União Européia. A Noruega, por sua vez, lidera o ranking com IDH de 0,955.
Diante disso, Paulo Afonso Linhares (2004, p.28) define qualidade de vida como sendo “a faculdade que têm as pessoas de fazer escolhas, das quais resultam um conjunto de capacidades que, nos planos individual e coletivo, são realizadas por casa uma dessas pessoas segundo aquilo que entendem ser a melhor forma do viver”.
Percebe-se com isso, que a expressão qualidade de vida não se reveste à consideração apenas da vida em si mesma, mas também da vida sob a ótica dos valores, das escolhas e das realizações do ser humano.

470 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Porém, a realidade brasileira atual é dramática, pois mesmo com um desenvolvimento econômico elevado, ao longo de décadas o país viu acentuar uma crise social sem precedentes.
Vale lembrar que entre as décadas de 50 e 70 só a grande São Paulo recebeu 3,3 milhões de habitantes, gerando um inchaço populacional da Capital com problemas vários, levando a um esgotamento dos recursos naturais e aumento vertiginoso da violência.
Depois de uma urbanização explosiva, que concentrou a população nas metrópoles até a década de 80, o Brasil passa, atualmente, por mudanças na sua estrutura populacional.
A marca desta década é a interiorização do crescimento e a formação de novas aglomerações, conforme estudos feitos pelo IPEA, IBGE, UNICAMP e SEADE.
Lembre-se, também, que em 1946, a urbanização no Brasil era da ordem de 46%, passando para 75% da população brasileira em 1991 e devendo chegar a 80% em 2025, segundo projeções da ONU.
Assim, a urbanização toma novos rumos, indicando que o crescimento da metrópole avança, invadindo as cidades do interior.
Nestas grandes aglomerações observa-se uma grande mobilidade entre pessoas de diferentes locais e um grande fluxo de bens e serviços, indicando que as pessoas moram em um lugar, mas se deslocam para trabalhar, estudar ou fazer compras em municípios vizinhos, através da já saturada malha viária da região.
Portanto, além do crescimento das ocupações agrícolas no meio rural, cresceu também a mobilidade dos moradores, o que torna inconsistentes os tradicionais conceitos a respeito de população urbana e rural e das relações entre campo/cidade.
Este quadro ainda se vê acentuado pelo fenômeno da corrupção, cujos vícios e malefícios atingem os meandros do poder político, social, econômico e financeiro.
No âmbito brasileiro a corrupção além de minar a estrutura democrática faz pior, consegue trazer à tona as gritantes diferenças sociais e acentua ainda mais as desigualdades e exclusões.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 471
Diante de tais considerações vê-se que o conceito de qualidade de vida deve se atrelar à ética, bem como ao conceito de desenvolvimento que considere o crescimento socioeconômico, a igualdade social e a preservação dos recursos naturais, com a capacidade de propiciar relações humanas, fraternas, solidárias e justas.
3. os vários conceitos de meio ambiente
O debate doutrinário e jurídico que matiza a noção de meio ambiente iniciou-se na doutrina italiana, em 1973, segundo Farias (1999, p. 204) com o trabalho desenvolvido por Massimo Severo Giannini que, adotando uma visão não-global, procurou definir juridicamente o termo ambiente sob três conceituações: a) cultural: o meio ambiente enquanto paisagem, envolvendo tanto as belezas naturais, como também os centros históricos, parques e florestas; b) sanitária: o meio ambiente enquanto normas protetoras na defesa do solo, ar e água; c) urbanística: o meio ambiente como objeto de normas urbanísticas.
Giannini procurou individualizar o termo ambiente sob a ótica de três diferentes significados, associando-os aos respectivos bens ambientes. Portanto, para Giannini inexiste uma concepção unitária de ambiente, em virtude de sua divisão do objeto das normas jurídicas em três tipos de elementos: paisagem (noção cultural), sanitário e urbanismo (ordenamento do território).
Por seu turno, Postiglione (1985) sempre defendeu em seus estudos uma noção globalizante e unitária de ambiente, acrescendo a eficiência da sua proteção através da ordenação global do território.
Na Espanha, Ramón Martín Mateo passou a adotar uma visão genérica e definiu ambiente, incluindo toda a problemática ecológica, a questão da utilização dos recursos e a disposição do homem na biosfera.
Para Mateo (1990, p. 80) a palavra ambiente, corresponde à expressão inglesa “environment” e francesa “environnement” e que devem ser traduzidas por “entorno”. Assim, no seu entender:
Una primeira aproximación al concepto de ambiente nos remite a uma noción amplia que incluye toda la probemática ecológica general y por supuesto el tema capital de la

472 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
utilización de los recursos, a disposición del hombre, em la biosfera. Esta perspectiva globalista es a veces la adoptada em ciertos pronunciamientos realizados em el seno de organismos internacionales. Así, em la Conferencia de Estocolmo de 1972, se afirma que ‘el hombre tiene el derecho fundamental a la liberdad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas em un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el médio para las generaciones presentes y futuras (MATEO, 1977, p. 72/73).
Mateo procurou definir ambiente utilizando-se como base uma formulação de objetivos concretos a cujo serviço, com uma certa coerência lógico-jurídica, se instrumenta um determinado sistema normativo. Assim, para o administrativista, o termo ambiente seria o conjunto de elementos naturais que deixaram de ser res nulius para serem objeto de proteção jurídica, como bem comum. Nesse sentido, explica:
Creemos que, efectivamente, el meollo de la problemática ambiental moderna está en la defensa de unos factores que inicialmente podrían haber sido calificados como ‘res nullis’, susceptibles de utilizazión sin limite por todos los individuos, pero que posteriormente se transforman en bienes comunes sobre los cuales uma mayor intensidad de utilización, fruto de la civilización industrial y urbana, va a amenazar precisamente las condiciones indispensables para el aprovechamiento colectivo.
En realidad, de lo que aqui se trata es de las cosas a las que ya aludían nuestros textos históricos em cuanto que ‘comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo (...) aire y las águas de la lluvia, la mar, sus riberas’ alguna de las cuales posteriormente recibieron el tratamiento de bienes de dominio público, dominio natural, mientras que otras, como el aire, mantuvieron su condición de ‘res nulius’. Pero es lo cierto que com el trasncurso de los tiempos, tales caracterizaciones resultaron inapropiadas al posibilitar aprovechamientos abusivos que a la larga prejudicaron a los demás potenciales usuarios de estos bienes y a propia esencia colectiva (MATEO, 1977, p. 74).
Na doutrina brasileira vem prevalecendo a utilização da concepção meio ambiente de maneira globalizante. A rubrica meio ambiente se manifesta mais

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 473
rica de sentido do que a simples palavra ambiente. Ela traduz uma forte conexão de valores assumindo uma visão globalizante, sistêmica unitarista do ambiente.
Por seu turno, para Leme Machado (2012, p. 59) a divergência que gira em torno da utilização do termo “meio ambiente” é uma questão de pouca redundância, pois a discussão centra-se mais no aspecto formal do que de conteúdo:
Acentuam autores portugueses que a expressão ‘meio ambiente’, embora seja ‘bem sonante’, não é, contudo, a mais correta, isto porque envolve em si mesma um pleonasmo. O que acontece é que ‘ambiente’ e ‘meio’ são sinônimos, porque ‘meio’ é precisamente aquilo que envolve, ou seja, o ‘ambiente’. A questão, contudo, tem reduzido interesse, pois que é mais formal do que de conteúdo.
Nessa esteira de entendimento, Vidal de Souza (2011, p. 99) arremata que a expressão “é considerada por muitos como dúbia ou pleonástica, pois os organismos podem ser parte do ambiente de outro organismo”. Ademais, “muitas vezes assume dimensões que envolvem aspectos econômicos, culturais e de segurança dos diversos ambientes em que os seres humanos vivem”.
Vislumbrando a palavra ambiente como conjunto de elementos e a rubrica meio como resultado de interação desses elementos, Afonso da Silva (2002, p. 20) define meio ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.
Para José Afonso da Silva (o termo ambiente deve ser apreciado de maneira unitária, apesar de possuir diferentes aspectos, diante da ampla multiplicidade e variedade de elementos que integram o ambiente. Adotando essa concepção unitarista o autor ressalta três aspectos do meio ambiente:
a) meio ambiente artificial: constituído pelo espaço urbano construído e que engloba o conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e os equipamentos públicos (espaço urbano aberto);
b) meio ambiente cultural: constituído pelo patrimônio histórico, artísti-co, arqueológico, paisagístico e turístico;
c) meio ambiente natural ou físico: constituído pelo solo, água, ar, flora (AFONSO DA SILVA, 2002, p. 23).

474 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Ainda merece realce o entendimento apresentado por Toshio Mukai (2012, p. 03) no sentido de que a expressão meio ambiente “tem sido entendida como a interação de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida do homem (...).”
Por outro lado, adotando a concepção ampla, Édis Milaré (2011, p. 143) ressalta que o conceito de meio ambiente abrange “toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens culturais correlatos” e, no seu entender a interação desse conjunto propiciaria “o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.
Na sua visão há de um lado o meio ambiente natural, ou físico, constituído por solo, água, ar, energia, fauna e flora, e, do outro, o meio ambiente artificial (ou humano), formado por edificações, equipamentos e alterações produzidos pelo homem, enfim, os assentamentos de natureza urbanística e demais construções. Assim, tem-se os ecossistemas naturais e ecossistemas sociais.
Já Aguiar Coimbra (1985 p. 29) contempla as relações do homem com o meio que o envolve e define meio ambiente como “o conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos”.
Com tais conceitos pode-se comparar o conceito apresentado pela legislação vigente. De fato, a conceituação proposta pelo legislador não retrata uma simples delimitação geográfica, mas vai além, para expressar o conjunto de relações, leis, influências e interações (físicas, químicas e biológicas) entre os fatores vivos (bióticos) e não vivos (abióticos) ocorrentes nesse ambiente e que são responsáveis pela manutenção, abrigo e regência de todas as formas de vida que existem nesse ambiente.
Na verdade o legislador infraconstitucional adotou um sentido amplo com características relacionais, o que em consequência, aumentou o espectro de abrangência do Direito Ambiental em relação ao outros países e contemplou a proteção a toda forma de vida.
Ademais, cumpre ressaltar que antes de 31 de agosto de 1981 a proteção do meio ambiente era feita de modo mediato, indireto, reflexo e heterogêneo, através

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 475
de leis esparsas, formando um emaranhado de leis e regras que foram criados sem nenhuma preocupação sistemática, através dos Códigos de Mineração, Águas, Florestal e Sanitários, basicamente.
Por isso, a Lei 6.938/81 é considerada o primeiro diploma legal que cuidou do meio ambiente como um direito próprio e autônomo, definindo conceitos básicos da tutela material do meio ambiente.
Logo, essa tutela ambiental significa proteger o espaço, o lugar, o recinto que abriga, que permite e que conserva todas as formas de vida. Esse espaço é a resultante da combinação, relação e interação de diversos fatores que nele se situam e o formam, isto é, os elementos bióticos e abióticos.
Analisando ainda a dicção do artigo 3º, da Lei 6.938/81, observa-se que o legislador na ânsia de conceituar o meio ambiente, definiu-o de maneira bastante abstrata e complexa. Senão vejamos:
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

476 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
O conceito legal de meio ambiente, disposto no inciso I do artigo 3º, da Lei 6.938/81 tem como aspecto teleológico a proteção, o abrigo e a preservação de todas as formas de vida.
Ocorre que para se alcançar esse objetivo é necessário resguardar o equilíbrio do ecossistema (o conjunto de relações, leis, influências e interações (físicas, químicas e biológicas) entre os fatores vivos –bióticos – e não vivos – abióticos –).
Nesse sentido, como observa Antonio Herman V. e Benjamin (1998, p. 132) extrai-se do texto de lei que
o conceito normativo de meio ambiente é teleologicamente biocêntrico (permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas), mas ontologicamente ecocêntrico (o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica). Um grande avanço sem dúvida, indo ao oposto estritamente economicista (antropocêntrica) que caracterizou toda a história do Direito nacional.
Apesar de transparecer a ideia de que a legislação extirpou a deturpada visão antropocêntrica, pautada em um liberalismo econômico e exacerbado que considerava o homem como algo distinto do meio em que se encontra inserido, o legislador sem negar o caráter biocêntrico/ecocêntrico ao conceito de meio ambiente, enfatizou o aspecto antropocêntrico no processo de preservação, no conceito de poluição e na ideia de prejudicialidade do homem e demais seres vivos.
Enfim, influenciado pela definição de meio ambiente da Declaração de Estocolmo2, do Conselho Internacional da Língua Francesa3 e pela Lei norte-americana da EPA (Environment Policy Agency Act) de 19694, o legislador tratou
2 Princípio 1: O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.
3 Lamarque, citado por Marcelo Abelha Rodrigues, esclarece que o Conselho Internacional da Língua Francesa conceituou meio ambiente como o “conjunto, em um dado momento, dos agentes físicos, químicos, biológicos e dos fatores sociais suscetíveis de ter um efeito direto e indireto, imediato ou mediato sobre os seres vivos e as atividades humanas”. RODRIGUES, Marcelo Abelha. op. cit., p. 52.
4 Posteriormente à promulgação do EPA pelo Presidente Nixon, procedeu-se à elaboração de numerosas leis (estatutos) ambientais federais, ou à revisão de antigas leis, de forma tão

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 477
o meio ambiente não somente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, mas também inseriu a definição de atividades poluentes, numa visão antropocêntrica, como sendo as atividades que: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.
Diante de todo o colocado, tem-se que o objeto de tutela do meio ambiente é a proteção de todas as formas de vida e a qualidade dessa mesma vida é criar um estado abstrato, vago e impreciso, confundindo o objeto com o objetivo.
Porquanto, quanto mais abstrato, impreciso e polissêmico o conceito de meio ambiente, menor será a eficácia normativa de um sistema de tutela e a impossibilidade de garantir a almejada qualidade de vida.
Nesse sentido é a lição de Mateo (1977, p. 88) ao destacar o seguinte:
Creemos, sin poner supuesto en duda la bondad intrínseca de estos loablles propósitos, que es inútil e incluso pertubador incluirlos en bloque en cuanto objetivo de la estratégia ambiental. La defensa de la calidad de vida, del marco existencial, o la solución de las ‘cuestiones sociales’, requierem medidas no homologables a las que demanda la conservación del equilíbrio ecológico, por ejemplo. En sus últimas consecuencias, estas motivaciones práticamente agotaríam todas las actividades hoy desenpeñadas por las Administraciones públicas. Por supuesto, rechazo em cuanto inadmisible incluso por el más amplio concepto de ambiente, el que este tenga algo que ver, por ejemplo, com la contaminación del lenguaje, com la influencia de las ideologias em el pensamiento econômico o com o deterioro de la vida política por la tecnoideología.
Assim, não basta encerrar uma definição no sentido de que a tutela do meio ambiente abranja tudo relacionado à qualidade de vida, pois tal definição não permite que o Direito Ambiental seja tratado como uma ciência autônoma. Nesta
significativa que equivaleu à publicação de novas leis, ao longo de toda a década de 70. Na verdade, entre 1969 e 1979 foram publicadas 23 leis fundamentais relativas à poluição, sistemas ecológicos e saúde humana.

478 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
condição a proteção ambiental poderia ser fracionada pelos diversos ramos do direito e pelas demais áreas de conhecimento que também tutelam a qualidade de vida.
Desta maneira, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre os conceitos de meio ambiente e qualidade de vida, que possam assegurar, de fato, uma melhoria das condições de vida para todos, incluindo as presentes e futuras gerações.
4. meio ambiente e a sadia qualidade de vida
Conforme já destacado, o objeto da tutela do meio ambiente deve ser devidamente delimitado e o constituinte de 1988 o fez ao afirmar que “todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida” (CF, artigo 225).
Constata-se que o legislador constituinte deixou bem claro que o direito de todos recai sobre um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esse equilíbrio ecológico constitui o bem jurídico imaterial tutelado pelo Direito Ambiental.
No entanto, relevante destacar, que a Constituição Federal, no artigo 225, caput, ao empregar a expressão “meio ambiente ecologicamente equilibrado” uti-lizou-se da mesma redundância prevista no artigo 66 da Constituição Portugue-sa5, empregando a qualificação adverbial “ecologicamente” com uma função fina-
5 Artigo 66.º - (Ambiente e qualidade de vida) 1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o
dever de o defender. 2. Incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo e apoio a iniciativas
populares: a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização
das actividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconômico e paisagens biologicamente equilibradas;
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico;
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 479
lística ampla e aberta, diferentemente da Constituição Espanhola6 que optou por uma concepção teleológica mais concreta ao expressar o tipo de meio ambiente tutelado.
Nessa esteira de entendimento extrai-se que a proteção do conjunto de interações entre fatores bióticos e abióticos, visa alcançar a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é diretamente responsável pela conservação de todas as formas de vida e consequentemente, da qualidade dessa mesma vida.
Apesar da Constituição Federal, no artigo 225, referir-se a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o objeto desse direito conferido não se restringe apenas ao meio ambiente em si, mas a um meio ambiente qualificado. Isto é, o direito conferido a todos é a qualidade satisfatória de vida, convertida em bem jurídico. Por isso a Constituição define como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (AFONSO DA SILVA, 2002, p.56).
Diante do que já foi exposto, vale a pena obtemperar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem imaterial e autônomo de fruição comum a todas as pessoas, cujos componentes são responsáveis pelo entorno ecologicamente equilibrado e consequentemente pela conservação de todas as formas de vida.
Aliás, a interação desses componentes ambientais formam o que se denominada de “equilíbrio ecológico”. Neste particular, conforme aponta José Afonso da Silva (2002, p 56):
A Constituição no art. 225, declara que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Veja-se que o objeto do direito de todos não é o meio ambiente em si, não é qualquer meio ambiente. O que é objeto do direito é o meio ambiente qualificado. O direito que todos temos é à qualidade satisfatória, o equilíbrio ecológico do meio ambiente. Essa qualidade é que se converteu num bem jurídico. A isso que a Constituição define como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Nessa esteira de entendimento é o posicionamento de Abelha Rodrigues (2002, p. 60) que ao enxergar o meio ambiente como um conjunto de elementos
6 Seção 45, 1. Toda pessoa tem o direito de desfrutar de um ambiente adequado para o desenvolvimento do pessoa, bem como o dever de preservá-la.

480 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
bióticos e abióticos enfatiza que “os componentes ambientais não existem apenas para servir ao homem”, devendo este como integrante dessa cadeia, assumir a responsabilidade positiva e negativa em relação ao meio ambiente, devendo “lutar pela sua conservação e impedir a sua destruição, zelando pela proteção da salubridade desses elementos que se integram e se interagem”, assegurando “a manutenção do equilíbrio do ecossistema, até porque se assim não o fizer, será diretamente afetado por isso”.
Como é sabido, o meio ambiente ecologicamente equilibrado incorporou-se como um direito subjetivo e coletivo do homem, cabendo a este, juntamente com o Poder Público, a tarefa de manter o entorno ecologicamente equilibrado para as futuras gerações, pois o homem é parte indissociável do ecossistema, devendo respeitar seu papel e importância na conservação, manutenção e proteção do equilíbrio ecológico, sob pena de extinção dos fatores bióticos a bióticos e também da própria espécie humana.
Esquematicamente, pode-se afirmar que a proteção dos elementos bióticos e abióticos e sua respectiva interação visam alcançar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque este é responsável pela conservação de todas as formas de vida e consequentemente garante ao ser humano uma sadia qualidade de vida.
Assim tem-se assegurado: a) o direito fundamental individual, social e intergeracional (CF, artigo 225, caput); b) princípio-base da ordem econômica (CF, artigo 170, VI) e c) requisito essencial para a caracterização da função social da propriedade rural (CF, artigo 186, I, II e IV).
Desta maneira, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é a base moral e física na construção de uma sociedade justa, livre e solidária.
Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa faceta importante para a formação e garantia da dignidade humana — fundamento do Estado Democrático de Direito (CF, artigo 1º, III).
Assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente ligado à sadia qualidade de vida, por isso a tutela mediata do meio ambiente envolve a proteção da própria vida (CF, artigo 5°).

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 481
Todavia, essa tutela do direito à vida, não abrange somente a sobrevivência do homem, mas também uma vida sadia e com qualidade. E justamente por essa relação umbilical entre o direito à vida e o meio ambiente, é que este constitui o ponto de partida para o exercício dos demais direitos subjetivos do homem.
Na expressão a qualidade de vida vemos conjugada uma determinada finalidade do Poder Público que se revela como a possibilidade de garantir a felicidade do indivíduo e a proteção do bem comum expresso por uma vida saudável para todos os presentes e as futuras gerações.
É nesta linha de pensar que Cançado Trindade (1993, p. 75-76) relaciona meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadia qualidade de vida ao revelar que:
O caráter fundamental do direito à vida torna inadequados enfoques restritos do mesmo em nossos dias; sob o direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se mantém a proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas além disso, encontram-se os Estados no dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos e todos os povos. Neste propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios à vida
Por isso, situando-se em uma escala superior aos demais direitos, a estreita ligação da vida com o meio ambiente faz deste direito um limitador natural dos demais direitos subjetivos do homem. É o que ocorre, por exemplo, com o direito de propriedade que deve atender à função social, o direito urbanístico que deve atender as regras ambientais, etc.
Portanto, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da sadia qualidade de vida e dos bens ambientais, não se limita aos efeitos benéficos proporcionados apenas localmente, onde se operam tal direito.
De fato, as ações humanas em defesa do meio ambiente equilibrado é percebida em todo planeta, o que implica em reconhecer tal direito fundamental como de caráter difuso, global e universal.
Nesse sentido é certeira a colocação de José Afonso da Silva (2002, p.70):
O que é importante – escrevemos de outra feita – é que se tenha a consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os

482 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
demais direitos fundamentais do Homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há de estar acima de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como a da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de que, através dela, o que se protege é um valor maior: a qualidade de vida.
O legislador constitucional foi amplo no espectro da tutela ambiental, pois se preocupou não somente com a tutela da vida, mas aspirou conceder a todos uma vida digna e sadia em todas as suas formas.
Infere-se, portanto, que proteção do meio ambiente, da maneira como foi sistematizada pelo constituinte de 1988, não somente como parte de uma garantia constitucional, com regime de cláusula pétrea, mas como faceta importante para os fundamentos e princípios de um Estado Democrático de Direito.
Desta maneira, apesar da divisão do meio ambiente em natural, cultural, artificial e do trabalho, o seu conceito e objeto de tutela não pode ser tratado de maneira fragmentada em setores estanques, tendo que conectar-se a conceitos diferentes (território, paisagem, planejamento urbano, saúde), já que o conceito de meio ambiente é totalmente indissociável do direito à vida.
Há de se ver, ainda, que a sadia qualidade de vida, que pressupõe o respeito ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, compõe a dignidade da existência — objetivo da ordem econômica (CF, artigo 170) — e o bem-estar de todos — objetivo da ordem social (CF artigo 193).
Por tudo isso é dever do Poder Público e de toda a coletividade defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para preservá-lo para as presentes e futuras gerações, justificando-se a intervenção do Estado para controlar as atividades econômicas e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que coloquem em risco a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (CF, artigo 225, § 1º, V).
Enfim, como ressaltam Canotilho e Leite (2010, 128) o termo sadia qualidade de vida de ser interpretado da seguinte forma:

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 483
No caso brasileiro, a expressão parece indicar uma preocupação com a manutenção das condições normais (= sadias) do meio ambiente, condições que propiciem o desenvolvimento pleno (e até natural perecimento) de todas as formas de vida. Em tal perspectiva, o termo é empregado pela Constituição não no seu sentido estritamente antropocêntrico (a qualidade da vida humana), mas com um alcance mais ambicioso, ao se propor – pela ausência da qualificação humana expressa – a preservar a existência e o pleno funcionamento de todas as condições e relações que geram e asseguram a vida, em suas múltiplas dimensões.
No entanto, o estudo do meio ambiente e da ecologia leva o homem a enfrentar o desafio ecológico para a busca de um novo equilíbrio com o ecossistema e permite reflexões que levam a buscar tecnologias para a utilização de formas de energia não poluentes, com a utilização de recursos renováveis; a redução de agentes poluentes e utilização de biodegradáveis; o desenvolvimento de processos de reciclagem e combate aos desperdícios insensatos e outras fontes de energia.
Além disso, dados como os a seguir enumerados apresentados por José Manuel Alho (2004, p. 277/278) fazem a questão ambiental ganhar espaço na mídia e despertam o interesse de governos e da sociedade civil:
a população mundial quadruplicou em 100 anos passando de 1,6 bilhões em 1900 para 6 bilhões de pessoas no ano 2000.;
aumento vertiginoso da desertificação e solos degradados que geraram 815 milhões de pessoas mal nutridas pelo mundo;
escassez de água, poluição de rios, aquíferos e mananciais, excesso de consumo e chuva ácida acentuam a dificuldade para acesso a este mineral, que hoje não se encontra disponível para mais de mil milhões de pessoas;
destruição da biodiversidade: estima-se que a destruição atual é da ordem de 0,2% das espécies do planeta por ano;
aquecimento global: com a destruição da camada d
e ozônio e o aumento da temperatura, com alterações climáticas drásticas;
estima-se que 3 milhões de crianças no mundo morrem devido a má qualidade ambiental (água, químicos, poluição atmosférica);

484 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
5 milhões de pessoas/ano morrem devido a má qualidade da água ou por problemas sanitários;
aproximadamente 3 milhões de pessoas morrerem por problemas relacionados com a poluição atmosférica.
A importância destes temas representa apenas uma ilustração da dimensão dos problemas ambientais, que uma vez politizados passam a ser de interesse da mídia, pois como salienta Luisa Schmidt (2001, p. 130) “esta interligação entre media e ambiente é tão forte que hoje se pode dizer que os problemas ambientais já não são apenas factos do foro biofísico, mas também factos da opinião pública que se tem sobre eles – pois esta pode influenciá-los até fisicamente. Eles são tanto factos técnico-científicos como factos ético-políticos”.
Mas não é só. O conceito de meio ambiente passa a ser visto como um grande organismo e o homem inserido dentro deste contexto deve examinar suas condições psíquicas e somáticas, sendo que o bem estar humano deve estar aliado ao bem estar físico e intelectual e as relações Homem-Natureza não podem ser vistas sob a ótica de reflexões parciais.
Assim sendo, se por um lado a Natureza não pode ser encarada pelo viés de um conservacionismo exagerado, de outro não se permite mais que ela seja utilizada como objeto de conhecimento científico ou mero modelo de aprendizagem dos conhecimentos humanos.
Neste particular é necessário ter em conta que o termo Natureza pode ser tomado em várias acepções:
Espaço ameaçador ao ser humano que busca um lugar para proteção;
Lugar das intempéries naturais, que permite ao homem localizar espaços de proteção;
Lugar que causa medo, tal como a floresta e enseja uma luta com o desconhecido ou a necessidade de domínio;
Espaço de sabedoria e milenar experiência; Natureza vista como secular, sabia, mestra e capaz de produzir ensinamentos;
Lugar que carece de carece de proteção, em decorrência da instalação da degradação e poluição.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 485
As concepções mencionadas demonstram as opções feitas pelo homem durante o transcorrer da nossa civilização. Na civilização atual constata-se, porém, que a utilização dos recursos naturais ao longo de uma série de anos passou a ser privilégio de poucos que deles usufruem como querem, muitas vezes sem limites.
Além disso, atualmente vemos o mundo pós-moderno enfrentando diversas crises, dentre elas a do modelo econômico que não é capaz de oferecer igualdade de oportunidade a todos indistintamente.
De fato, o paradigma atual faz emergir um dilema ético que consiste em se saber se a humanidade ainda aceita viver sob o modelo capitalista, que se apropria da ciência e da alta tecnologia, concentrando riquezas nas mãos de poucos e gerando grande desigualdade entre os diversos países.
Este modelo como explicam Vidal de Souza e Cabrera (2012, p. 120)
(...) não tem capacidade de consagrar o mesmo padrão de distribuição de riquezas, pois não há condições de sustentabilidade do planeta. Um bom exemplo é imaginar se a maioria dos chineses e indianos pudesse ter a mesma condição econômica da classe média americana, com os mesmos hábitos de consumo. A fragmentação do modelo se daria pela via ambiental, pois a aceleração da destruição e a escassez dos recursos naturais são abruptas e irreversíveis.
Estas observações somadas aos dados apresentados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 2006 (2006, p. 269) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) demonstram a realidade não irá se modificar a curto prazo, eis que:
As 500 pessoas mais ricas do mundo têm um rendimento de mais de 100 mil milhões de dólares, sem tomar em consideração a riqueza de activos. Isso excede os rendimentos combinados dos 416 milhões mais pobres. A acumulação de riqueza no topo da distribuição de rendimento global tem sido mais impressionante do que a redução de pobreza na base. O Relatório Mundial sobre Riqueza de 2004, preparado por Merrill Lynch, avança que a riqueza de activos financeiros dos 7,7 milhões de «indivíduos de elevado valor líquido» atingiu os 28 biliões de dólares em 2003, com um crescimento previsto de 41 biliões de dólares até 2008.

486 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
Não obstante todas estas considerações é conveniente ainda destacar que o iluminismo do final do século XVIII faz florescer as liberdades individuais, que repercutem na construção do conceito de cidadania política durante todo o século XIX, época em que também se inicia o movimento da revolução industrial.
A revolução industrial é um marco de mudanças profundas nas atitudes humanas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos.
Neste sentido, Cristovam Buarque (1993, p. 158) destaca com precisão, que “o consumo de massa passou a ser símbolo da utopia, e padrão de medição de qualidade de vida. No capitalismo, produzido e distribuído graças às leis do mercado; no socialismo, graças à intervenção do Estado” e, ainda, “mais, recentemente, a humanidade teve o sentimento de que a utopia havia chegado, ainda que não para todos” e, arremata ao explicar que depois o conceito de qualidade de vida “foi substituído pelo de modernidade; o símbolo da qualidade de vida passou a ser menos o bem estar conseguido graças ao uso de bens do que o consumo do próprio bem e uso das máquinas de última geração”.
Contudo, o processo de produção alucinada faz nascer no século XX outras mudanças que envolvem os valores humanos.
Nasce assim, paulatinamente, um movimento ambientalista integrado por profissionais liberais, naturalistas, políticos e representantes das diversas áreas da sociedade civil, com o objetivo de refletir e reavaliar as prioridades econômicas, tendo em conta que a natureza é finita e a Terra integra um sistema que possui regras e princípios que devem ser observados sob pena de ameaça à existência de todos os seres vivos que nela habitam.
Desta maneira, a necessidade do homem obter condições de vida e de viver em um meio ambiente com qualidade e direito a uma vida saudável foi inicialmente consagrado em na sessão preparatória de Founeux e na Conferência de Estocolmo (1972). Neste sentido, Ignacy Sachs (1986, p. 90) explica que:
No seminário de Founex e na Conferência de Estocolmo, deu-se ênfase à necessidade de considerar a gestão racional do ambiente e dos recursos naturais como dimensão adicional e não propriamente como nova forma de desenvolvimento econômico.
Salvo em condições excepcionais de países não apenas ricos mas que também tenham uma e estrutura equitativa de distribuição de

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 487
renda, não se poderá atingir uma melhor qualidade de vida, sem um crescimento econômico cujos resultados sejam equitativamente distribuídos.
O primeiro passo a ser dado seria eliminar a poluição resultante da pobreza e, ao mesmo tempo, adotar medidas para evitar que o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial tenham repercussões desfavoráveis na sociedade e no ambiente e com isso venha a anular os efeitos benéficos do crescimento do produto. Por outros palavras, ter consciência dos problemas ambientais implica buscar mais usos e métodos diferentes de crescimento do eu uma taxa zero de crescimento.
Depois esta ideia foi reforçada na Conferência das Nações Unidas - Rio 92, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ao estabelecer princípios que aliaram o conceito de desenvolvimento sustentável à vida saudável, como os seguintes:
Princípio 1: Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.
Princípio 8: Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas.
Desta forma como enfatiza Wagner Costa Ribeiro (2003, p. 404):
De maneira geral pode-se associar o ambientalismo em suas diver-sas matrizes com a luta pela cidadania. Ao proporem a manutenção das condições naturais, seja preservando-as, seja conservando-as, os ambientalistas colaboram, junto com outros segmentos sociais, para construir um mundo mais equilibrado na apropriação dos recursos naturais. Um mundo com mais qualidade de vida e que possa ser experimentado também pelas gerações futuras – algo que alguns autores preferem denominar de cidadania ambiental.
Contudo, na atualidade a integração e o equilíbrio econômico, as preocupações sociais e ambientais são fundamentais para a conservação da vida humana na Terra, sendo que esses objetivos só serão alcançados se lançarmos um novo olhar para o

488 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
que produzimos, consumimos, vivemos, trabalhamos e como nos relacionamos com as pessoas ou como tomamos decisões.
Por isso, conhecimento científico, tecnologia, técnica, sem ética geram projeto civilizatório que prega a igualdade entre os homens, mas os divide em civilizados e bárbaros, incluídos ou excluídos, participantes ou não participantes do processo social e econômico mundial.
Por isso, Cristovam Buarque (1993, p. 160) enfatiza que qualidade de vida deve “incorporar a igualdade como meta mudando os produtos; ou manter os produtos e não sentir preocupações com a igualdade. A opção é entre a mesma qualidade de vida, com apartheid; ou nova qualidade de vida, que elimine o apartheid”.
Assim sendo, embora os problemas sejam graves e diversificados deve-se buscar a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais, nos campos teórico e prático, para se evitar a pobreza, as deficiências de alimentos, os vários tipos de exploração humana e os preconceitos de qualquer espécie, reconhecendo a diversidade, tudo para tornar o mundo melhor. Assim sendo, a ética é fundamental para auxiliar a definir o que é qualidade de vida.
Ao final, o desenvolvimento econômico que permita que as necessidades humanas básicas sejam atendidas com a superação das privações e das desigualda-des garantirá uma vida boa a todos e demonstrará que o projeto civilizatório atual de fato se preocupa em definir com dados concretos o que é qualidade de vida e qual a sua importância para a humanidade, deixando o termo de ser meramente panfletário, poroso e atrelado às regras de mercado e consumo.
5. conclusões
O presente artigo buscou analisar o conceito de qualidade de vida diante das diversas áreas do conhecimento, bem como, no âmbito do direito, a partir da regra prevista no artigo 225 caput da CF, juntamente com o conceito de meio ambiente.
Constatou-se, por primeiro a grande confusão existente no emprego da expressão qualidade de vida. De fato, viu-se que esta comumente está associada a

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 489
atividade física, consumo de alimentos, etiqueta, cuidados com a saúde, obtenção de bens materiais, etc.
Além disso, ser impossível se adotar uma definição de qualidade de vida a partir da definição de dicionários e, simultaneamente, aplica-la à nossa vivência. Enfim, tem-se que qualidade de vida é mais que uma definição teórica ou uma fórmula de ordem prática.
Porém, no modelo capitalista dominante a expressão em questão se associa a ideia de prazer e consumo.
De fato, muitas pessoas entendem que o prazer e a possibilidade de consumo se revelam como o derradeiro objetivo da vida. Essa visão utilitarista tem marcado a ideia de qualidade de vida na atualidade.
No campo do direito, porém, em especial na esfera ambiental, qualidade de vida não pode ser encarada como mera possibilidade de realização de experiências intensamente prazerosas.
Com efeito, tal visão hedonista e ilimitada não leva em consideração as emoções e os estados de espírito positivos da humanidade, no qual a maioria se vê alijada de ter a possibilidade de consumir para satisfazer suas necessidades básicas e fundamentais.
Além disso, tal situação tem gerado um imenso fosso distinguindo aqueles que podem consumir daqueles que não podem, aumentando a desigualdade e enfatizando a ideia de que o conceito qualidade de vida deve ser determinado pelas leis do mercado.
Por esta razão, o conceito de qualidade de vida em matéria ambiental deve estar atrelado aos valores éticos da igualdade, racionalidade econômica e desenvolvimento, de tal forma que a compreensão de meio ambiente seja a interação de elementos naturais, artificiais e culturais, que propiciam uma boa vida para todas as gerações presentes e futuras.
Assim, o conceito de qualidade de vida deixa de ser algo utópico para ser algo possível. Um projeto societário nestes moldes permite que todos possam ter a possibilidade de obter o equilíbrio das condições físicas e mentais, acesso aos recursos e avanços tecnológicos e científicos e possam buscar o atendimento

490 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
de suas necessidades básicas. Com isso, todos poderão obter bem estar físico e mental, capaz levar à autorreflexão e ao atingimento da almejada felicidade, a partir de um meio ambiente saudável.
6. referências
ALHO, José Manuel. Ambiente, Cidadania e Futuro. In Cristina Beckert; Maria José Varandas (org.). Éticas e Políticas Ambientais. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004.
BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm> acesso em 30.mai.2013.
BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos e. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 9, jan.-mar. 1998, p. 74-136.
BUARQUE, Cristovam. Qualidade de vida: A modernização da Utopia Lua Nova Revista de Cultura e Política, São Paulo: Cedec, nº. 31, 1993.
CONFIRA O RANKING DAS 50 MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO. <http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-mundial/>. acesso em 02.jun.2013.
DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-VIMENTO. http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. acesso em 01.jun.2013.
DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO – 1972 <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf> acesso em 30.abr.2013.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 128.
COIMBRA, José de Ávila Aguiar. O outro lado do meio ambiente. São Paulo: CETESB, 1985.

i encontro de internacionalização do conpedi
volume 12 491
FARIAS, Paulo José Leite. Competência Federativa e Proteção Ambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999.
LINHARES, Paulo Afonso. Direitos Fundamentais e Qualidade de Vida. São Paulo: Iglu, 2002.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
MATEO, Ramón Martín. Derecho Ambiental. Madri: Instituto de Estudio de Administración Local, 1977.
MATEO, Ramón Martín. Tratado De Derecho Ambiental. Vol. 1. Madrid: Trivium, 1991.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
NAHAS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida. Londrina: Midiograf, 2003.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Glossário de promoção da saúde. Genebra: OMS, 1998.
POSTIGLIONE, Amadeo. Ambiente: suo significato giuridico unitário. Rivista Trimestrale di Diritto Publico, anno XXXV, 1985, p. 32-57.
RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DE 2006 - A água para lá da escassez: poder, pobreza e a crise mundial da água. Trad. da edição portuguesa do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). New York: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2006.
RIBEIRO, Wagner Costa. Em busca da qualidade de vida. In. Jaime Pinsky; Carla Bassanezi Pinsky (orgs.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. Volume 1. Parte geral. São Paulo: Editora Max Limonad, 2002.

492 volume 12
i encontro de internacionalização do conpedi
SACHS, Ignacy. Ecosenvolvimento crescer sem destruir. São Paulo: Vértice, 1986.
SCHIMIDT, Luisa. Representações Ambientais e os Media – da vida animal à questão nuclear. In Cristina Beckert (coord.) Natureza e Ambiente: Representações na Cultura Portuguesa. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001.
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.
SOUZA, José Fernando Vidal de. Água: Fator de Desenvolvimento e Limitador de Empreendimento. São Paulo: Editora Modelo, 2011.
SOUZA, José Fernando Vidal de; CABRERA, José Roberto. O pensamento marxista e a problemática ambiental. In Direitos Fundamentais Coletivos e Difusos: Questões sobre a fundamentalidade. São Paulo: Verbatim, 2012, p. 119-140.
TRINDADE, Antonio A. Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelos dos Sistemas de Proteção Internacional. Porto Alegre: Sérgio Frabis Editor, 1993.