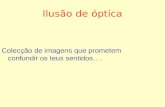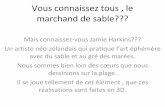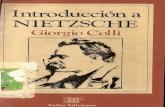Conhecimento, Ilusão e Arte no jovem Nietzsche.pdf
Transcript of Conhecimento, Ilusão e Arte no jovem Nietzsche.pdf
-
Resumo Este artigo explora as relaes entre conhecimento, ilu-so e arte, tendo como referncia os primeiros escritos de Niet-zsche. Nesses textos, dentre os quais destacamos O nascimento da tragdia, verdade e mentira num sentido extra-moral e outros publicados apenas postumamente, segue um duplo movimen-to: aquele em que a constituio da imagem negativa do co-nhecimento cientfico vincula-se tematizao da destruio da arte trgica; o outro, em que se chega constatao do carter superficial do conhecimento por meio da anlise da recusa de uma pulso primitiva de conhecimento. A descoberta dos con-dicionantes sociais e antropolgicos (egostas) daquela pulso conduz tematizao da teoria cultural e civilizatria de Nietzs-che, momento em que se retorna ao tema da arte, pois, como pretendemos demonstrar, a reflexo do jovem Nietzsche sobre o conhecimento jamais permanece restrita ao plano meramente epistemolgico, alcanando significado mais radical na conexo crtica que estabelece entre o conhecimento, a arte e a cultura, mediada pela noo de iluso.Palavras-chave Nietzsche, arte, conhecimento, cultura, ilu-so.
Abstract This article explores the relations between knowl-edge, illusion, and art based on Nietzsches first writings. In these writings, with emphasis to The birth of tragedy: on truth and lie in an extra-moral sense and other posthumously published texts, there is a double movement: one in which the constitu-tion of the scientific knowledges negative image is linked to the thematization of the tragic arts destruction; and another, when one testifies to the knowledges superficial character through the analysis of the refusal of a primitive impulse of knowledge. The discovery of the social and anthropological (selfish) condi-tions of that impulse leads to the thematization of Nietzsches cultural and civilizing theory, when one returns to the subject of art, because, as we shall to demonstrate, young Nietzsches reflections on knowledge are never restricted to a merely epis-temological plan, reaching a more radical meaning in the critical connexion between knowledge, art and culture mediated by the notion of illusion.Keywords Nietzsche, art, knowledge, culture, illusion.
Jos Fernandes Weber
Universidade Estadual de Londrina (UEL)[email protected]
ConheCimento, iluso e Arte no Jovem nietzsCheKnowledge, Illusion And Art In The Young Nietzsche
-
36 Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
necessrio estabelecer uma pro-posio: s vivemos graas s ilu-ses a nossa conscincia toca a superfcie.1
Introduo
O que significa no pensamento de Niet-zsche a valorizao da arte? Estar-se--ia na presena de um pensamento que prope a destruio irrestrita da filosofia e da cincia, fundando um esteticismo omnia-brangente e simplificador? A imagem de um Nietzsche poeta, crtico da razo, pai do irra-cionalismo do sculo XX, est profundamente ligada a essa interpretao. Vrias razes con-triburam para a cristalizao desse modo de conceber seu empreendimento crtico.
Uma primeira razo se deve a uma cer-ta interpretao do sentido das reflexes e dos juzos do filsofo sobre a arte, associada caracterstica da primeira recepo da sua obra na Europa, principalmente na Alemanha, ocorrida maciamente no mbito das artes, em especial da literatura. Alm do encanta-mento provocado pelo pathos da escrita niet-zscheana, causava profunda impresso nos crculos literrios o destino do homem, este afundado na loucura e na solido. E como aps o romantismo tornou-se comum a vincu-lao no apenas entre loucura e genialidade, mas entre loucura e verdade, pois o poeta sur-gia como um emissrio da verdade, a recep-o literria de Nietzsche concedia-lhe supe-rioridade na exata medida em que lhe negava o qualificativo de filsofo, em que se operava uma ciso entre a sua empreitada e aquilo que caracterizava o empreendimento filosfi-co, sendo que a sua singularidade residia em ter indicado os limites da razo e provocado, na linguagem e na prpria vida, a abertura ao mistrio, ao silncio.2
1 NIETZSCHE, 1988, p. 434.2 A respeito da recepo de Nietzsche nos
meios artsticos alemes, principalmente literrios, do incio do sculo XX, conferir: HILLEBRAND, 1978.
Um corolrio tentador a essa tese, man-tendo a importncia da conjuno arte-lou-cura, consiste em interpretar a loucura como ltima grande obra de Nietzsche, pois signi-ficaria a adeso plena do autor aos prprios pressupostos do seu pensamento, a saber, a rendio e a entrega ao mundo como ele : ca-tico. A no ser que se queira reforar a mito-logia, concedendo que a loucura seja a snte-se projetada conscientemente, o grand finalle apotetico de uma subjetividade que decide autarquicamente deixar de ser razovel para sempre, no se poder mais insistir na loucura de Nietzsche como decisiva para a compreen-so do seu pensamento, pois tal deciso pare-ce ser ainda demasiadamente razovel. H um procedimento hermenutico bem mais produtivo para dimensionar adequadamente esse problema: recorrer s prprias obras do autor nas quais h reflexes radicais sobre os limites e o colapso da subjetividade. Tal pro-cedimento nos isenta de termos de enlouque-cer para apreender o que estaria em jogo na loucura de Nietzsche. O que no significa que no seja produtivo introduzir a temtica da loucura enquanto topos para se pensar a cr-tica razo e ao fundamento subjetivo, desde que, porm, no se continue a caracterizar a loucura de Nietzsche como argumento.
Outra razo importante se deve identi-ficao, no prprio ncleo do pensamento de Nietzsche, de traos fortemente irracionalis-tas, que permitiram associar seu pensamen-to tanto a empreendimentos poltico-raciais, como o nazismo, quanto a um pacto, mesmo que inconsciente, de classe. O representante maior dessa via interpretativa do pensamento de Nietzsche Georg Lukcs.
Em A Destruio da Razo, obra publi-cada em 1953, Lukcs pretende destacar a trajetria fundamental do desenvolvimento do irracionalismo, analisando suas principais etapas e seus principais representantes3, ra-zo pela qual concede destaque a Nietzsche nico autor a quem dedicado um captulo exclusivo, Captulo III. Nietzsche, fundador
3 LUKCS, 1959, p. 3.
-
37Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
do irracionalismo do perodo imperialista , pois em sua obra seria possvel apreender o decisivo da filosofia burguesa: sua luta contra o socialismo.4 Nietzsche interessava na medi-da em que ele possua
[...] um talento nada desdenhvel [...] No h dvida de que ele pos-sua um sentido muito sutil para antecipar-se aos acontecimentos, uma sensibilidade especial no cam-po da problemtica para perceber aquilo que a intelectualidade para-sitria necessitava no perodo impe-rialista [...] Isso lhe permitiu abarcar campos muito amplos da cultura, iluminar seus problemas candentes com aforismos engenhosos, satis-fazer os instintos de descontenta-mento e, s vezes, at de rebeldia destes crculos intelectuais parasi-trios com gestos aparentemente hiper-revolucionrios e fascinantes, ao mesmo tempo em que dava a todos estes problemas, ou ao me-nos assim o sugeria, uma soluo atenta aos matizes e sutilezas de sentido do contedo robusto e re-volucionrio de classe da burguesia imperialista.5
Contudo, Lukcs no se dispe a ana-lisar e a apreender o sentido filosfico pro-priamente dito da sua obra, pois diz ele: Se intentssemos examinar atravs do prisma lgico-filosfico estas manifestaes de Niet-zsche, veramos alar-se diante de ns um desolado caos das mais absurdas e arbitrrias afirmaes, manifestamente contraditrias umas com as outras.6 Assim, Nietzsche inte-ressava-lhe exclusivamente como represen-tante privilegiado da burguesia reacionria e da filosofia burguesa irracionalista do perodo imperialista, pois, como filsofo, era o criador
4 A esse respeito, conferir: Ibid., p. 322.5 Ibid., p. 254.6 Ibid., p. 322.
de uma obra absurda, contraditria, arbitr-ria, catica e isso por razes de classe. Por tais motivos, sua obra s valeria como docu-mento das motivaes de classe, haja vista seu nfimo valor filosfico. Em comum com a recepo literria alem do incio do sculo XX, embora por razes distintas, Nietzsche in-teressava a Lukcs, sobretudo por razes no filosficas.
Embora filosoficamente mais sbrio e menos parcial do que Lukcs, Jrgen Haber-mas tambm contribuiu para reforar aque-le juzo negativo sobre Nietzsche enunciado no incio deste texto, embora no abdique do exerccio de um pensar mais rigoroso pela mera posio de classe tanto de Nietzs-che quanto do intrprete, como o caso de Lukcs. Apesar disso, Habermas interpreta o pensamento de Nietzsche tambm de um modo parcial, pois, em primeiro lugar, afirma ser metafsica a concepo de arte de Nietzs-che, o que mostra que no distingue entre as distintas concepes de arte em Nietzsche facilmente detectveis em diferentes obras7, mantendo-se inequivocamente no registro de O Nascimento da Tragdia, o que mostra uma interpretao, no mnimo, parcial.8 Levando em conta o desejo de Habermas de formular um juzo sobre a obra de Nietzsche, seria, no apenas desejvel, mas necessrio, que ele abordasse a obra do filsofo como um todo. Em segundo lugar, continua uma tradi-o interpretativa que concebe vontade de poder como um princpio metafsico, e no apenas, mas como [...] a verso metafsica do princpio dionisaco9, curiosa afirmao que no recebe nenhuma demonstrao em seu texto; e, por fim, ao dizer que
O mundo que ns constitumos neste marco literalmente um pro-jeto tpico de nossa espcie, uma perspectiva que depende contin-
7 A respeito dos distintos significados que o termo arte recebe na filosofia madura de Nietzsche, portanto aps Humano, Demasiado Humano, conferir: RABELO, 2011.
8 A esse respeito, conferir: HABERMAS, 2002, p. 128-141.9 Ibid., p. 139.
-
38 Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
gentemente de determinado equi-pamento orgnico do homem e das constantes da natureza que o circun-da. Mas, no por isso arbitrrio.10
Habermas pretende refutar a compreen-so expressa por Nietzsche em seus primeiros escritos, principalmente em Verdade e Mentira num Sentido Extra-moral, segundo a qual o no necessrio e o arbitrrio presidem a formao do conhecimento. E aqui, embora conceda va-lor filosfico obra nietzscheana, diferenciando seu juzo tanto da recepo literria alem do incio de sculo XX quanto das consideraes de Lukacs, Habermas o faz com o intuito maior de mostrar os equvocos filosficos de Nietzsche.
Tendo em vista tais modos tpicos de in-terpretar o pensamento de Nietzsche, buscar--se- mostrar que tais caracterizaes negati-vas, que simplificam ao equvoco sua teoria da arte e recusam validade s suas reflexes sobre o conhecimento, resultam de uma in-compreenso que consiste em no conside-rar atentamente a necessria conjuno de arte e conhecimento na obra de Nietzsche. Assim, ao mostrar a relao entre os temas da iluso, da arte e da negao da existncia de uma pulso primitiva de conhecimento11, apreende-se as razes pelas quais Nietzsche 10 Idem, 1982, p. 55.11 No original, Erkentnistrieb. A traduo desse termo
problemtica. Usualmente, trieb traduzido por instinto. Embora seja uma traduo possvel, instinto guarda uma carga de condicionamento biolgico que, no caso de Erkentnistrieb, se revela inadequado, pois, como se ver em seguida, para Nietzsche no existe uma faculdade natural de conhecimento no homem. Se esta constatvel, trata-se de algo criado. Assim, restaria o uso de impulso. Porm, como lembra Paulo Csar de Souza, o uso de impulso para a traduo de Trieb pode provocar dificuldades dado seu carter momentneo, passageiro. Contudo, antes de inviabilizar o emprego de impulso para a traduo de Trieb, essa objeo refora-o, pois Nietzsche pretendeu mostrar que no existe uma faculdade de conhecimento constante, um instinto absolutamente condicionante. Dessa forma, poder-se-ia interpretar o conhecimento como um impulso momentneo. Em outros termos, no existe instinto de conhecimento, e sim impulso ao conhecimento que momentneo. Para uma discusso mais detalhada a respeito da traduo de trieb, ver a nota n. 21 em NIETZSCHE, 1992a, p. 216-220.
sustenta que o pensamento deve ser guiado pelos cnones da arte, e no por ela ser anula-do ou destrudo. Qual seria o sentido de uma negao irrestrita da razo e do pensamento que se efetivasse por meio da razo e do pen-samento? Assim, trata-se de investigar a rela-o entre arte e conhecimento, inserindo-a na discusso sobre tanto a negao da existn-cia de uma pulso primitiva do conhecimento quanto do domnio da compulso ao conheci-mento, com o que se busca apreender o n-cleo argumentativo da anlise nietzscheana acerca da especificidade do conhecimento. Para tanto, sero privilegiados os escritos de Nietzsche compreendidos entre o vero de 1872 e o ano de 1873, portanto imediatamen-te posteriores publicao da obra O Nasci-mento da Tragdia, na qual tal relao mais diretamente tematizada.
Conhecimento, iluso e arte no jovem Nietzsche
As anlises empreendidas por Nietzsche em seus primeiros escritos foram profunda-mente marcadas pela reflexo em torno da relao entre arte e cincia e das suas con-sequncias para a edificao da cultura. Se-gundo ele, nenhuma reflexo sobre a cultura poderia furtar-se a essa problemtica a ponto de o destino da cultura futura depender da soluo desse impasse.12
J em O Nascimento da Tragdia Nietzs-che propunha uma anlise que situava o pro-cedimento cientfico-racionalista euripideano e socrtico, o qual culminou na destruio do tr-gico, como um conhecimento limitado interna-mente pela sua forma e pelas suas pretenses.
Agora, porm, a cincia, esporea-da por sua vigorosa iluso, corre, indetenvel, at os seus limites, nos quais naufraga seu otimismo oculto na essncia da lgica. Pois a perife-ria do crculo da cincia possui infini-tos pontos e, enquanto no for pos-svel prever de maneira nenhuma
12 NIETZSCHE, 1988, p. 424-425.
-
39Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
como se poder alguma vez medir completamente o crculo, o homem nobre e dotado, ainda antes de chegar ao meio de sua existncia, tropea, e de modo inevitvel, em tais pontos fronteirios da periferia, onde fixa o olhar no inesclarecvel. Quando divisa a, para seu susto, como, nesses limites, a lgica passa a girar em redor de si mesma e acaba por morder a prpria cauda ento irrompe a nova forma de conheci-mento, o conhecimento trgico, que, mesmo para ser suportado, precisa da arte como meio de prote-o e remdio.13
A radicalidade da interpretao niet-zscheana consiste menos em afirmar que o conhecimento cientfico se encontra limi-tado por seus prprios pressupostos, e sim em mostrar que do prprio limite da cincia emerge um outro tipo de conhecimento, o co-nhecimento trgico, que irrompe exatamente da fissura aberta pela constatao do limite e das limitaes do conhecimento cientfico. O horizonte descortinado pela constatao dos limites do conhecimento cientfico revela, de maneira incontornvel, a necessidade e a ex-celncia da arte. Ento, impe-se a concluso de que a arte no um acessrio arbitrrio sobreposto por Nietzsche sua reflexo do conhecimento e da cultura. No seu entender, a arte revela uma vivncia e uma apropriao de sentido da existncia estranhas tendn-cia cientfica, mais propriamente negadas pela cincia, convertendo-se em atividade decisria para as questes culturais e em pro-cedimento de domnio da busca irrefreada de conhecimento.14
Do reconhecimento da superficialidade do conhecimento racional irrompe a consci-ncia do conhecimento trgico do mundo me-diado pela experincia artstica ou por uma
13 Idem, 1992b, p. 95.14 A esse respeito, conferir: Idem, 1988, p. 419-420.
intuio artstica da existncia. Conscincia do limite no implica uma negao incondi-cional do conhecimento, mas um devido dis-tanciamento frente aos remdios propostos pelas teorias redentoras da existncia. Nos primeiros escritos de Nietzsche, a arte trgi-ca figurou como o polo de irradiao da ho-nestidade intelectual, que implicava o reco-nhecimento daquele limite. Porm, a linha de demarcao dos domnios especficos da arte trgica e do conhecimento racional a mes-ma que aponta para os limites nos quais arte trgica e conhecimento racional so inevita-velmente fronteirios. Uma fronteira no de-marca apenas uma linha de separao, marca, tambm, uma zona de pertena incontorn-vel. No mbito do problema da formao (Bil-dung), que aparece vinculado reflexo sobre a arte, a cultura e o conhecimento, Nietzsche uniu aqueles dois domnios, assentando sobre eles os princpios de sua teoria da formao15. De acordo com essa motivao, em sua teoria da formao, Nietzsche desenvolveu a ideia de que o conhecimento trgico seria aquele em que a incorporao da arte pelo conhe-cimento racional produzisse conhecimentos que afetassem os formandos, despertando neles a atividade. Ou seja, a teoria nietzsche-ana da formao situa-se no exato limite, no ponto fronteirio entre o conhecimento ra-cional e a arte trgica, sendo que o problema da instaurao do conhecimento trgico ser-viu de intensa motivao para a reflexo niet-zscheana sobre a formao16.
Nos escritos dos anos de 1872 e 1873, Nietzsche analisou essas questes em
15 A esse respeito, conferir: WEBER, 2008.16 Embora Nietzsche no desenvolva ou aprofunde
esse tema em O Nascimento da Tragdia, a consulta aos escritos publicados sob a epgrafe Fragmentos Pstumos relativos aos anos de 1869-1874 constantes no volume 7 da Kritische Studienausgabe, organizada por Colli e Montinari no deixa dvida sobre a relevncia do tema da Bildung (formao) no conjunto dos estudos e das anlises empreendidas por ele no perodo mencionado, bem como a posio estratgica do conceito de formao para as anlises nietzscheanas da cultura.
-
40 Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
consonncia com as suas investigaes sobre a especificidade do conhecimento e do impul-so de conhecimento. Para tanto, criou uma fbula na qual, irnica e criticamente, apresen-tou a peripcia da inveno do conhecimento.
Em algum remoto rinco do univer-so cintilante que se derrama em um sem-nmero de sistemas solares, havia uma vez um astro, em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da his-tria universal: mas tambm foi somente um minuto. Passados pou-cos flegos da natureza, congelou--se o astro, e os animais inteligentes tiveram de morrer. - Assim poderia algum inventar uma fbula e nem por isso teria ilustrado suficien-temente quo lamentvel, quo fantasmagrico e fugaz, quo sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades, em que ele no estava; quando de novo ele tiver passado, nada ter acontecido. Pois no h para aquele intelecto nenhuma misso mais vasta, que conduzisse alm da vida humana. Ao contrrio, ele humano, e somente seu pos-suidor e genitor o toma to pate-ticamente, como se os gonzos do mundo girassem nele.17
A ousadia dessa fbula evidente: o co-nhecimento, o intelecto, a lgica, a linguagem e a verdade no passam de arbitrrias cons-trues advindas das necessidades impostas pela condio humana. O homem o prprio genitor do seu intelecto. Antes de fundar um antropologismo radical, esses argumentos so acionados por Nietzsche em sua crtica metafsica. E para intensific-la, nada melhor do que mostrar Que atrs das coisas h algo inteiramente diferente: no seu segredo
17 NIETZSCHE, 1978, p. 45.
essencial e sem data, mas o segredo de que elas so sem essncia, ou que sua essncia foi construda pea por pea a partir de figuras que lhe eram estranhas.18
Num primeiro momento, poder-se-ia in-terpretar o carter arbitrrio das construes humanas como sendo resultado de uma falha, de uma desateno como quando se diz, por exemplo, que a descrena o sinal de uma falta do descrente, a saber, a sua no aber-tura a Deus. O princpio que conduz tal modo de considerar o problema se expressa nos seguintes termos: desde que razoavelmente conduzido, o nosso intelecto, sustentado pela nossa f, conduzir-nos-ia presena de Deus. Para Nietzsche, tal princpio interpretativo que no se restringe ao mbito das prticas religiosas insustentvel, pois introduz por detrs das coisas, um ser que figura como fundamento unificador e critrio de verdade, pressupondo como evidente aquilo que deve-ria ser demonstrado. Sustentar que a dife-rena, e no a identidade, que marca as coisas procedimento distintivo do pensamento de Nietzsche implica em definir aquela arbitra-riedade do conhecimento no como uma fa-lha ou um descuido, e sim como o atestado da constituio humana que no se esgota na lgica, que no possui no conhecimento o seu grau mais elevado e que se v enredado em questes, das quais as respostas lhe escapam vista: [...] seria ele sequer capaz de alguma vez perceber-se completamente, como se es-tivesse em uma vitrina iluminada? No lhe cala a natureza quase tudo?.19
A diluio das explicaes metafsicas que postulam uma origem miraculosa por trs dos acontecimentos, potencializada pela afirmao da arbitrariedade de tudo aquilo que diz respeito ao homem, guarda estreita relao com a teoria nietzscheana da super-ficialidade do intelecto. Segundo Nietzsche, [...] a nossa conscincia toca a superfcie.20 Porm, o carter superficial do intelecto no
18 FOUCAULT, 2008, p. 262.19 NIETZSCHE, 1978, p. 46.20 Idem, 1988, p. 434.
-
41Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
diz respeito ao nosso desconhecimento da es-sncia das coisas, ou seja, uma falha do nosso intelecto, e sim ao fato incontornvel de que conhecer alguma coisa significa constru-la na operao intelectiva. O mais desolador desse procedimento concluir que as foras que operam nas coisas continuam inteiramente desconhecidas. Isso se d porque a atividade intelectiva apresenta-se por meio da classifi-cao, da nomeao, possibilitando conhe-cimento apenas do aspecto quantitativo das coisas, jamais dizendo respeito s suas quali-dades. Nosso intelecto, a nossa conscincia, constitui-se de tal maneira que buscamos o sentido por detrs das coisas, no perceben-do que no existem seno mscaras.
Pode-se dizer que o conhecimento no faz parte da natureza humana da mesma ma-neira que os instintos e as pulses. Afirmar que o homem o genitor do intelecto signi-fica dizer que o intelecto de origem tardia, instituindo-se aps uma longa sobrevida dos instintos. A fbula criada por Nietzsche insere--se no contexto de desmascaramento da tra-dio metafsica, pois procura mostrar o grau de arbitrariedade das opes requisitadas como objetivas, verdadeiras, logicamen-te demonstrveis. Se o que est em questo a demonstrao da arbitrariedade e do fal-seamento operado no mbito das atividades intelectivas, enfim, do seu carter artificial, nada mais apropriado do que alargar a anlise introduzindo o problema do instinto de cren-a e do fundamento social da verdade. Nesse particular, o projeto nietzscheano consistia em mostrar que, se no existe um instinto de conhecimento, resta ainda a tarefa de elucidar os mecanismos pelos quais os homens criam, mantm e perpetuam a crena no conheci-mento a ponto de recusarem lembrana di-menso arbitrria que o constitui, instituindo uma crena, a crena na verdade, definidora de toda a organizao social. Ou seja, tratar-se-ia de apontar para a dimenso moral do conheci-mento, como mostra Roberto Machado:
Desde o incio, a investigao niet-zscheana sobre o conhecimento
no se limita ao interior da questo do conhecimento, mas o articula com um nvel propriamente poltico ou social com o objetivo de mos-trar que a oposio entre verdade e mentira tem uma origem moral.21
Nesse ponto da questo do conhecimen-to toca-se em um dos aspectos fundamentais do pensamento nietzscheano:, No existe uma pulso de conhecimento e da verdade, mas apenas uma pulso de crena na ver-dade; o conhecimento puro destitudo de pulso.22 Quer dizer, o que dirige o conhe-cimento de forma subterrnea a crena na verdade. Essa tese acarretou consequncias crticas de longo alcance para uma tradio filosfica, moral, religiosa, que interpretava o conhecimento como a atividade pela qual o homem se distinguia dos entes, ocupando o grau mais elevado da cadeia destes. No que Nietzsche quisesse operar uma retrograda-o do homem ao animal. Ele pretendia, sim, chamar a ateno para o fato de que no se pode operar a distino e a especificao do homem com relao aos demais entes a partir de uma atividade no originria. Alm de ser tardio, posterior aos instintos, a posse do inte-lecto no deveria ser motivo de orgulho, pois
O intelecto, como um meio para a conservao do indivduo, desdo-bra suas foras mestras no disfar-ce; pois este o meio pelo qual os indivduos mais fracos, menos ro-bustos, se conservam, aqueles aos quais est vedado travar uma luta pela existncia com chifres ou pre-sas aguadas.23
21 MACHADO, 1985, p. 43.22 NIETZSCHE, 1988, p. 631. Por essa razo, todas as
referncias a esse problema devem incorporar essa negativa, motivo pelo qual so utilizadas neste texto as expresses domnio da busca irrefreada de conhecimento, ou domnio da compulso ao conhecimento, jamais domnio da pulso de conhecimento.
23 Idem, 1978, p. 45.
-
42 Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
Se o que conduz os homens a sua cren-a na verdade, e no a verdade ela mesma, possvel afirmar que: 1. O objeto de crena varivel; 2. O contedo de verdade contido na crena tambm varivel; 3. A verdade no objetiva, subjetiva; 4. Embora a cren-a seja um procedimento genrico pulso de crena na verdade , ela se sustenta na particularidade dos elementos que entram na relao de crena, o que por si s destitui de validade a interpretao que vincula ver-dade objetividade.
Mas, afinal, como nasce a crena na ver-dade? Para o autor,
A verdade aparece como uma ne-cessidade social: depois aplicada a tudo por uma metstase, mesmo quando no necessria [...] Com a sociedade nasce a necessidade da veracidade, seno o homem viveria em eternos vus. A fundao de Es-tados suscita a veracidade.24
A vida em sociedade exige a uniformi-zao dos comportamentos e dos valores. Esse procedimento de uniformizao social sustentado na ideia de justia, princpio nor-teador do direito segue um procedimento anlogo ao da formao da linguagem, a sa-ber, fixao arbitrria do no idntico25. A linguagem, construda a partir da relao dos homens com as coisas, totalmente meta-frica: Acreditamos saber algo das coisas mesmas, se falamos de rvores, cores, neve e flores e, no entanto, no possumos nada mais do que metforas das coisas, que de ne-nhum modo correspondem s entidades de origem.26 Tal insuficincia, alm de atestar a impotncia de nosso intelecto, demonstra a
24 Idem, 1988, p. 473.25 NIETZSCHE, 1978, p. 47 definiu a palavra como a [...]
figurao de um estmulo nervoso em sons. Porm, a atribuio de uma causa exterior, presente nas coisas denominadas pelas palavras, um procedimento ilegtimo, pois a base de formao das palavras no permite tal transposio.
26 Ibid., p. 47.
indiferena das coisas em relao ao homem. Nesse abismo intransponvel entre as coisas, o mundo e o homem enquanto conhecedor do mundo sujeito do conhecimento , e na fissura irremedivel aberta entre homem e mundo, Nietzsche inseriu a sua reflexo sobre a linguagem a linguagem como metfora de entidades que continuam desconhecidas e sobre o homem em estado de sociedade.
Por necessidade e tdio, o homem dese-ja viver em sociedade, em rebanho. Para tan-to, acordou um pacto em que se utilizava de signos resultantes de um processo arbitrrio de nomeao. Ora, se a base de sustentao do pacto esse conjunto de cdigos arbitra-riamente arranjados, designaes como Justia, Verdade, Bem, no passam de pala-vras que repousam no vazio, posto que no h sentido originrio. O seu valor criado obe-decendo s presses do momento. No mo-mento de instituio da vida social, tornou-se necessrio acordar o sentido de bem, de justi-a, pois a sua manuteno dependia disso. Ou seja, aquilo que denominado verdade apenas o resultado de um processo arbitrrio, decorrente das necessidades da manuteno da vida social. Porm, se [...] as verdades so iluses, das quais se esqueceu que o so27, e a sociedade se instituiu conjuntamente ao esquecimento da sua artificialidade, como si-tuar a uma reflexo sobre a cultura que no sucumba a um pessimismo decorrente do mal-estar causado pela concluso da relativi-dade de tudo? Quais as caractersticas de uma reflexo sobre a cultura que assume o artif-cio como centro de convergncia e disperso para a anlise?
Se a linguagem se sustenta em uma conveno, se a sociedade se institui pela necessidade e pelo tdio, fundando-se no convencionado solo do comum entendimen-to humano, que a linguagem, se no h ins-tinto de conhecimento, e sim um impulso ao conhecimento que congrega em si toda a pro-blematicidade daquelas questes na medida em que a atividade irradiadora de todos os
27 Ibid., p. 48.
-
43Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
problemas, a primeira trilha a ser percorrida para situar uma reflexo sobre a cultura no mbito do puro artifcio aquela que nos con-duz anlise da mxima nietzscheana do do-mnio da busca irrefreada de conhecimento.
Tendo mostrado que, no entender de Nietzsche, o conhecimento conceitual no uma atividade originria, e sim um procedi-mento decorrente de uma funo pragmtica manuteno da vida em sociedade , trata--se, ento, de apresentar a anlise nietzsche-ana sobre o significado da verdade, agora pensada em termos bipolares do benefcio e do prejuzo do conhecimento. Afinal, por que desejamos a verdade? E quando a desejamos, o que nela desejamos? H um condicionamen-to pelo qual o homem preferiria a verdade em detrimento da mentira, o que o tornaria um ser veraz por natureza?
Os homens, nisso, no procuram tanto evitar serem enganados, quan-to serem prejudicados pelo engano: o que odeiam, mesmo nesse nvel, no fundo no a iluso, mas as con-seqncias nocivas, hostis de certas espcies de iluses. tambm em um sentido restrito semelhante que o homem quer somente a verdade: deseja as conseqncias da verdade que so agradveis e conservam a vida: diante do conhecimento puro e sem conseqncias ele indiferen-te, diante das verdades talvez perni-ciosas e destrutivas ele tem disposi-o at mesmo hostil.28
Assim sendo, a determinao do grau de significao do conhecimento no est relacio-nada com a verdade em si, e sim com o prejuzo ou o ganho dela decorrente. Esse aspecto prag-mtico de valorao do conhecimento e da verdade relaciona-se intimamente com o pro-blema da iluso, convergindo para uma com-preenso mais adequada do problema relativo ao domnio da compulso ao conhecimento.
28 Ibid., p. 46.
Nos seus primeiros escritos, Nietzsche apresentou uma concepo filosfica na qual o conceito de iluso era central. Em O Nasci-mento da Tragdia, o apolneo expressava o carter ilusrio do mundo, a iluso da super-fcie, enquanto o dionisaco revelava o seu aspecto essencial. Nos textos de 1873 ocor-reu uma mudana significativa, pois, embora Nietzsche continuasse falando em termos de iluso, no empregava mais esse termo para contrap-lo a um mundo supostamente ver-dadeiro. A iluso tornou-se contra-argumento busca irrefreada de conhecimento. No sendo mais a caracterstica de Apolo, con-traposto a Dionsio, a iluso o atestado de uma necessidade fundamental da existncia humana, recusada e destruda pelo conhe-cimento racional, cientfico. No entender de Nietzsche, o homem s vive graas iluso, portanto deve-se contrapor a arte reino da aparncia, da iluso compulso ao conhe-cimento. E, a despeito da proximidade dessas formulaes com aquelas de O Nascimento da Tragdia, os pstumos de 1873 permitem ver que Nietzsche no operava mais com uma contraposio entre mundo verdadeiro e mundo aparente, como em sua obra sobre a tragdia. Porm, dada a impossibilidade de apreender a essncia do mundo, ainda a arte se faz necessria:
Vivemos, seguramente, graas ao carter superficial do nosso inte-lecto, numa iluso perptua: temos ento, para viver, necessidade da arte a cada instante. A nossa vi-so prende-nos s formas. Mas se somos ns prprios quem, gra-dualmente, educamos esta viso, vemos tambm reinar em ns uma fora de artista. Mesmo na nature-za se encontram mecanismos con-trrios ao saber absoluto: o filsofo reconhece a linguagem da nature-za e diz: e .29
29 Idem, 1988, p. 435.
-
44 Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
A busca irrefreada de conhecimento no encontra sua limitao por um fator ou um elemento externo, mas pela prpria consti-tuio do homem, que tem uma proximidade, uma afinidade muito maior com a arte reino da iluso do que com a lgica. A superficiali-dade do intelecto e a arbitrariedade de tudo o que diz respeito ao humano princpios de sua teoria da natureza humana permitem a Niet-zsche estender o seu apelo para o domnio da compulso ao conhecimento, instituindo con-juntamente a arte como espao de deciso das questes relevantes para a existncia.
Embora a crtica ao conhecimento cien-tfico, racional, seja um dos motes principais da filosofia de Nietzsche em seus primeiros escritos, necessrio esclarecer que No se trata de um aniquilamento da cincia, mas do seu domnio.30 Quer dizer, dominar a com-pulso ao conhecimento relaciona-se com um movimento maior de administrao de todas as pulses, tendo em vista uma espcie de clculo no qual a proporo das pulses particulares nunca se sobreponha s demais, excluindo-as. Poderamos usar a simbologia da sade, to recorrente nos textos de Niet-zsche para ilustrar esta questo. Segundo seu entendimento, a sade de uma cultura depende da exata administrao das pulses de modo que uma cultura na qual uma pulso particular se sobrepe s demais encontra-se em processo de decadncia, de barbarizao, de doena.
Torna-se, ento, compreensvel a mxi-ma nietzscheana segundo a qual impossvel construir uma civilizao, uma cultura, a partir do saber meramente racional. O aspecto su-perficial do intelecto, consequentemente do conhecimento, associado disposio para a arte, esta ligada iluso enquanto necessida-de que o homem tem para suportar a existn-cia, so os pressupostos para o acionamento dos mecanismos artsticos imprescindveis ao processo educativo e formador. O exerccio educativo consiste em desenvolver, por um lado, uma reflexo que congregue essas no-
30 Ibid., p. 424.
es de modo a possibilitar a criao de um conhecimento trgico31 e, por outro, de criar uma cultura, uma civilizao engendrada a partir dos pressupostos da arte32. Tal proce-dimento segue as opes de Nietzsche nas quais o homem interpretado como um ser com propenso para o artstico, cujo intelecto toca apenas a superfcie.
Sendo assim, a criao passa a ser o es-pao de deciso das questes relativas cultu-ra, afinal No no conhecimento, mas sim no trabalho criativo que est a nossa salvao33. O trabalho criativo no diz respeito apenas atividade artstica. Trata-se antes da extenso dos princpios artsticos a todos os domnios da existncia. Significa que o homem deve transformar a sua existncia em obra de arte, afinal a iluso o seu solo natural.
A volta aos gregos operada por Nietzs-che torna-se, ento, clarividente: Nos gregos trata-se do domnio em proveito de uma cul-tura artstica.34 Na Grcia, forjou-se uma cul-tura em que a compulso ao conhecimento foi dominada pela arte e em prol dela. Porm, isso no significa que a sua busca pelo co-nhecimento tenha sido impedida, ou mesmo destruda, e sim que a compulso ao conhe-cimento foi embelezada. esse processo de embelezamento das pulses que Nietzsche tem em mente acionar por meio da sua vincu-lao com a empresa de Wagner, em Bayreu-th, afinal Nietzsche diagnosticou um processo decadencial na Alemanha do seu tempo, ao qual cabia se contrapor.
Porm, se h um processo decadencail em curso, como sustentar que a decadncia constatada por Nietzsche seja a decadncia da cultura alem? Tal processo no poderia dizer respeito a extratos e nveis superficiais concernentes civilizao alem que inte-gram necessariamente processos superficiais de transformao dos costumes, das ativida-des materiais, dos modismos sociais, sendo
31 Ibid., p. 427-428.32 Ibid., p. 432.33 Ibid., p. 459.34 Ibid., p. 427.
-
45Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
que aquilo que constituiria a especificidade da cultura alem no tivesse sido necessaria-mente afetado pelas transformaes ineren-tes a tal processo? Enfim, no conviria diferen-ciar cultura e civilizao.
Arte e CulturaEm um estudo tornado referencial para
as anlises da sociedade europeia do sculo XIX, Norbert Elias mostrou que naquele pero-do desenvolveram-se duas concepes matri-ciais e antagnicas a respeito da autoimagem que algumas naes europeias tinham a res-peito dos fatos humanos, quer dizer, dos produtos resultantes da atividade humana. Segundo Norbert Elias,
O conceito francs e ingls de civi-lizao pode se referir a fatos pol-ticos ou econmicos, religiosos ou tcnicos, morais ou sociais. O con-ceito alemo de Kultur alude basica-mente a fatos intelectuais, artsticos e religiosos e apresenta a tendncia de traar uma ntida linha divisria entre fatos deste tipo, por um lado, e fatos polticos, econmicos e so-ciais, por outro. O conceito francs e ingls de civilizao pode se referir a realizaes, mas tambm a atitu-des ou comportamento de pesso-as, pouco importando se realizaram ou no alguma coisa. No conceito alemo de Kultur, em contraste, a referncia a comportamento, o va-lor que a pessoa tem em virtude de sua mera existncia e conduta, sem absolutamente qualquer realizao, muito secundrio.35
Na acepo alem, Kultur dizia respeito ao domnio da vida intelectual e espiritual, en-quanto que Zivilization correspondia s con-dies materiais e prticas, caractersticas da vida de uma sociedade. Essa distino tornou--se usual a ponto de o prprio Nietzsche, em
35 ELIAS, 1994, p. 24.
um fragmento datado de outono de 1873, afir-mar: No temos nenhuma cultura, mas uma civilizao com algumas modas culturais, logo cada vez mais barbrie.36 Porm, de acordo com Patrick Wotling, tal contraposio encon-tra-se presente apenas no estgio inicial dos seus escritos. Aps a publicao de Humano, Demasiado Humano (1878), Nietzsche anulou essa oposio, incorporando a Civilizao Cultura como um dos seus casos especficos.
Nietzsche anula esta distino ao recusar toda a oposio do terico e do prtico, e repensa comple-tamente a oposio entre cultura e civilizao, no mais a partir da distino idealista entre a nobre-za da vida intelectual e do simples progresso material, mas a partir de uma reflexo sobre os vnculos genealgicos entre a atividade fun-damental da vontade de poder e os diversos tipos de cultura que ela produz: assim, a civilizao torna-se um caso especfico da cultura.37
Ou seja, se aps Humano, Demasiado Hu-mano Nietzsche no operaria com a contra-posio entre cultura e civilizao, a caracteri-zao negativa da cultura alem apresentada com intensidade em seus primeiros escritos objetivava mostrar que, embora marcado por um profundo desenvolvimento das ativida-des materiais, este no culminou com a inten-sificao das atividades espirituais. Sendo as-sim, a decadncia era o processo mediante o qual a dissociao entre as dimenses terica e prtica convertia-se em programa diretivo das atividades do povo alemo. Quer dizer, todas as dimenses resultantes da atividade do povo alemo encontravam-se minadas por aquela dissociao.
Essas questes podem ser vislumbradas em algumas passagens de O Nascimento da
36 NIETZSCHE, 1988, p. 606.37 WOTLING, 1999, p. 29.
-
46 Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
Tragdia em que h uma caracterizao nega-tiva da cultura alem. No pargrafo 8, Niet-zsche contrape significao negativa de cultura a positividade da natureza. J no pa-rgrafo 23, a positividade repousa no carter de povo, enquanto que no pargrafo 6 da tentativa de autocrtica, cultura contra-posta ao ser alemo. Em todas as refern-cias, cultura recebe uma conotao negativa, estando relacionada com a miopia dos con-temporneos para os verdadeiros problemas culturais. Quer dizer, segundo Nietzsche, os seus contemporneos eram cegos e impoten-tes para a criao de uma cultura verdadeira. Essa caracterizao negativa da cultura traz um grande inconveniente: at o presente momento, tem sido utilizado um termo criti-cado pelo prprio Nietzsche, o que tornaria o seu emprego extremamente problemtico, ou mesmo, injustificado. Apesar da fora da objeo, possvel contornar a dificuldade mostrando que o uso do termo cultura este-ve amparado na interpretao que postula a cultura como sendo a atividade humana genrica gerada no interior de um horizonte mtico no qual a distino entre as dimenses da teoria e da prtica no se institui. Essa in-terpretao da cultura, aspecto distintivo da cultura grega arcaica, fonte de inspirao para as anlises nietzscheanas da cultura ale-m do seu tempo38, encontra sustentao nos ltimos pargrafos de O Nascimento da Trag-dia, nos quais o autor afirma que Sem o mito, porm, toda a cultura perde sua fora natural sadia e criadora: s um horizonte cercado de mitos encerra em unidade todo um movimen-to cultural.39
Consideraes finaisO reconhecimento da necessidade do
mito para o engendramento de uma cultura
38 O que nos levaria a matizar o juzo expresso por Wotling na citao anterior, pois parece que Nietzsche, mesmo antes de Humano, Demasiado Humano percebe a inconvenincia da separao entre cultura e civilizao, embora no extraia dessa constatao todas as consequncias crticas.
39 NIETZSCHE, 1992b, p. 135.
no decadente, ou seja, trgica, traz tona o problema do trgico em Nietzsche. Para o que interessa aos propsitos deste trabalho, e a ttulo de concluso, bastar dizer que para alm da discusso do trgico relacionado arte trgica, em que seria necessrio abordar a interpretao feita por Nietzsche de Apolo e Dionsio, tarefa que exigiria outro trabalho um aspecto importantssimo da relao do trgico com o problema do conhecimento indicado por Nietzsche pela referncia revo-luo operada por Kant e Schopenhauer na filosofia.40 Segundo ele, as filosofias de am-bos representam [...] a sabedoria dionisaca expressa em conceitos.41 Tal elogio se deve a uma valorao positiva dos resultados da tarefa de destruio da metafsica teolgica e dogmtica operada, ao juzo de Nietzsche, por esses pensadores. Apesar disso, embora no possua mais a metafsica enquanto um conjunto de postulados racionalmente arran-jados, dada a incorporao do projeto kantia-no e schopenhauriano de crtica metafsica dogmtica e teolgica, resta ainda a Nietzs-che, em O Nascimento da Tragdia e nos escri-tos do perodo, a arte enquanto consolo me-tafsico; num momento posterior da sua obra precisamente a partir de Humano, Demasia-do Humano , Nietzsche recolocar a questo da crtica ao conhecimento em termos de crtica moral, verdade. A partir de ento no sustentar mais o elogio da iluso, e sim abraar o artifcio e a experimentao como a possibilidade mxima de intensificao das potencialidades humanas. Apesar das mudan-as de estilo e pensamento introduzidas gra-dativamente em suas obras, que o obrigam, por uma questo de honestidade intelectu-al, a constantemente repensar seus escritos anteriores e a abandonar convices profes-sadas e teses sustentadas, a noo de trgico permanece vigente desde os seus primeiros escritos, e, se submetida a reformulaes, contudo jamais abandonada. Dos primei-ros aos ltimos escritos, o trgico repousa na
40 Idem, 1988, p. 425.41 Idem, 1992b, p. 119.
-
47Impulso, Piracicaba 20(50), 35-47, jul.-dez. 2010 ISSN Impresso: 0103-7676 ISSN Eletrnico: 2236-9767
descoberta e na aceitao incondicional da mxima: Vida criao. Por conseguinte, o trgico o conhecimento da no essenciali-
dade das coisas, o conhecimento de que todo o sentido criado, enfim, o conhecimento de que no existe sentido prvio criao.
REFERNCIASELIAS, N. O processo civilizador - Vol. I: Uma histria dos costumes. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994.FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia, a histria. In: ______. Ditos & Escritos II: Arqueologia das Cincias e Histria dos Sistemas de Pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2008. p. 260-281.HABERMAS, J. O discurso filosfico da modernidade. So Paulo: Martins Fontes, 2002.____. La crtica nihilista del conocimiento. In: ______. Sobre Nietzsche y otros ensayos. Ma-drid: Taurus, 1982. p. 31-61.HILLEBRAND, B. (Org.). Nietzsche und die deutsche Literatur (2 Bnde). Mnchen: Dtv, 1978.LUKACS, G. El asalto a la razon: la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. M-xico/Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica, 1959.MACHADO, R. Nietzsche e a Verdade. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.NIETZSCHE, F.W. Humano, Demasiado Humano Um livro para espritos livres. Trad. Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2000.____. Alm do bem e do mal Preldio a uma filosofia do futuro. Trad. Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das letras, 1992a.____. O Nascimento da tragdia ou helenismo e pessimismo. Traduo de J. Guinsburg. So Pau-lo: Companhia das Letras, 1992b.____. Smtliche Werke. Kritische Studienausgabe (Band 7). Mnchen/Berlin/New York: Deutscher Taschenbuch Verlag / Walter de Gruyter, 1988.____. Verdade e mentira num sentido extra-moral. In: ____. Obras incompletas. Traduo de Rubens Rodrigues Torres Filho, 2 ed. So Paulo: Abril Cultural, 1978.RABELO, R. A arte na filosofia madura de Nietzsche. 2011. 298p. Tese (Doutorado em Filosofia). Instituto de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.WEBER, J. F. Formao (Bildung), educao e experimentao: sobre as tipologias pedaggicas em Nietzsche. 2008. 178p. Tese (Doutorado em Educao). Faculdade de Educao, Universida-de Estadual de Campinas, Campinas.WOTLING, P. Nietzsche et le problme de la civilisation. Paris: PUF, 1999.
Dados do Autor:
Jos Fernandes Weber Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Doutor na rea de
Filosofia da Educao (UNICAMP). O artigo resulta da pesquisa desenvolvida no projeto Tcnica e tecnolo-gia em Heidegger e Simondon: destruio do pensamento ou ampliao da experincia? (PROPPG/UEL n.
07506/2011), tendo recebido os seguintes financiamentos: 1. Chamada CNPq/CAPES N 07/2011; 2. FAEPE/UEL - Edital01/2011.
Recebido: 09-09-2011 Aprovado: 13-12-2011
-
Copyright of Impulso is the property of UNIMEP/Impulso and its content may not be copied or emailed tomultiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, usersmay print, download, or email articles for individual use.