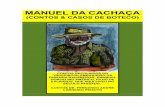Cachaca
-
Upload
richard-smith -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
description
Transcript of Cachaca
Seu nome pode ter sido originado da velha lngua ibrica cachaza significando vinho de borra, um vinho inferior bebido em Portugal e Espanha, ou ainda, de "cachao", o porco, e seu feminino "cachaa", a porca. Isso porque a carne dos porcos selvage ns, encontrados nas matas do Nordeste os chamados caititus era muito dura e a ca chaa era usada para amolec-la.1 Na produo colonial de acar, "cachaa" era o nome dado primeira espuma que subia super ie do caldo de cana que estava sendo fervido. Ela era fornecida aos animais ou d escartada. A segunda espuma era consumida pelos escravos, principalmente depois que fermentasse e tambm passou a ser chamada cachaa. Posteriormente, com a destilao da espuma e do melao fermentados e a produo de aguardente de baixa qualidade, esta passou a ser tambm denominada de cachaa e era fornecida a escravos ou adquirida po r pessoas de baixa renda.2 Histria[editar | editar cdigo-fonte]
Barris de cachaa no Museu da Cachaa Ypica A cachaa uma bebida de grande importncia cultural, social e econmica para o Brasil, e est relacionada diretamente ao incio da colonizao portuguesa do pas e atividade au areira, que, por ser baseada na mesma matria-prima da cachaa, possibilitou a impla ntao dos estabelecimentos cachaceiros.3 Os primeiros relatos sobre a fermentao vem dos egpcios antigos. Curam vrias molstias, inalando vapor de lquidos aromatizados e fermentados, absorvido diretamente do b ico de uma chaleira, num ambiente fechado. Os gregos registram o processo de obt eno da acqua ardens. A "gua que pega fogo" - "gua ardente" (al kuhu). Alquimistas to mam conhecimento da "gua ardente", atribuindo-lhe propriedades mstico-medicinais. Transforma-se em "gua da vida", e a eau de vie (termo francs para "gua da vida") re ceitada como elixir da longevidade.
Caipirinha, tradicional drinque brasileiro produzido com cachaa, acar, gelo e limo A aguardente, ento, vai da Europa para o Oriente Mdio, pela fora da expanso do Imprio Romano. So os rabes que descobrem os equipamentos para a destilao, semelhantes aos que conhecemos hoje. Eles no usam a palavra al kuhu e sim al raga, originando o n ome da mais popular aguardente da pennsula Arbica: arak, uma aguardente misturada com licores de anis e degustada com gua. A tecnologia de produo espalha-se pelo Vel ho e pelo Novo Mundo. Na Itlia, o destilado de uva fica conhecido como grappa. Em terras Germnicas, se destila a partir da cereja o Kirsch; na antiga Tchecoslovqui a, atualmente dividida em Repblica Tcheca e Repblica Eslovaca, a destilao da Sleva ( espcie de ameixa) gera a slevovice (l-se "eslevovitse"). Na Esccia, se populariza o whisky, destilado da cevada sacarificada. No Extremo Oriente, a aguardente serv e para esquentar o frio das populaes que no fabricam vinho. Na Rssia a vodca, de cen teio. Na China e no Japo, o saqu, produzido a partir da fermentao do arroz, frequent emente confundido com uma aguardente devido ao seu elevado teor alcolico, mas , na verdade, um vinho. Portugal tambm absorve a tecnologia dos rabes e destila, a par tir do bagao de uva, a bagaceira. J em 1530 os primeiros donatrios portugueses decidem comear empreendimentos nas ter ras orientais do Novo Mundo, implementando o engenho de acar com conhecimento e te cnologia adquiridos nas ndias Orientais, vindas do sul da sia. Assim, surgem, na n ova colnia portuguesa, os primeiros ncleos de povoamento e agricultura. A gerao inicial de colonizadores portugueses no Brasil apreciava a bagaceira portu guesa e o vinho do porto. Assim como a alimentao, grande parte da bebida era impor tada da metrpole portuguesa. Em algum engenho de acar, foi, ento, descoberto o vinho de cana-de-acar, que o resultado do caldo de cana fermentado, como tambm dos subpr odutos da produo do acar, como as espumas e o melao misturados gua. uma bebida limp em comparao com o cauim - vinho produzido pelos ndios, no qual todos cospem num eno rme caldeiro de barro para ajudar na fermentao da mandioca. Os senhores de engenho passam a servir o tal caldo, denominado cagaa, para os escravos. Em 1584, o Memor ial de Gabriel Soares de Sousa faz referncias a "oito casas de cozer mis" na Bahia .
Dos meados do sculo XVI at metade do sculo XVII, as "casas de cozer mis" se multipli cam. Inicialmente "casa de cozer mis" era o nome dado aos engenhos produtores de acar e, posteriormente, foi tambm aplicado aos alambiques produtores de cachaa. O pr imeiro registro histrico da cachaa aparece apenas na dcada de 1620 na Bahia, coinci dindo com o rum nas possesses inglesas nas Amricas, da aguardiente de caa nas espan holas e da tafia nas francesas. Ou seja, a cachaa, o rum, a aguardiente de caa e a tafia foram todas criadas a partir dos mesmos subprodutos da produo de acar: o melao e as espumas.2 A cachaa torna-se moeda corrente para compra de escravos na frica. Alguns engenhos passam a dividir a produo entre o acar e a cachaa. A descoberta de o uro nas Minas Gerais traz uma grande populao de migrantes, vinda de todos os canto s do pas, que constri cidades sobre as montanhas frias da Serra do Espinhao. A cach aa ameniza a temperatura. Incomodada com a queda do comrcio da bagaceira e do vinho portugueses na colnia e alegando que a bebida brasileira prejudica a retirada do ouro das minas, a Corte probe, a partir de 1635, por vrias vezes, a produo, comercializao e at o consumo da c chaa. Sem resultados, a Metrpole portuguesa resolve taxar o destilado. Em 1756, a aguardente de cana-de-acar foi um dos gneros que mais contriburam com impostos volta dos para a reconstruo de Lisboa, destruda no grande terremoto de 1755. Para a cachaa , so criados vrios impostos conhecidos como subsdios, como o literrio, para manter a s faculdades da Corte. Com o passar dos tempos, melhoram-se as tcnicas de produo. A cachaa apreciada por to dos. consumida em banquetes palacianos e misturada ao gengibre e outros ingredie ntes, nas festas religiosas portuguesas - o famoso quento. Devido ao seu baixo va lor e associao s classes mais baixas (primeiro, os escravos; e depois, os pobres e miserveis), a cachaa sempre deteve uma aura marginal. Contudo, nas ltimas dcadas, se u reconhecimento internacional tem contribudo para diluir o ndice de rejeio dos prpri os brasileiros, alando um status de bebida chique e requintada, merecedora dos ma is exigentes paladares. O total de produtores de cachaa em 2011 alcanou, no Brasil, os 40 000, sendo que a penas cerca de 5 000 (12%) so devidamente registrados. Por ser uma bebida popular que vem h sculos acompanhando o povo brasileiro, conhecida por inmeros sinnimos, co mo: abre, abrideira, abenoada, aca, a-do-, ao, gua-benta, gua-bruta, gua-de-briga, gua de-cana, gua-que-gato-no-bebe, gua-que-passarinho-no-bebe, aguardente, aguardente de cana, aguarrs, guas-de-setembro, alpista, aninha, arrebenta-peito, assovio-de-cob ra, azougue, azuladinha, azulzinha, bagaceira, baronesa, bicha, bico, boas, borg ulhante, boresca, branca, branquinha, brasa, brasileira, caiana, calibrina, camb raia, cana, cndida, canguara, caninha, canjebrina, canjica, capote-de-pobre, catu ta, caxaramba, caxiri, caxirim, cobreira, corta-bainha, cotreia, cumbe, cumulaia , amnsia, birita, codrio, conhaque brasileiro, da boa, delas-frias, danada, dengos a, desmancha-samba, dindinha, dona-branca, ela, elixir, engasga-gato, divina, es pevitada, de-p-de-balco, do balde, esprito, esquenta-por-dentro, filha-de-senhor-de -engenho, fruta, gs, girgolina, fava de cheiro, fia do sinh de engenho, gasolina d e garrafa, geribita, gor, gororoba, gramtica, guampa, homeopatia, imaculada, j-comea , januria, jeribita, jurubita, jinjibirra, juna, jura, legume, limpa, lindinha, li sa, maangana, malunga, mavalda, mame-de-aluana, mame-de-aruana, mame-de-luana, mame-d e-luanda, mame-sacode, lambida, levanta velho, lisa, malta, mandureba, mundureba, marafo, maria-branca, mata-bicho, meu-consolo, minduba, miscorete, moa-branca, m onjopina, montuava, morro, morretiana, leo, orontanje, otim, panete, patrcia, perig osa, pevide, piloia, piribita, porongo, prego, pura, purinha, m, nctar dos deuses, oleosa, parati, pitu, preciosa, queima goela, quebra-goela, quebra-munheca, ram a, remdio, restilo, retrs, roxo-forte, samba, sete-virtudes, sinhaninha, sinhazinh a, sipia, siba, sumo-da-cana, suor-de-alambique, supupara, tafi, teimosa, terebint ina, refrigrio da filosofia, rum brasileiro, salinas, semente de arenga, suor de alambique, terebintina, tinguaa, tira-teima, tiba, tome-juzo, trs-martelos, no-sei-qu, veneno, xinapre, zuninga, uca, uma que matou o guarda, vinho de cana, vocao, ypica etc.4 Seus sinnimos passam de 2 000 e a cachaa , sem dvida, a palavra com mais sinni mos na lngua portuguesa e talvez em qualquer outra lngua.5 Atualmente, vrias marcas de boa qualidade figuram no comrcio nacional e internacio nal e esto presentes nos melhores restaurantes e adegas residenciais pelo Brasil e pelo mundo.
Produo da cachaa[editar | editar cdigo-fonte]
Colheita da cana-de-acar A cachaa pertence nobre famlia das aguardentes, da eau-de-vie ou aquavit. Trata-se de um destilado feito base de cana-de-acar, leveduras e gua. Com o desenvolvimento do parque industrial brasileiro a partir da primeira metad e do sculo XX, os subprodutos dos engenhos de acar, que antes eram utilizados na fa bricao da cachaa, comearam a ser empregados em outras reas como suplemento para forra gens para animais, adubao orgnica, confeco de moldes na indstria de fundio e refratr para dar consistncia ao papelo e casquinha de sorvete, alm dos seus empregos na alc ooqumica, cosmticos, bebidas e na indstria farmacutica e de tintas e vernizes. A adoo do lcool como combustvel, principalmente a partir da dcada de 1970, implicou na tot al escassez da matria prima para os produtores de cachaa. Eles foram obrigados a p lantar cana e obter a cachaa do caldo de cana fermentado.2 O processo de produo inicia-se com a escolha da variedade adequada da cana de acar e seu plantio. Conforme a regio, existem variedades que melhor se adaptam s condies g eoclimticas, alm do cuidado em se fazer um plantio com variedade de cana com matur ao precoce, mdia e tardia, visando a colher esta matria-prima sempre no ponto adequa do, nos diferentes meses de produo. Quanto colheita da cana de acar, no indicada a q eima do palhio, pois, alm das consequncias ambientais, a queima prvia da cana result a no aumento do composto furfural e hidroximetilfurfural na bebida final; ambos so compostos carcinognicos e sua soma no pode ultrapassar 5 mg/100 mL AA. Durante o processo de moagem da cana, importante a anlise da eficincia da extrao do caldo, que deve ser prxima a 92% em moendas de trs eixos. Ainda durante o processo de moagem, importante o uso de um filtro para recolher os bagacilhos presentes no caldo, j que estes, quando chegam at o processo de fermentao, resultam no aumento do teor de metanol. importante tambm a correo do Brix, ou teor de acar no caldo, par a valores entre 16 e 18 Brix, visando a uma maior eficincia do processo fermentati vo.
Engenho bangu em funcionamento na dcada de 1950. Engenho Espadas, em Pernambuco, no Brasil. O caldo de cana composto por gua (85 a 95%), lcool etlico (4 a 12%), cido ltico, cido actico, cido butrico, os steres desses cidos, glicerina, os lcoois superiores (o propl co, iso-proplico, butlico, isobutlico, amlico, iso-amlico), furfural (aldedo piromcico , accares, materiais nitrogenados, bagacilhos, clulas de levedura, bactrias, etc.6 O processo de fermentao , sem dvida, o mais importante para a qualidade do produto f inal. A fermentao ocorre por ao de leveduras, principalmente a Saccharomyces cerevis ae, levedura que apresenta a melhor resistncia a altos teores alcolicos. Ao caldo de cana destinado fermentao d-se o nome de mosto. neste processo que ocorre a transformao da glicose em etanol e outros compostos se cundrios, como butanol, isobutanol, acetato de etila (benficos ao sabor) e cido acti co, propanol, acetaldedo etc. (malficos ao sabor da bebida). O controle apurado de sta etapa, como monitorao de temperatura (entre 28 e 33C), pH (entre 4,5 e 5,5), co ntagem de leveduras, tempo de fermentao e formao de excessiva de bolhas fundamental para a eficincia do processo. O processo de fermentao dura em torno de 24 horas, se ndo o teor de slidos solveis o indicativo do final do processo. imprescindvel a ass epsia deste processo, j que a contaminao bacteriana pode resultar em compostos inde sejveis no produto final.
Esquema de um alambique Em seguida, realizado o processo de destilao, quando o Brix se iguala a zero. Se e xistirem ainda acares presentes no mosto, a oxidao destes compostos durante a destil ao resultar tambm na formao de furfural e hidroximetilfurfural. O processo de destila ode ser realizado em alambiques de cobre ou inox (produo artesanal) ou em colunas de destilao (produo industrial), sendo que no primeiro ocorre uma melhor separao dos c
ompostos, produzindo uma cachaa com menos compostos secundrios quando comparada co m a cachaa industrial. Durante a destilao, so coletadas trs fraes: cabea (15% do volu destilado), corao (60% do volume destilado) e cauda (15% do volume destilado). A c omposio de cada frao est correlacionada com a temperatura de ebulio dos compostos pres ntes no mosto. A frao cabea rica em metanol e cidos, e no deve ser comercializada nem utilizada para consumo. Na frao corao so coletados os principais compostos e mais de sejveis na aguardente. J na frao cauda, tambm chamada de leo fsel ou caxixi, so encon dos os compostos com altas temperaturas de ebulio. A cachaa obtida da frao corao pode ser comercializada depois do perodo de maturao (tr ses) ou ser envelhecida em tonis de madeiras, por um perodo mnimo de um ano. Durante o processo de envelhecimento, h modificao das caractersticas originais da ca chaa, dependendo da madeira com a qual o barril fabricado. Em barris de carvalho, sassafrs e umburana h um aumento do teor alcolico, enquanto que em barris de ip, gr apia e jequitib h uma diminuio. Em barris de algumas madeiras como amendoim, jequiti b e louro-freij, a cor da cachaa no alterada. J em barris de cabreva, castanheira, ce ro, ip-amarelo e jatob a bebida adquire tom amarelado. Em barris de sassafrs, o tom fica amarronzado, e em de vinhtico ele fica amarelo-ouro.2 Cachaas armazenadas em local com temperatura ambiente alta tendem a apresentar ma ior evaporao, o mesmo ocorrendo quando a umidade baixa. O ambiente onde se encontr am os recipientes (tonis ou barris) deve apresentar umidade relativa do ar em tor no de 73% e temperatura entre 9 e 15 C. A altura do local deve ser de 4 metros ou mais alto, as telhas de barro e as paredes e piso de pedra. Pode tambm ser subte rrneo. Para manter a umidade elevada pode-se fazer circular gua corrente em valeta s ou molhar constantemente o ambiente e os barris. Pode-se obter cachaa de melhor qualidade misturando-se bebidas de diferentes idades.7 A cachaa foi tradicionalmente transportada em barril de madeira. Apenas no incio d o sculo XIX que h as primeiras notcias de cachaa em garrafas e litros de vidro. No se sabe se eram recipientes reaproveitados de bebidas importadas ou aqui fabricado s, uma vez que a primeira fbrica de vidros no Brasil surgiu em 1810 na Bahia. Con tudo, a obrigatoriedade da utilizao de recipientes de vidro foi imposta apenas no final da dcada de 1930, com o Decreto-Lei 739 de 24 de setembro de 1938. Nela a c omercializao da bebida s era permitida a produtores devidamente registrados e dever ia ser acondicionada em recipientes de, no mximo, um litro e ter afixado rtulo com informaes sobre o produtor e a bebida.2 Composio da cachaa[editar | editar cdigo-fonte] Entram na composio da cachaa mais de 300 substncias, das quais noventa e oito por ce nto (98%) consistem de gua e etanol. Os restantes dois por cento (2%), os compost os secundrios, so os que conferem bebida suas caractersticas organolpticas. As substn cias contidas no mosto, extradas do colmo da cana, sofrem reaes entre s e em decorrnc ia dos processos de fermentao, destilao e envelhecimento. Composio do colmo da cana[editar | editar cdigo-fonte] Valores em g/100g8 gua 65,0-75,0; accares 12,0 a 18,0 (sacarose, glicose e frutose); fibras 7,0-17,0 (celulose, hemicelulose e lignina); compostos nitrogenados 0,3-0,6; lipdeos 0,150,25 (gorduras e ceras); cidos orgnicos 0,1-0,15; substncias pcticas e gomas 0,15-0, 25; cinzas 0,3-0,8. Composio do mosto[editar | editar cdigo-fonte] O mosto, ou caldo de cana, ou ainda a garapa, uma mistura complexa contendo 80% de gua e 20% de slidos solveis. Neste caso est sendo admitido que a moagem e a filtr ao do mosto eliminaram slidos no solveis como bagacilhos e outras impurezas. Os slidos solveis compreendem os acares e os no acares.9 Acares Sacarose 18%, glicose 0,4% e frutose 0,1% No acares orgnicos Protenas, gorduras, ceras, pectinas, cidos livres, cidos combinados (mlico, succnico, acontico, oxlico, fumrico, etc.) e substncias corantes (clorofila, anticianina e sa caretina) No acares inorgnicos Cinzas: slica, potssio, fsforo, clcio, sdio, magnsio, enxofre, ferro, alumnio, cloro,
tc. Composio do mosto fermentado[editar | editar cdigo-fonte] Durante a fermentao do mosto seus componentes so transformados em etanol, gs carbnico , glicerina e compostos secundrios. A variedade e quantidade destes determinaro se a cachaa ser ou no de boa qualidade.9
Etanol, gs carbnico, glicerina, cidos carboxlicos, metanol, steres, aldedos e alcois s periores so formados pela ao das leveduras sobre os acares presentes no mosto. A presena de pouca quantidade de cidos orgnicos benfica para a bebida, enquanto em g rande quantidade provoca um sabor indesejvel, agressivo. O cido actico, presente na cachaa, produzido pelas prprias leveduras que provocam a fermentao ou por bactrias a cticas contaminantes. Os cidos oxaloactico, ctrico, pirvico, mlico e maleico so result do do metabolismo das leveduras. As leveduras excretam para o meio os cidos que p ara elas no tem utilidade, como o butrico, caprico, caprlico e cprico. No incio da fermentao o acetaldedo e outros aldedos so produzidos pelas leveduras e a quantidade dos mesmos vai diminuindo medida que o processo avana. Com a degradao pa rcial de aminocidos so formados alcois superiores. Estes reagem com o oxignio, produ zindo outros aldedos. A produo de aldedo]s aumentada tambm quando ocorre aerao duran a fermentao. Os alcois superiores, ou leo fusel, so formados pela degradao de aminocidos como o lco l d-amlico proveniente da d-leucina, o isoamlico da l-leucina e o isobutlico da val ina. Alguns so formados durante o metabolismo do acar no interior da levedura. A fo rmao dos alcois superiores incrementada pelo pH do mosto e pela aerao e temperatura d o mosto durante a fermentao. O ster, como o acetato de etila, que confere cachaa um sabor frutado, o resultado da reao entre o etanol e o cido actico. A presena de micronutrientes do solo, como o zinco, que so absorvidos pela planta, favorecem a formao de steres. 9 .10 Reaes de hidrlise cida ou enzimtica que ocorrem durante a fermentao liberam o metanol, preso ao cido galacturnico, que constituem a pectina. extremamente txico ao ser hum ano. O carbamato de etila, o ster etlico do cido carbmico, formado pela reao do etanol com alguns compostos nitrogenados, reao que influenciada por fatores como temperatura, pH, luz e tempo de armazenagem. tido como carcinognico. Composio do destilado[editar | editar cdigo-fonte] A destilao permite a separao de substncias volteis (gua, etanol, metanol, cido actic cois superiores, steres, aldedos, gs carbnico) dos no volteis (clulas de leveduras, m rais, cidos orgnicos e inorgnicos). As reaes que ocorrem durante a destilao do mosto so: hidrlise, esterificao, acetaliza aes com o cobre, produo de furfural, etc. 9 Os tipos e quantidades de compostos secundrios que vo se formar dependem: 9 das particularidades do caldo de cana fermentado de quais fraes de corte sero efetuadas na destilao do tipo e tamanho do aparelho utilizado na destilao do material do qual feito o aparelho da limpeza do aparelho Alguns compostos secundrios com pontos de ebulio bem mais elevados do que o lcool ou a gua podem aparecem no destilado. Isto se explica porque uma vez que se encontr am em baixas concentraes no mosto fermentado, a chance deles se associarem entre s i bem menor do que com o lcool ou com a gua, presentes em relativas grandes concen traes. Desta forma, eles evaporam no ponto de ebulio do lcool ou da gua. .10 O acetaldedo e o acetato de etila apresentam baixo ponto de ebulio, 21 C e 77 C, resp ectivamente, e so encontrados em alta concentrao na frao cabea. Podem tambm serem enco trados no incio da frao corao. 9 cidos graxos e seus steres mesmo tendo alto ponto de ebulio podem aparecer na cabea e no corao por serem solveis em lcool. Alguns exemplos so caprilato de etila (208 C), c aprato de etila (244 C), laurato de etila (269 C), caproato de etila (166,5 C) e ac etato de isoamila (137,5 C). 9 O metanol (65,5C) e os alcois superiores 1-propanol, isobutanol, 2-metil-butanol e 3-metil-butanol por serem solveis em lcool e parcialmente em gua, so encontrados na cabea e no corao. 9
O cido actico (110 C), o 2-fenil-etanol, o lactato de etila e o succinato de dietil a, mesmo tendo ponto de ebulio acima do da gua, comeam a destilar na metade da frao co rao por serem total ou parcialmente solveis em gua. 9 O furfural (167 C) por ser muito solvel em gua encontrado nas fraes corao e cauda. 9 Quando o caldo de cana apresenta substncias orgnicas em suspenso estas podem se dep ositar no fundo do aparelho destilador e suas queimas originam o furfural e o hi droximetilfurfural.10 A parte da cabea do destilado a que concentra a maior quantidade de aldedos, que no so desejveis, e tambm a de steres, desejveis. Fica, portanto, difcil evitar que alded s migrem para o corao ou que steres permaneam na cabea. .10 A reao do etanol com compostos nitrogenados resulta na formao do carbamato de etila, o que pode ocorrer antes, durante e depois da destilao. Alguns componentes da cachaa so: 8 9 .10 .2 1,4-butanodiol; 2-fenil-etanol; 2-metil-butanol; 3-metil-butanol; acetaldedo; ace tato de etila; acetato de isoamila; acetato de metila; acetato de metila; acetat o de propila; acetona; cido actico; cido butrico; cido cprico; cido caprlico; cido l gua; lcool 2-feniletlico; lcool amlico; lcool butlico; lcool cetlico; lcool cinmi etlico; lcool isoamlico; lcool isobutlico; lcool isoproplico; lcool metlico; lcool co; lcool proplico; lcool sec-butlico; aldedo actico; benzaldedo; benzoato de etila; b tirato de propila; caprato de etila; caprilato de etila; caproato de etila; carb amato de etila; cobre; formaldedo; furfural; geraniol; glicerina; heptanoato de e tila; hidroximetilfurfural; imlico; i-butanol; isobutanol; lactato de etila; laura to de etila; mentol; metanol; n-butanol; n-butiraldedo; n-dodecanol; n-propanol; n-tetradecanol; propanol; propionato de amila; propionato de metila; succinato d e dietila; tanino; valeraldedo; valerato de isoamila Descanso e envelhecimento[editar | editar cdigo-fonte] Durante o perodo de descanso, ou maturao da cachaa, que vai de trs a seis meses, ocor re a oxidao dos aldedos, responsveis pelo odor forte que incomoda as vias nasais. .1 0 Durante o envelhecimento da cachaa pode ocorrer na interao entre a bebida e a madei ra da qual feito o recipiente: 9 remoo de substncias pela evaporao, adsoro ou interao com a madeira incorporao de substncias da madeira pela cachaa oxidao de substncias liberadas pela cachaa H tambm outras transformaes qumicas, fsicas e sensoriais:10 interaes qumicas das substncias da destilao entre si etanol reage com o oxignio cidos fenlicos so formados a partir da oxidao de aldedos formao de cidos fenlicos em decorrncia da decomposio em monmeros da hemicelulose e da lulose surgem aromas agradveis na bebida devido formao de steres fenlicos, em decorrncia de eaes entre alcois da bebida e cidos fenlicos aumento da viscosidade e oleosidade da bebida alterao da cor, dependendo do tipo de madeira com a qual feito o recipiente. No caso da cachaa envelhecida, a hemicelulose e outras pentoses e seus polmeros ao serem degradadas por cidos tambm geram o furfural. 9 Quando h microaeraes durante o envelhecimento da cachaa os aldedos convertem-se em se us cidos correspondentes, o mesmo ocorrendo com os aldedos fenlicos, provenientes d a madeira do tonel. Se a bebida fica armazenada por mais de um ano, comea a ester ificao desses cidos com o etanol. 9 Composio da vinhaa[editar | editar cdigo-fonte] A vinhaa, subproduto da destilao do mosto fermentado, composta aproximadamente de: Matria orgnica (23,44 kg/m3), N (0,28 Kg/m3), P2O5 (0,20 kg/m3), K2O (1,47 km/m3), CaO (0,46 km/m3), MgO (0,29 kg/m3), SO2 (1,32 kg/m3), Fe (69,00 ppm), Cu (7,00 ppm), Zn (2,00 ppm) e Mn (7,00 ppm). pH 3,70.11 Gerao e aproveitamento de resduos[editar | editar cdigo-fonte]
Antiga moenda de madeira para cana-de-acar em Gois Durante o processo de produo da cachaa, so gerados os seguintes resduos: Ponteira da cana, vinhoto e bagao. A ponteira da cana-de-acar pode ser utilizada em silagem para alimentao animal. J o b agao rico em fibras, porm pouco nutritivo, especialmente se o processo de moagem f oi eficiente. O indicado utiliz-lo depois de seco, nas caldeiras como substituto de parte da madeira, ou mesmo para a produo artefatos artesanais. Alm de sua utilizao como combustvel para caldeiras e gerao de energia eltrica,12 o bag de cana vem sendo utilizado na alimentao de bovinos13 , na remoo de poluentes da gua 14 , na produo de enzimas ligninocelulolticas15 , na substituio da areia na construo c vil16 , na confeco de luminrias17 , na produo de fertilizantes18 , como substrato no cultivo de mudas de orqudeas19 , na produo do fibrocimento20 , do etanol de segunda gerao21 , de chapas de partculas22 , de briquetes23 , como aditivo do asfalto24 e na confeco de nanotubo de carbono25 . O vinhoto comumente utilizado como fertilizante e tambm na produo de biogs em alguma s destilarias. Entretanto, este subproduto no deve, de forma alguma ser jogado em rios ou leitos de gua sem tratamento prvio por ser altamente poluente. A cachaa po de ser redestilada para produo de etanol, mas no aconselhvel o retorno deste produto ao destilador para ser reprocessado. O vinhoto, vinhaa, tiborna ou restilo tambm se mostra boa alternativa para ser uti lizado na compostagem de resduos agroindustriais26 , no preparo de cuba de fermen tao alcolica27 , como aditivo na dieta da alimentao de aves28 como substrato para pro duo de biomassa protica e lipdica por leveduras e bactrias29 , para tratar poluentes da indstria txtil30 , na produo de biogs (metano) 31 e para produo de biodiesel32 Legislao no Brasil[editar | editar cdigo-fonte] De acordo com o Decreto 4 851, de 2003, o artigo 92 diz o seguinte sobre a cachaa : Cquote1.svg Cachaa a denominao tpica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduao alcolica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em vo lume, a vinte graus Celsius (C), obtida pela destilao do mosto fermentado de cana-d e-acar com caractersticas sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de acares at s eis gramas por litro, expressos em sacarose. Cquote2.svg
O texto regulamentar bsico editado pelo Governo brasileiro para disciplinar a pro duo e comercializao de cachaa no Brasil a Instruo Normativa n 13, de 29 de junho de , baixada pelo Ministro da Agricultura e publicada no Dirio Oficial da Unio de 30 de junho de 2006. A IN n13/2005, como conhecida, "Aprova o Regulamento Tcnico para Fixao dos Padres de Identidade e Qualidade para Aguardente de Cana e para Cachaa". Conforme este Regulamento Tcnico, a "cachaa a denominao tpica e exclusiva da aguarden te de cana produzida no Brasil, com graduao alcolica de 38% vol (trinta e oito por cento em volume) a 48% vol (quarenta e oito por cento em volume) a 20C (vinte gra us Celsius), obtida pela destilao do mosto fermentado do caldo de cana-de-acar com c aractersticas sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de acares at 6 g/l (seis gramas por litro), expressos em sacarose" e a "Aguardente de Cana a bebida com graduao alcolica de 38% vol (trinta e oito por cento em volume) a 54% vol (cinqenta e quatro por cento em volume) a 20C (vinte graus Celsius), obtida do destilado al colico simples de cana-de- acar ou pela destilao do mosto fermentado do caldo de cana -de-acar, podendo ser adicionada de acares at 6 g/l (seis gramas por litro), expresso s em sacarose"33 . Dia nacional da cachaa[editar | editar cdigo-fonte] Em junho de 2009, no 12 Expocachaa, o Instituto Brasileiro da Cachaa (IBRAC) oficia lizou o dia 13 de setembro como o Dia Nacional da Cachaa. Degustao[editar | editar cdigo-fonte]
Degustao uma avaliao que se faz da cachaa para estipular se ela boa ou ruim. Consist em exame visual da cachaa na garrafa e no copo, seguido do exame olfativo e depo is pelo gustativo da bebida.34
Exame na garrafa: A garrafa deve apresentar rtulo contendo dados sobre o produtor, graduao alcolica, s elo de produo e data do envasamento. Ela deve ser agitada levemente para que seja observada a formao de colar (crculo de pequenas bolhas) no gargalo. O lquido deve estar isento de partculas slidas ou viscosas. Exame no copo No copo, o lquido deve apresentar limpidez, ou seja, ser transparente e sem partcu las. Deve apresentar brilho vivo e no opaco. O brilho pode ser brilhante, lmpido, velad o, opaco ou turvo. A cor pode ser amarela, dourada, mbar ou branca, quando a cachaa no envelhecida ou o em tonis que no alteram a colorao da bebida. A viscosidade, ou seja, a presena de glicerol, pode ser observada agitando leveme nte o copo em movimentos circulares. Da parte superior do copo onde o lquido alca nou, comeam a escorrer "lgrimas". Quanto mais lento o deslizamento da lgrima, maior a viscosidade. Exame olfativo Primeiro, aproxima-se o copo om a cachaa em repouso das narinas, tampa-se uma del as e inspira-se com a outra. Se "queimar", significa presena de alto teor alcolico . Em seguida, agita-se levemente o copo para que aromas sutis sejam liberados e inspira-se com as duas narinas. Por ltimo, o copo deve ser agitado vigorosamente para que outros aromas sejam liberados. Os tipos de aroma so: Primrio (da cana-de-acar) Secundrio (liberado pelos steres na fermentao) Tercirio (liberados pela madeira durante o envelhecimento - no devem existir em ca chaas no envelhecidas). As caracterstica dos aromas so: Intensidade: aroma variando de sutil at imperceptvel. Fineza: aroma variando de notvel, agradvel e rude. Natureza: a analogia com aromas conhecidos como pimenta, noz moscada, baunilha, menta, anis, funcho, etc. Persistncia: o intervalo de tempo em que a sensao do aroma permanece na memria olfat iva. Principais aromas: Alcolico: deve ser moderado Frutado: quando lembra o aroma de frutas agradveis. cido: deve ser discreto, no ocasionando a excessiva produo de saliva. Adocicado: deve ser moderado, no prevalecendo sobre o aroma da fruta. Estranho: como aroma de mofo, papel molhado, acre, sulfatos, etc., o que demonst ra presena de componentes indesejveis. Alguns aromas indesejveis e causas provveis: No aceitveis: Vinagre: cido actico Verniz: Acetato de etila Ovo em decomposio: cido sulfdrico Gernio: cido srbico Aceitveis quando leves: Metlico: Acetaldedos Queijo ou chucrute: cido ltico Fsforo queimado: anidrido sulfuroso Mofo ou bolor: diversos sulfatos Exame gustativo Este exame confirma ou no as sensaes deixadas pelo exame olfativo. Coloca-se uma pe quena quantidade da cachaa na boca e revolve-a com a lngua, de maneira que alcance todas as partes da boca e da lngua. Procura-se ento identificar os aromas provoca dos pelo exame olfativo. Em seguida o lquido ingerido. As caractersticas obtidas com este exame so:
Estrutura: sensao de travo ou amargor indica bebida de m qualidade. A boa cachaa dei xa uma sensao aveludada. Acidez: se a tendncia for fazer careta como quando se come limo ou se bebe vinagre , uma indicao de que a cachaa de m qualidade. Alcoolidade: cachaa de m qualidade provoca uma sensao de ardncia ou queimao na boca e a garganta. Encorpo: a sensao de que passou algo encorpado pela boca, co