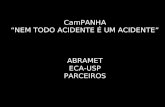Artigo Acidente de Transito
Click here to load reader
-
Upload
gustavo-lemos -
Category
Documents
-
view
504 -
download
2
Transcript of Artigo Acidente de Transito

7
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
REVISÃO REVIEW
A atualidade dos acidentes de trânsito na era da velocidade: uma visão geral
Car accidents in the age of speed: an overview
1 Departamento de Medicina Preventiva e Social, Faculdade de Ciências Médicas,Universidade Estadual de Campinas.Rua das Orquídeas 587,Campinas, SP 13087-370, Brasil.2 Departamento dePsicologia Médica e Psiquiatria, Faculdade de Ciências Médicas,Centro de Memória,Universidade Estadual de Campinas.Rua das Orquídeas 587,Campinas, SP 13087-370, [email protected]
Letícia Marín 1
Marcos S. Queiroz 2
Abstract This article focuses, in an interdisciplinary perspective, the studies about traffic acci-dents, in a national and international scale. It starts by analysing the great increase in produc-tion and consumption of motor vehicules worldwide and the social transformations which thisfact produced. Particular attention is given to the degradation of the urban environment andthe enormous social costs represented by traffic accidents. It follows with an epidemiologicalview on the victims of traffic accidents. The relationship between personality and traffic acci-dents deserved special attencion, mainly in what it relates to the consumption of alcool and oth-er chemical drugs, and other law breaking behaviour. The article concludes by emphasising theneed of the State to implemment specif consistent public policies, in order to control the problem.Key words Automobile Driving; Motor Vehicles; Traffic Accidents; Epidemiology
Resumo Este artigo focaliza, numa perspectiva interdisciplinar, os estudos sobre acidentes detrânsito em escala nacional e internacional. Ele começa analisando o aumento da produção econsumo de veículos motorizados em todo o mundo e as transformações sociais que esse fatoacarretou. Atenção especial é dada à degradação do meio ambiente urbano e ao enorme custosocial representado pelos acidentes de trânsito. Em seguida, é apresentado um panorama epide-miológico sobre as vítimas do trânsito. A relação entre personalidade e acidente de trânsito me-receu atenção especial, principalmente no que se refere ao comportamento infrator e ao consu-mo de bebidas alcoólicas e de outras drogas. O artigo conclui enfatizando a necessidade de o Es-tado implementar políticas públicas específicas consistentes, a fim de se poder controlar o pro-blema.Palavras-chave Condução de Veículo; Veículos Automotres; Acidentes de Trânsito; Epidemiologia

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.8
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
Introdução
Os estudos sobre acidentes de trânsito (AT) noBrasil são escassos, as ações de prevenção econtrole estão apenas iniciando e pouco se co-nhece a respeito do comportamento do moto-rista e do pedestre, das condições de segurançadas vias e veículos, da engenharia de tráfego,dos custos humanos e ambientais do uso deveículos motorizados e das conseqüênciastraumáticas resultantes dos AT. Este artigo pre-tende dimensionar os trabalhos mais relevan-tes sobre esse tema, em nível nacional e inter-nacional, visando contribuir para o desenvol-vimento dessa área de estudo.
Após a Segunda Guerra Mundial, o automó-vel particular converte-se em fenômeno demassa em todo o mundo. Ele torna-se artigo deconsumo e símbolo de status social, impulsio-nado pelo forte aparato de propaganda daseconomias capitalistas, que destacam a mobi-lidade individual e a prosperidade materialsem precedentes. A produção mundial anualde automóveis cresceu de 11 para 53 milhõesentre 1950 e 1995 (Tapia-Granados, 1998). En-tre 1970 e 1988, nos Estados Unidos da Améri-ca (EUA), o volume do tráfego aumentou de1,78 trilhões de km percorridos por veículospara 3,24 trilhões (Roberts, 1995). O aumentoda frota de veículos tem sido mundial, mas, emgeral, o sistema viário e o planejamento urba-no não acompanharam este crescimento. Alémda poluição sonora e atmosférica, o aumentodo tempo de percurso, os engarrafamentos, sãoresponsáveis pela crescente agressividade dosmotoristas e pela decrescente qualidade de vi-da em meio urbano (Tapia-Granados, 1998).
Juntamente com a incorporação do auto-móvel no cotidiano das comunidades, surgeum importante problema social, os AT. En-quanto no mundo desenvolvido faz-se um es-forço considerável no sentido de controlá-lo,nos países em desenvolvimento ele aparece co-mo um problema cada vez maior. No caso doBrasil, o trânsito é considerado um dos piorese mais perigosos do mundo. Os índices de ATsão altíssimos, com um para cada lote de 410veículos em circulação. Na Suécia, a relação éde um AT para 21.400 veículos em trânsito(DENATRAN, 1997).
Uma frota de veículos cada vez maior, cir-culando no mundo inteiro, trouxe, além dosAT, um aumento significativo na poluição doar, no índice de ruídos e na transformação de-gradante da paisagem urbana. O excesso de ga-ses liberados pelos motores dos automóveisconcorre decisivamente para uma proporçãoconsiderável das doenças respiratórias. Na Re-
gião Metropolitana de São Paulo, por exemplo,o número de dias com índices inadequados deconcentração de poluentes já alcança cerca de10% do total.
Um outro aspecto a ser considerado refere-se à perda de qualidade de vida, causada pelaimpossibilidade de encontrar espaços destina-dos à convivência social diante da crescenteconstrução de espaços exclusivamente para osveículos.
Em adição, no Brasil, nos últimos anos, emdecorrência da estabilidade econômica, o vo-lume de carros tem aumentado significativa-mente, situação esta compatível com um cres-cimento de cerca de 20% no consumo de com-bustíveis.
Além de representar um grande problemade saúde pública, os AT implicam um custoanual de 1% a 2% do produto interno bruto pa-ra os países menos desenvolvidos (Soderlund& Zwi, 1995). Numa estimativa conservadora, oGoverno do Estado de São Paulo (1993) calculaque o custo social e material dos AT chega acerca de 1% do PIB nacional. Nos EUA, umaanálise da Administração da Segurança no Trá-fego nas Estradas Nacionais concluiu que osprincipais custos em decorrência de AT corres-pondem a dano de propriedade (33%), perdade produtividade no trabalho (29%), despesasmédicas (10%) e perdas de produtividade nolar (8%) (CDC, 1993).
As deficiências físicas resultantes de AT tra-zem graves prejuízos ao indivíduo (financeiros,familiares, de locomoção, profissionais etc.) epara a sociedade (gastos hospitalares, diminui-ção de produção, custos previdenciários etc).As estimativas da Organização Pan-Americanade Saúde (OPS) apontam que 6% das deficiên-cias físicas são causadas por AT no mundo. NoBrasil, do total de portadores de deficiênciasatendidos pelo Hospital das Clínicas de SãoPaulo, 5,5% são casos de vítimas de AT (Gover-no do Estado de São Paulo, 1993).
No Brasil, cerca de dois terços dos leitoshospitalares dos setores de ortopedia e trau-matologia são ocupados por vítimas de AT,com média de internação de vinte dias, geran-do um custo médio de vinte mil dólares por fe-rido grave (Pires et al., 1997). O DepartamentoNacional de Trânsito (DENATRAN) registrou,em 1994, mais de 22 mil mortes no trânsito noPaís e mais de 330 mil feridos. O custo anual es-timado ultrapassa três bilhões de dólares (Pireset al., 1997).
Esses números expressam bem o drama so-cial decorrente da motorização em sociedadesem desenvolvimento, como o Brasil, e a neces-sidade premente de se trabalhar a questão da

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
segurança no trânsito. Em âmbito mundial, es-sa questão só passou a ser examinada com in-teresse correspondente à sua importância apartir da década de 50; no Brasil, porém, é ain-da mais recente, e está sendo implementadapor meio de campanhas em nível federal, esta-dual e municipal. A aprovação pelo CongressoNacional do novo Código de Trânsito em 1998é um começo promissor de mudança quanto aesses altíssimos números. Contudo, programasadicionais são imprescindíveis para criar umanova cultura no trânsito e, nesse aspecto, so-mente os municípios maiores nas regiões maisdesenvolvidas têm encontrado condições deimplementar tais programas.
Aspectos epidemiológicos e econômicos
Mortalidade no Trânsito
O aumento da mortalidade por AT, bem comoa gravidade das lesões que os mesmos causam,começaram a ser destacados pelos pesquisa-dores de países desenvolvidos a partir da déca-da de 60. A Organização Mundial da Saúde(OMS) observa que o índice de mortalidade en-tre pedestres com mais de 14 anos de idade di-minui, aumentando significativamente entremotoristas e ocupantes de veículos, principal-mente após os 17 anos de idade (WHO, 1976).No Brasil, Mello-Jorge & Latorre (1994), consi-derando apenas as áreas geográficas de melhorqualidade de informação, observaram que osatropelamentos ocupam entre 50% e 85% dasmortes por AT. No Rio de Janeiro, Klein (1994)verificou que os atropelamentos, em 1990, re-presentaram 55% dos óbitos por AT no grupo de20 a 39 anos, e 86% no dos maiores de 65 anos.
Yunes & Rajs (1994), estudando a mortali-dade por causas violentas nas Américas, obser-vam que, embora a mortalidade proporcionalpor AT neste grupo de mortes tenha apresenta-do tendência decrescente, ainda constitui umproblema grave no Brasil, Canadá, EUA e Vene-zuela. Nos EUA, 72% de todas as mortes deadolescentes e adultos jovens são causadas porviolências, que incluem AT, outras lesões nãointencionais, homicídios e suicídios (CDC,1995). No Brasil, o coeficiente de mortalidadepor acidentes de trânsito, em 1994, era de 18,9(por cem mil habitantes), sendo superior aodos EUA (18,4), da França (16,5), da Argentina(9,1), entre outros. Em números absolutos, osóbitos por AT aumentaram de 17.795, em 1977,para 29.014, em 1994. A situação epidemiológi-ca das diversas capitais brasileiras é heterogê-
ACIDENTES DE TRÂNSITO 9
nea, mas em 50% dos casos houve tendênciacrescente nesse período, e algumas delas, es-pecialmente as que são pólos de migração,apresentaram um incremento de 100% ou su-perior (Mello-Jorge & Latorre, 1994).
A mortalidade por AT no Brasil tem flutua-do entre 16,1/100.000 em 1994 e 18,9/100.000em 1994, sendo que algumas localidades apre-sentam taxas até duas vezes mais elevadas, co-mo é o caso de Goiânia, Campo Grande, Vitó-ria, Curitiba, Florianópolis e Distrito Federal(Mello-Jorge et al., 1997). O Brasil presenciouno ano de 1997 um número superior a 38 milmortos e 460 mil feridos, num conjunto totalde 2,1 milhões de AT. De 1992 a 1996, houve umacréscimo de 24% no número de mortes por AT(DENATRAN, 1997), sendo o índice de fatalida-de, pelo menos, duas vezes maior do que o en-contrado em países desenvolvidos. Exemplodisso é o índice de 8,8 mortes encontrado noJapão, que vem apresentando redução de anopara ano, enquanto no Brasil tem ocorrido exa-tamente o inverso.
Reichenheim & Werneck (1994), ao analisaros grandes grupos de causa de óbitos no Muni-cípio e no Estado do Rio de Janeiro em 1990,observaram que as causas externas são o prin-cipal motivo de mortalidade precoce, predomi-nantemente entre representantes do sexo mas-culino. Como causa isolada, os AT foram res-ponsáveis por 7,6% das mortes precoces no Es-tado e por 8,3% no Município do Rio de Janei-ro. Enquanto isso, na cidade de São Paulo, osAT representam a quinta causa de morte pre-matura (PMSP, 1992).
Em Recife, em 1991, Lima & Ximenes (1998)descreveram maior mortalidade por AT no es-trato de condição de vida mais elevado e maioracometimento da população de cinqüentaanos e mais.
Morbidade e incapacidade
Quanto às estatísticas de morbidade, a subno-tificação é bastante relevante, uma vez que sósão incluídos os AT que chegam ao conheci-mento da polícia. Nos EUA, em 1990, aproxima-damente 22% dos 5,4 milhões de pessoas envol-vidas em acidentes de trânsito não fatais não fi-zeram ocorrência policial (CDC, 1993). A defi-ciência de dados sobre os AT constitui um obs-táculo importante para o desenvolvimento dosprogramas de segurança no trânsito, já que pre-judica a configuração e a análise do problema.
Soderlund & Zwi (1995) analisaram dadosrelativos às mortes por AT em 83 países duran-te o ano de 1990 e observaram que, quantomaior o Produto Nacional Bruto (PNB) per ca-

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.10
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
pita, maior é o orçamento destinado ao atendi-mento de saúde e menores são as taxas de leta-lidade entre as vítimas de AT. Havendo melhorqualidade de tratamento, haverá maior proba-bilidade de sobrevida (WHO, 1976).
Embora a OMS recomende que se incluamnas estatísticas as mortes em decorrência deAT ocorridas após trinta dias do acidente, al-guns países só consideram os óbitos até o séti-mo dia (OMS, 1984). Em descompasso com aorientação da OMS, a Associação Brasileira deNormas Técnicas (ABNT) recomenda que amorte seja registrada até três dias após o aci-dente (Clark, 1995). Sendo assim, no Brasil,muitas das vítimas de AT vão a óbito sem queeste seja registrado como conseqüência de AT.
Há que se considerar ainda que muitos dosacidentados admitidos em hospitais não sãoidentificados como vítimas de AT, mas como deacidentes em geral. Esses motivos explicampor que o registro oficial de mortos no trânsito,especialmente no caso de países em desenvol-vimento como o Brasil, não aponta um núme-ro real (Braga & Santos, 1995). De acordo comClark (1995), no caso brasileiro, o sub-registroé bastante elevado, variando de 35% a 100%,conforme a região do País.
O número de incapacitados por AT tem au-mentado significativamente. Entre as explica-ções para esse fenômeno observa-se: a) maiornúmero de AT entre jovens que apresentammelhores condições de saúde para sobreviveraos acidentes graves; b) maior velocidade dosveículos; c) aumento do número de veículospesados; d) avanços nas técnicas médicas deressuscitamento.
Um levantamento no Reino Unido, com ba-se em 4.342 internações no Hospital de Aciden-tados de Birmingham, em 1961, observou quemais da metade das incapacidades atingiammenores de trinta anos; perto de um terço des-tas foi grave e metade, moderada, tendo comovítimas 25% de motociclistas, 21% de pedes-tres, 21% de ocupantes de veículos e 11% de ci-clistas (WHO, 1976). No Brasil, em 1988, Cam-pos-da-Paz et al. (1992) identificaram, em 36hospitais públicos, 108 pacientes (81% do sexomasculino) com lesão medular por trauma,sendo 42% dos casos decorrentes de AT.
A Organização Pan-Americana da Saúde(OPS, 1994) estima que a cada adolescente quemorre por AT, entre 10 a 15 apresentam seqüe-las graves, e 30 a 40 sofrem ferimentos graves,devendo utilizar serviços de emergência e/oureabilitação.
Sexo e idade
Em 73,1% dos casos, os principais envolvidosem AT são pessoas do sexo masculino. Os jo-vens são as principais vítimas, e a faixa etáriaque contém um número mais significativo des-tas, com 24,32% do total, é a que vai dos 15 aos24 anos (DENATRAN, 1997). Klein (1994) mos-tra o predomínio masculino de mortes no trân-sito, em especial no grupo de 20 a 64 anos, queatinge cinco vezes mais homens do que mulhe-res. No período de 1977 a 1989, a tendênciamédia da mortalidade por AT foi de leve ascen-são, quase exclusivamente em razão do au-mento das mortes de vítimas do sexo masculi-no (em todas as faixas etárias), exceto no Riode Janeiro, onde o sexo feminino tambémapresentou tendência crescente (Mello-Jorge &Latorre, 1994).
Murray & Lopez (1996), ao analisarem amortalidade no sexo masculino, utilizando ocálculo de anos potenciais de vida perdidos(APVP), observaram que os AT constituem a se-gunda causa de morte precoce no mundo todo.Em alguns países, os óbitos por AT entre ho-mens de 15 a 24 anos representam metade oumais das mortes por todas as causas, havendouma diminuição após os 25 anos de idade(WHO, 1976).
Na França, o inquérito Baromètre Santé,realizado em novembro de 1992, que incluiu315 jovens entre 18 e 24 anos, menciona que,entre estes, os AT são o problema de saúdemais importante (69,3%). Três de cada quatromortes na faixa de 15 a 19 anos são causadaspor AT, e, embora corresponda a 10,5% da po-pulação, essa faixa etária contém 25% das víti-mas dos acidentes de trânsito. Ainda em 1992,na faixa de 18 a 24 anos, as estatísticas de ATapontavam: 2.315 mortes, 11.997 ferimentosgraves e 40.809 ferimentos leves (Baudier et al.1994).
Nos EUA, os jovens também são as maioresvítimas no trânsito. Segundo estatísticas de1983, 50% dos motoristas envolvidos em aci-dentes fatais pertenciam à faixa de 16 a 29 anos(Williams & Carsten, 1989). Hakkinen (1976,apud Kaiser, 1979), por sua vez, observou que,em todas as faixas etárias, a freqüência de aci-dentes é uma vez e meia maior nos três primei-ros anos em que o motorista adquire sua car-teira (licença) para dirigir, do que nos anossubseqüentes. Uma vez que juventude, poucaprática na condução de veículos e falta deadaptação geral no trânsito estão fortementeassociadas ao maior risco de AT (Kaiser, 1979),o grupo etário mais atingido é o de jovens, ten-do em vista o fato de que é nessa fase que con-

ACIDENTES DE TRÂNSITO 11
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
seguem a licença (Carteira de Motorista) e,concomitantemente, têm menor experiênciapara dirigir.
Yunes & Rajs (1994) mostram que, nas Amé-ricas, entre 1984 e 1994, houve um aumentodos coeficientes de mortalidade, especialmen-te nas faixas de 15 a 19 e de 20 a 29 anos, tantoem homens, como em mulheres, embora noshomens o maior coeficiente seja noventa e nasmulheres inferior a seis (por cem mil habitan-tes). Entre 1970 e 1985, a mortalidade propor-cional por violências e acidentes, no Municípiode São Paulo, variou de 8,9% para 13,0% paraambos os sexos; de 12,6% para 18,5% para oshomens e de 4,3% para 5,2% para as mulheres.O índice de sobremortalidade masculina man-teve-se constante em 3,3. Os óbitos por causasviolentas ocupavam, em 1985, o segundo lugarna estrutura das principais causas de mortali-dade masculina, sendo especialmente fre-qüentes entre os jovens de 15 a 29 anos (Paglia-ro, 1992).
Anteriormente, um grupo de pesquisas(OECD Research Group), com base no estudodo Comitê Europeu de Saúde Pública, obser-vou que a proporção de sexos entre os aciden-tados no trânsito era de 4,5 homens por cadamulher, e que a maior freqüência era entre 17 e22 anos (WHO, 1976).
Desenvolvimento econômico
De acordo com informe da OMS (1984) a res-peito de uma análise feita com o objetivo deavaliar o desempenho de diversos países quan-to à segurança no trânsito, tem-se que:
1) os países industrializados (que já imple-mentaram várias medidas para conter a violên-cia no trânsito, principalmente a partir da se-gunda metade da década de 70) têm consegui-do estabilizar o problema, mas os custos têmsido crescentes;
2) nos países em um nível intermediário dedesenvolvimento, os AT estão entre as princi-pais causas de mortalidade, principalmenteentre jovens. Nesses países, os custos com pro-blemas decorrentes de AT representam cercade 1% do Produto Nacional Bruto (PNB);
3) em último lugar, os países em desenvol-vimento, apesar das preocupações com os pro-blemas gerados pelos acidentes de trânsito,não conseguem implantar políticas ou progra-mas destinados à diminuição da mortalidadeou dos custos dos problemas decorrentes dosAT, os quais representam até 2% do PNB (So-derlund & Zwi, 1995).
De acordo com estudo recente do BancoMundial, apresentado na 3a Conferência Anual
de Transportes, Segurança de Trânsito e Saúde,promovida pela OMS, em Washington, de cadacem pessoas mortas em AT no mundo, setentasão habitantes de países subdesenvolvidos e 66são pedestres. Entre estes últimos, cerca de umterço são crianças (Lundebye, 1997). O estudorevela ainda que, das cerca de meio milhão devidas perdidas anualmente em AT em todo omundo, os países pobres são responsáveis por350 mil mortes no trânsito.
Alfaro-Alvarez & Díaz-Coller (1977) analisa-ram dados secundários de 28 países das Amé-ricas e, ao comparar os anos de 1969 e 1975,observaram uma tendência crescente da mor-talidade por AT, diretamente proporcional aonúmero de veículos registrados. Os AT relacio-nam-se com o volume de carros circulantes, e,nos países menos desenvolvidos, com baixo ín-dice de veículos, as vítimas de AT são preferen-cialmente os pedestres. Nos países de maiordesenvolvimento, com elevado índice de veí-culos, as vítimas são os motoristas. Na Américado Sul, os atropelamentos fatais respondempor mais da metade das mortes ocorridas notrânsito. Já nas nações ricas, as vítimas maiscomuns em AT são os ocupantes dos carros.Nos EUA, por exemplo, atingem 80% de moto-ristas e 20% de passageiros (Lundebye, 1997).Portanto, nos países pobres, é preciso investirna proteção e educação tanto do pedestre, co-mo do motorista.
Sendo assim, nesse contexto, o grande focode atenção dos governos deve ser o trânsito nascidades, visto que dois terços dos AT que cau-sam ferimentos ocorrem em áreas urbanas.
A qualidade de informação
Mello-Jorge & Latorre (1994) apontam a dificul-dade para estudar os AT por tipo de causa, vis-to que, em geral, o diagnóstico de causa básicaé de natureza não especificada. Entre 1977 e1987, mais de 70% dos AT no Brasil estavamnessa categoria. Esses autores destacam a ne-cessidade de melhoria da qualidade da infor-mação em nível dos Institutos Médico-Legais,uma vez que, na maioria dos casos, tais institu-tos dispõem de cópia do Boletim de Ocorrên-cia Policial, onde constam as circunstâncias doacidente de trânsito, as quais são fundamen-tais para especificar a causa básica de morte.
Entre 1984 e 1989, a Organização Pan-Americana da Saúde organizou, em países daAmérica Latina, quatro seminários interinsti-tucionais sobre o estudo epidemiológico dosAT, quando se reconheceu, unanimemente, anecessidade de criar ou aperfeiçoar sistemasde informação para o monitoramento dos AT

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.12
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
(Bangdiwala et al., 1991). Nesse sentido, o arti-go de Waldman & Mello-Jorge (1999) apresentauma sistematização dos conceitos e aspectosoperacionais fundamentais para um eficientesistema de vigilância das violências, incluindoos AT.
Personalidade e AT
Vários estudos revelam conexão significativaentre personalidade e risco de AT. Uma pesqui-sa na Austrália, por exemplo, comparou cemindivíduos culpados de acidentes graves comcem controles pareados. Os casos apresenta-ram maior freqüência de sintomas psiquiátri-cos menores, como ansiedade, impulsividade efalta de consciência social. Referiram, também,com maior freqüência, eventos de vida desfa-voráveis nas quatro semanas prévias ao aci-dente (WHO, 1976).
Tem sido observada ainda uma associaçãosignificativa entre criminalidade e envolvimen-to em AT. Pesquisa de Haviland & Wiseman(Haviland & Wiseman 1974, apud West et al.,1993b) observou que 114 criminosos apresen-tavam 5,5 vezes maior envolvimento em ATcom danos materiais ou lesionados e 19,5 ve-zes maior envolvimento em AT fatais. A classi-ficação de transtornos mentais do ManualDiagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-tais (DSM-IV, 1995) inclui o “dirigir impruden-te” na categoria de desordens de personalidadeanti-sociais, considerando-o como um sinalindicativo desta classe de desordens, junta-mente com a falta de sentimento de culpa, onão-pagamento de dívidas e o comportamentocriminal (West et al., 1993b).
McGuire (1972, apud West et al., 1993b) es-tudou 2.727 solicitantes de carteira de motoris-ta através de testes e questionários e levantoua incidência de acidentes nos dois anos subse-qüentes. Observou que o envolvimento em aci-dentes associava-se com sentimentos de hosti-lidade, agressividade e antecedentes de confli-tos familiares.
Evans et al. (1987, apud West et al., 1993b),em estudo com motoristas de ônibus na Índiae nos EUA, encontraram que os de comporta-mento hiperativo, agitado e nervoso (conven-cionalmente denominados de tipo A), em am-bos países, apresentavam taxas de acidentemais elevadas que os de comportamento pas-sivo, controlado e calmo (convencionalmentedenominados de tipo B). Na Índia, também foiobservado que os motoristas de personalidadetipo A brecavam, ultrapassavam e tocavam abuzina com maior freqüência.
Sobre a vulnerabilidade do adolescente esua busca da identidade adulta, cabe lembraros trabalhos de Erik Erikson (Erikson, 1972) e,entre nós, sul-americanos, os de Knobel (1980).Um estudo de Manstead et al. (1991, apud Par-ker et al., 1995) com adolescentes e jovens ob-servou que estes não apresentam falta de habi-lidades nas tarefas de direção simulada, massuas respostas a um questionário nem sempremostraram atitudes e opiniões compatíveiscom uma direção segura.
Quimby et al. (1986, apud West et al., 1993a)comentam que os estudos não têm conseguidodemonstrar relações consistentes entre o de-sempenho psicomotor e a tendência para so-frer acidentes, o que tem levado a uma concep-ção de que o estilo de conduzir pode ser maisimportante que as habilidades psicomotoras.
As ocorrências de AT concentram-se emum grupo pequeno dos condutores. Pesquisana Alemanha observou que 9% dos condutoreseram responsáveis por 40% dos acidentes (Kai-ser, 1979). Meyer & Jacobi (1961, apud Midden-dorf, 1976), em levantamento de 145.000 atasde companhias seguradoras, observaram que:
a) os acidentes do trânsito se qualificam co-mo infrações culposas ou premeditadas contraos regulamentos de trânsito mais simples e, emgeral, acontecem em circunstâncias cotidianasde trânsito. Parte dessas infrações levam, ine-vitavelmente, a acidentes;
b) as motivações internas de erro humanoobservadas são: dificuldades ou falta de dispo-sição para a obediência às normas jurídicas dotrânsito.
A freqüência relativa de AT com relação aototal de portadores de carteira de motorista vaidiminuindo com o aumento da idade: na Ale-manha, observaram-se 10% de acidentes gra-ves na faixa etária de 19 e 20 anos, mas esta ci-fra caiu para 4% no grupo de pessoas entre 25 e34 anos, que constituem a maioria dos moto-ristas (Kaiser, 1979). Os adolescentes apresen-taram maior freqüência de infração por dirigi-rem de forma temerária, por estarem entedia-dos, com desejo de aventura ou com vontadede se destacar (Middendorf, 1976).
Como foi observado na Conferência de Ro-ma (OMS, 1984), o comportamento do moto-rista é o principal fator responsável por AT(observação de sinais, velocidade e decisõesno momento de ultrapassar outro carro ou decruzar uma rua). Concluiu-se, nesse evento,que é necessário um conhecimento maior dasculturas e das condições de vida locais paraque as atitudes dos motoristas possam ser com-preendidas, aproveitando esse conhecimentoem programas de capacitação, reabilitação e

ACIDENTES DE TRÂNSITO 13
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
educação, que promovam um comportamentomais adequado.
Agressividade e transgressão
Vários estudos verificam uma forte conexãoentre agressividade e trânsito, principalmenteentre a população jovem e adolescente. ParaDenker (1966, apud Middendorf, 1976), a frus-tração provoca diferentes reações, sendo aagressividade uma delas. Desejo de segurança,novas experiências, compreensão, reconheci-mento e justiça, quando não satisfeitos, po-dem, no adolescente, levar à frustração que,por sua vez, pode levá-lo a comportamentosanti-sociais.
No adulto, persistem, em forma residual,aspirações primitivas de poder. Em alguns in-divíduos, características infantis os fazem pro-curar por um instrumento que lhes permitamultiplicar suas possibilidades físicas. O carro,nesse sentido, representa um prolongamentodo corpo do motorista e se torna parte inte-grante de seu narcisismo (Raix et al., 1982).
Para Hess & Haeberli (1967, apud Midden-dorf, 1976), a agressão e a tendência à procurapor riscos estão estreitamente associadas. Emtempos primitivos, o enfrentamento de situa-ções de risco constituía, freqüentemente, umaquestão de sobrevivência. Hoje, o homem pro-cura riscos artificiais para seu prazer no tempolivre, entre eles, o mais facilmente disponível,o veículo.
A transgressão é uma infração intencionaldo socialmente aceito e regulado. Para Mans-tead et al. (1991, apud Blockey & Hartley, 1995),as transgressões são reflexo de que o condutoracredita que suas atitudes e comportamentosestão certos. Assim, a identificação da naturezade tais atitudes e crenças é fundamental para oplanejamento, educação e prevenção delas,precisando haver mudanças de atitudes, cren-ças, normas e, ao mesmo tempo, a divulgaçãoadequada da cultura de segurança (Reason,1990, apud Parker et al., 1995).
As transgressões no trânsito são um fenô-meno social e devem ser analisadas no contex-to organizacional e social mais amplo. Atual-mente, os comportamentos não ajustados deautodestruição, como o alcoolismo e a droga-dicção, apresentam-se com maior freqüência.Nessa circunstância, o carro pode se constituirnum instrumento de escapismo e num meio deviolência (Baudier et al., 1994).
Parker et al. (1995) realizaram pesquisacom 1.600 motoristas e identificaram três tipo-logias de comportamentos aberrantes ao diri-gir: 1) lapsos ou comportamentos de esqueci-
mento; 2) erros de julgamento ou observaçãopotencialmente perigosos para outros; 3) trans-gressões, contravenções intencionais às práti-cas de seguridade no trânsito. A pesquisa con-cluiu que os homens, em maior freqüência queas mulheres, referiram elevado número de er-ros. As mulheres relataram mais lapsos, em as-sociação à percepção de si como más motoris-tas. Quanto às transgressões, estas se associa-ram à juventude, ao sexo masculino, à auto-qualificação como bom motorista (acima damédia) e à elevada quilometragem anual.
Blockey & Hartley (1995) realizaram um es-tudo com 67 homens e 74 mulheres, cuja análi-se fatorial destaca três fatores: erros gerais, er-ros perigosos e transgressões perigosas. Oscondutores jovens cometeram erros e trans-gressões perigosos com maior freqüência. Oshomens referiram maior freqüência de trans-gressões perigosas, enquanto os condutorescom exposição à estrada e aqueles que tinhamsido detidos por alta velocidade relatarammaior freqüência de transgressões perigosas.
West et al. (1993b) estudaram, medianteaplicação de questionário, o “desvio social le-ve”, caracterizado por comportamentos quepredispõem o indivíduo a AT. O desvio social(em que os homens tiveram pontuação maiselevada do que as mulheres) teve correlaçãopositiva com o índice de acidentes, indepen-dentemente de idade, sexo, e quilometragemanual. O desvio social apresentou uma associa-ção negativa com meticulosidade e positivacom velocidade e comportamento indevido nadireção. O comportamento tipo A associou-sepositivamente com velocidade na direção, masnão houve evidência de associação com maiorrisco de acidente.
Há várias explicações do porquê de indiví-duos com comportamento desviante dirigiremmais rápido e, conseqüentemente, causaremmais acidentes. O desvio social pode ser moti-vado por uma ênfase indevida nas necessida-des imediatas, sem qualquer consideração àsconseqüências futuras para si ou para outros.Uma outra explicação é que exceder os limitesde velocidade significa desafiar a lei e, para osindivíduos com desvio social mais elevado, es-se comportamento representa uma forma deauto-afirmação compensatória.
Tomada de decisão
Kaiser (1979) dá importância especial à toma-da de decisão no trânsito, a qual sofre interven-ção de percepção, juízos, motivações e outrasatividades psíquicas. As situações de trânsitoobrigam o indivíduo a tomar decisões em fra-

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.14
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
ções de segundos, dentro de uma multiplicida-de de impressões do mundo circundante, e en-caixá-las no mosaico das situações momentâ-neas. Desse modo, pode-se tomar uma decisãoinadequada em razão de uma perturbaçãotransitória, como nos casos de fadiga, estresse,sobrecarga emotiva ou embriaguez.
French et al. (1993) observam que os fato-res prognósticos de envolvimento em AT (con-siderando a quilometragem anual) incluemidade, experiência, habilidade para observarrapidamente situações de risco e tendência acorrer riscos. Acreditam que o envolvimentoem acidente pode ter mais relação com o mo-do como as pessoas fazem julgamentos e to-mam decisões, do que com sua habilidade pa-ra controlar o carro. Exemplos de tomadas dedecisão no trânsito incluem a ultrapassagem, amudança de pista, estacionar o veículo numabrecha de tamanho determinado, entre outras.
Uma forma importante de abordar o estu-do da tomada de decisão está relacionada aosaspectos sociológico/antropológico (em que seenfatiza o exame de crenças e valores do moto-rista) e psicológico (em que se enfatiza carac-terísticas da personalidade baseadas numacerta tipologia). Neste último caso, segundo omodelo de Career (1992, apud French et al.,1993), os indivíduos classificam-se em três ti-pos: racionais, intuitivos e dependentes. A to-mada de decisão racional caracteriza-se pordestacar a informação relevante, observar cui-dadosamente as conseqüências futuras e atuarde forma intencional e lógica. A intuitiva mos-tra pequena antecipação às conseqüências fu-turas, ou pequena procura sistemática de in-formação. A dependente tem como caracterís-tica não se mostrar responsável por suas deci-sões, que são tomadas em virtude da aprova-ção social.
O estudo de French et al. (1993) concluiuque condutores que apresentaram um graumenor de meticulosidade em tomadas de deci-são mostraram um risco maior de AT e esta as-sociação esteve mediada pela maior velocida-de na direção. Os jovens até trinta anos apre-sentaram um índice mais elevado de falta demeticulosidade. Dessa forma, os autores acre-ditam que a baixa meticulosidade é reflexo deum traço mais geral de impaciência, que podeconduzir as pessoas a dirigir com maior veloci-dade.
Velocidade, medidas de segurança e prevenção de AT
Velocidade
A velocidade que o carro permite atingir ofere-ce ao condutor a oportunidade de experimen-tar sentimentos de grandeza e fantasia de oni-potência; além disso, música no carro favorecea sensação de isolamento e, assim, aumenta asensação de grande independência. Autoresque se preocupam com uma abordagem psica-nalítica do problema têm apontado a vulnera-bilidade de adolescentes e adultos com perso-nalidade imatura na condução perigosa de veí-culos motorizados. O carro constitui uma com-pensação para o ego angustiado e apático etorna-se uma segunda pele do indivíduo. Nes-se sentido, o automóvel passa a exercer a fun-ção de separar o motorista de seus semelhan-tes, que são visualizados exclusivamente comooponentes (Hilgers, 1993).
Um outro aspecto importante de se obser-var é a influência da publicidade sobre o com-portamento e formação de valores. Ainda se-gundo a OMS (WHO, 1976), freqüentementeveiculam-se anúncios que associam carros ve-lozes e altas velocidades com virilidade. Essesanúncios podem ter grande influência no gru-po de risco de jovens motoristas, em razão davulnerabilidade destes, determinada pela pró-pria condição de transformação da personali-dade. Erros no julgamento de distância ou detempo e fatos inesperados, como buracos ouchão escorregadio, convertem-se em acidentespor causa do excesso de velocidade.
A correlação positiva entre velocidade emaior risco de AT já foi verificada por váriaspesquisas (French et al., 1993). Quanto ao ex-cesso de velocidade, Hilgers (1993) observaque a falta de fiscalização nas estradas denotaum descaso das autoridades em relação ao pe-rigo dos AT. A negação do perigo inerente aocarro também se manifesta na ausência de po-líticas de transporte adequadas. Em 1989, nasestradas alemãs, existiam seiscentos pontos decontrole de velocidade, o que representava uma cada 30.000 km e, assim, a probabilidade dedetectar infratores era irrisória.
O Inquérito Europeu de Saúde e Compor-tamento, realizado no Reino Unido, revelouque 17% dos homens poucas vezes respeitamo limite de velocidade e que a freqüência demulheres nesta faixa foi significativamentemenor (2,3%) (Wardle & Steptoe, 1991). Acrença de que dirigir dentro do limite de velo-cidade é importante para a saúde é pouco di-fundida, sendo apenas relatada por 7,9% das

ACIDENTES DE TRÂNSITO 15
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
mulheres e 6,7% dos homens (Wardle & Step-toe, 1991).
Em estudo na Nova Zelândia, com 217 mo-tociclistas de 18 anos, observou-se que mais de22% tinham sido multados, principalmentepor alta velocidade. Embora 46% da amostrafossem portadores da carteira de habilitaçãoespecial para jovens, a maioria referia ter viola-do as restrições impostas por esta (Reeder etal., 1996).
West et al. (1993a) aplicaram um questioná-rio sobre estilo de direção a 48 condutores, osquais foram também observados (sem quesoubessem) em uma rota pré-definida em se-tor urbano e de estrada. A velocidade determi-nada por observadores na estrada correlacio-nou-se bem com a velocidade habitual de dire-ção referida pelo condutor. Esse estudo utili-zou uma regressão logística múltipla, conside-rando, como variável dependente, o antece-dente de envolvimento em acidente. A veloci-dade observada na estrada, independentemen-te das outras variáveis, esteve significativa-mente associada com envolvimento em aci-dente.
Medidas de segurança e prevenção
As crenças relacionadas à manutenção da saú-de são importantes em si mesmas como um fa-tor que determina comportamentos de saúde.Dentre estes, de importância na prevenção deAT, podemos citar o hábito de não ingerir bebi-das alcoólicas ao dirigir e o uso de cinto de se-gurança. Crenças sobre a importância de hábi-tos de saúde não só influenciam comporta-mentos, mas também são importantes nas ati-tudes em relação à legislação, bem como nasdecisões de políticas sociais e nos programasde promoção de estilo de vida saudável.
Os comportamentos inadequados no trân-sito parecem constituir uma categoria difícil deser mudada, mas, segundo Parker et al. (1995),o Reino Unido é exemplo de que é possível con-seguir grandes conquistas no comportamentorelacionado a beber e dirigir. De acordo com osautores, esse exemplo serve para mostrar quetal objetivo requer muito esforço, tempo e di-nheiro, mas que se pode mudar esse tipo deatitude.
Nos EUA, o CDC – Centers for Disease Con-trol (CDC, 1994) comenta que, desde 1966,quando o Governo Federal estabeleceu que asegurança nas rodovias era uma prioridade na-cional, o número anual de mortes por AT dimi-nuiu em 21%, embora o número anual de qui-lômetros percorridos por veículos tenha au-mentado em 114%. A redução da freqüência
das lesões de AT tem sido associada a um con-junto de políticas públicas que têm como baseavanços científicos em que se destacam: pro-gramas de informação pública; promoção demudanças comportamentais; mudanças na le-gislação e avanços de engenharia e tecnologiarelacionadas com o trânsito. Essas estratégiastêm tido como resultado veículos mais seguros,modificações de práticas de direção (diminui-ção da freqüência de condutores alcoolizadose aumento do uso de cinto de segurança) e am-biente de estrada mais seguros, bem como me-lhoria nos serviços médicos de emergência. Temsido fundamental nesse sentido a incorpora-ção de sistemas nacionais de coleta de infor-mação para o monitoramento rotineiro dos aci-dentes fatais, a identificação de fatores de riscomodificáveis, a elaboração e implementaçãode medidas preventivas e a avaliação da efeti-vidade destas. Para Winston et al. (1996), essesavanços aconteceram nos últimos trinta anos,mas ainda há lacunas de conhecimento que li-mitam a efetividade da prevenção.
O Inquérito Europeu sobre Saúde e Com-portamento foi realizado com estudantes uni-versitários de carreiras não médicas (duzentoshomens e duzentas mulheres de 18 a 30 anos)de vinte centros participantes. O estudo revelaque as mulheres referem dirigir dentro do limi-te de velocidade regulamentar. A análise dascrenças sobre diferentes atividades importan-tes para a manutenção da saúde mostra que onão beber e dirigir e o uso de preservativo se-xual são os mais importantes dentre os 25 itensestudados. No entanto, há discrepâncias im-portantes entre comportamentos e a força dascrenças. Por exemplo, mesmo os que admitemdirigir sob efeito do álcool acreditam ser im-portante não dirigir após beber. A influênciaque o conhecimento sobre a saúde tem no esti-lo de vida pode ser afetada, ainda, pelo contex-to social e por variáveis de ordem cultural(Wardle & Steptoe, 1991).
O uso de cinto de segurança é um compor-tamento indicativo de interesse na segurançapessoal. Evans & Bloomfield-Hills (1996) desta-cam a importância dos meios de proteção, co-mo o cinto de segurança ou air bags, radicaisna diminuição da letalidade dos acidentes viti-mando ocupantes de veículos, mas afirmamque tais meios não têm qualquer impacto naprevenção dos AT relacionados com pedestresou ciclistas.
Um inquérito realizado no Reino Unidopor Wardle & Steptoe (1991) observou que ouso do cinto de segurança está amplamentedifundido, tanto entre homens, como entremulheres (86,7% e 89,5%, respectivamente),

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.16
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
Consumo de medicamentos e drogas ilícitas
Outro fator preocupante relaciona-se ao uso dedrogas, porém estudos sobre a influência des-tas tornam-se pouco viáveis, pela dificuldadede demonstrar sua presença, já que o nível demetabólitos não se correlaciona com seu efeitona capacidade para dirigir. No entanto, tem-seobservado que os motoristas que utilizam esti-mulantes (anfetaminas) apresentam um riscoaumentado de AT (WHO, 1976). Skegg et al.(1979), em estudo caso-controle, observaramassociação significativa entre acidente grave euso de tranqüilizantes menores, como Diaze-pam.
O inquérito Baromètre Santé aponta que osjovens têm uma atitude permissiva com rela-ção às drogas: 90,6% pensam ser normal usá-las, pelo menos uma vez na vida, e 22,3% já ex-perimentaram algum tipo de tóxico, principal-mente a maconha (98,6%). Dos jovens entre-vistados, 34,3% dos consumidores de drogassão homens e 13,4% são mulheres. Os de maiorescolaridade referem com maior freqüênciaconsumo de droga do que os com menor esco-laridade (Baudier et al., 1994).
Consumo de álcool
Várias pesquisas apontam uma forte relaçãoentre a ingestão de álcool e AT. Há estudos queobservam que concentrações de 50mg/100mlde álcool no sangue podem provocar inaptidãopara a condução de veículos (OMS, 1984). Exa-mes post-mortem de rotina em acidentados detrânsito observam que uma percentagem im-portante dos motoristas mortos apresentam al-coolemia elevada. Em vários países, o álcool éresponsável por 30% a 50% dos acidentes gra-ves e fatais (OMS, 1984), o que é corroboradopelos dados do CDC (1993), os quais apontampresença de álcool em 50% de AT fatais e gra-ves. Em contraste, o álcool só está presente em15% dos acidentes sem lesão (CDC, 1993).
Nos EUA, considera-se que um acidente fa-tal é relacionado ao álcool se o condutor ou pe-destre apresentar, no momento do acidente,uma concentração de alcoolemia igual ou su-perior a 100mg/dl; esse nível é considerado deintoxicação.
Rehm (1993) relata que, de 321 motoristasestudados, 87 tiveram níveis de etanol acimade 100mg/d e nove estavam entre 50 e 100mg/dl. Dos 87 motoristas intoxicados com nível deetanol acima de 100mg/dl, 71 eram do sexomasculino e 16 do feminino. O autor enfatiza anecessidade de intervenção terapêutica em in-
embora a crença sobre a importância dessaação para a saúde seja pouco freqüente (8,8%).Nos EUA, os resultados do Sistema de Vigilân-cia de Comportamento de Risco dos Jovens(YRBSS), em 1993, sugerem que muitos estu-dantes apresentam comportamentos que au-mentam seu risco de morte por AT: 19,1% nun-ca ou quase nunca usam cinto de segurança, e35,3% referem ter andado de carro com con-dutor alcoolizado nos trinta dias prévios ao in-quérito (CDC, 1995).
No que diz respeito a programas de preven-ção de AT no Brasil, destaca-se o trabalho deAdorno (1989), que realiza uma revisão dosmodelos de comportamento das propostas hu-manistas de educação em saúde e prevençãode AT. Esse estudo faz, também, um levanta-mento das propostas técnicas e projetos paraas campanhas realizadas e as medidas dirigi-das ao aumento da segurança do pedestre.
Sono, medicamentos psicoativos, drogas ilícitas e álcool
Embora o sono seja um elemento dos mais im-portantes na causa de AT, ele é muito pouco es-tudado, principalmente pela dificuldade de sepesquisar essa variável após a ocorrência deum acidente.
Leger (1994) comenta que os informes deíndices de acidentes relacionados ao sono dife-rem significativamente de um autor a outro,para condutores com ou sem problemas de so-no. Os autores calculam duas taxas para esti-mar o número de acidentes por veículo a mo-tor causados por sonolência. A primeira é ba-seada na percentagem total de acidentes e ototal de acidentes fatais que ocorrem nas horasde maior sonolência, das 2h às 7h e das 14h às17h (41,6% do total e 36,1% dos fatais). A se-gunda é a percentagem do total de acidentesocorridos à noite (54%), quando o tempo dereação e de desempenho estão consideravel-mente diminuídos. A tendência a adormecer étambém aumentada pela privação e pela inter-rupção do sono, sendo o efeito dessa perdaacumulativo.
O sub-registro da sonolência existe por di-versos motivos: os envolvidos não desejam re-ferir nem aos policiais, nem amigos ou familia-res, que eles dormiram na direção, porque issosignifica admitir responsabilidade pelo aciden-te. A sonolência é, muitas vezes, ignorada porfalta de reconhecimento do motorista, queatribui o acidente a outras causas, como a mácondição climática ou o estado insuficiente depreservação da rodovia.

ACIDENTES DE TRÂNSITO 17
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
fratores reincidentes, uma vez que, para eles,medidas como punição e reeducação têm semostrado insuficientes.
A importância do contexto sócio-culturalfica evidente nas estatísticas de hábito de in-gestão etílica nos diversos estados dos EUA,onde o uso de álcool varia entre o máximo de63,8% e o mínimo de 25,4%, sendo maior entreos homens (CDC, 1995). Em estudo com ado-lescentes menores de 18 anos, Alexandre et al.(1990) atribuem a baixa freqüência de aciden-tes relacionados ao álcool (1,9%) aos esforçoseducativos voltados para a direção e o hábitode beber.
A importância de medidas de caráter pre-ventivo fica em evidência no estudo realizadoem Ontário por Stoduto & Adlaf (1996). Essesautores apontam que a tendência decrescentedo beber e dirigir, entre 1977 e 1991, foi inter-rompida após 1991, quando, em razão de umaregulamentação mais flexível tanto na venda,quanto na propaganda de bebida alcoólica,houve um aumento da disponibilidade desta.O estudo de Reeder et al. (1996), com 217 mo-tociclistas de 18 anos na Nova Zelândia, obser-va que, entre as medidas preventivas de aci-dentes, menos de 1% dos entrevistados men-ciona não dirigir após ingerir bebida alcoólica. A reincidência em infração de trânsito é maiorem menores de trinta anos, e todos esses tiposde infração diminuem após essa idade, excetoaquele por dirigir alcoolizado, que se mantémconstante em todas as faixas etárias, represen-tando cerca de 50% das reincidências (Goppin-ger & Leferenz, 1968, apud Middendorf, 1976).
No inquérito Baromètre Santé, a amostrade jovens focalizada apresenta 75,5% de bebe-dores ocasionais (uma a duas vezes por sema-na, ou finais de semana, ou menos) e 8,3% debebedores habituais (três a cinco vezes por se-mana). Entre esses jovens, 42,2% referem pelomenos uma bebedeira por ano (Baudier et al.,1994).
Wardle & Steptoe (1991), em estudo realiza-do no Reino Unido, observam que 20% daamostra ingerem bebida alcoólica regularmen-te. Embora o consumo de álcool não apresentediferenças significativas entre sexos, o compor-tamento de beber e dirigir é mais freqüente noshomens (15,9%) do que nas mulheres (5,4%). Apesquisa observa, ainda, que a crença de nun-ca dirigir após beber é pouco freqüente (9,7%nas mulheres e 9,4% nos homens). Adicional-mente, um fenômeno que ocorre em váriospaíses é o elevado consumo de álcool no grupoetário entre 18 a 35 anos, em fins de semana.
Quanto maior o consumo geral de álcool,maior a freqüência de beber e dirigir. O consu-
mo per capita de álcool absoluto, segundo in-formações que datam da última metade da dé-cada de 80, aumentou na região das Américas,em países como a Colômbia, o Chile, o México,o Panamá e o Brasil, e este último, com um au-mento de 31%, foi o que mostrou o maior in-cremento (Yunes & Rajs, 1994).
Enquanto a lei, a sociedade e a justiça bra-sileiras são excessivamente tolerantes com mo-toristas alcoolizados, na Europa e nos EUA, alei não faz muita diferenciação entre um moto-rista alcoolizado que mata uma pessoa e umcrime premeditado. Comparado com paísesque estão mais adiantados na prevenção dosAT, nossa legislação é permissiva e a aplicaçãoda lei, muito morosa. Somente após o NovoCódigo Nacional de Trânsito, promulgado emfevereiro de 1998, é que se começa a vislum-brar alguma mudança nesse aspecto. Acredita-mos que o novo código tem sido importantepara a tomada de consciência do problema,mas o controle real dos infratores é limitado,uma vez que a caracterização do estado de em-briaguez ficou, na prática, restrito à perícia doInstituto Médico-Legal.
Nos EUA, entre janeiro e junho de 1992, foirealizada uma estimativa de 1.943 mortos porAT na faixa de 21 a 24 anos (CDC, 1993), e 50%dessa totalidade estavam intoxicados por ál-cool (CDC, 1993). Stoduto & Adlaf (1996) des-crevem que, em Ontário, 50% dos acidentes detrânsito estão relacionados ao álcool e consti-tuem a maior causa única de morte e lesão napopulação jovem.
Stewart et al. (1996) descrevem que os indi-víduos bebem por três razões diferentes: 1) pa-ra reduzir ou evitar os estados emocionais ne-gativos; 2) por motivos sociais, para reunir-secom outros; 3) para facilitar emoções positivas.Ao estudar uma amostra de 314 voluntários,alunos de graduação de Psicologia de duas uni-versidades do Canadá, esses autores concluí-ram que a maioria dos entrevistados (85%) re-feriram beber. O principal motivo desse com-portamento foi o social, embora os homens,principalmente os menores de 21 anos, tives-sem apresentado uma pontuação significativano hábito de beber para facilitar emoções posi-tivas. Cooper et al. (1994, apud Stewart et al.,1996) têm observado que os indivíduos que be-bem para diminuir estados emocionais negati-vos apresentam riscos aumentados de proble-mas com o álcool.
Em amostra de 1.011 condutores do ReinoUnido, Albery & Guppy (1995) apontam que14,1% dos condutores referiam dirigir após teringerido bebida alcoólica acima do limite legal,uma ou duas vezes, no último ano, e 10,3% re-

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.18
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
portantes para que haja uma modificação des-sa triste realidade. Diante do fato de que os ATestão fortemente relacionados com falha hu-mana, a despeito das limitações operacionaise das arestas constitucionais que ainda nãoforam aparadas, o novo código tem o grandemérito de contribuir para tornar o motoristabrasileiro mais consciente e responsável aovolante.
Regulamentar e implementar o novo códi-go exigirá um esforço considerável da socieda-de e do poder público. Para se punir um moto-rista infrator, por exemplo, seria necessário co-nhecer os atenuantes e agravantes constantesdo seu prontuário, além de ter equipamentostécnicos que permitissem mensurar a infração.Atualmente, a polícia civil não conta com for-mação específica suficiente para apurar ade-quadamente esse tipo de ocorrência. Semequipamentos fundamentais, tais como o ba-fômetro ou uma rede informatizada, a maiorparte dos infratores ficam impunes. No Estadode São Paulo, por exemplo, pouco mais de umterço das 313 CIRETRANS (Circunscrições Re-gionais de Trânsito) está informatizada. Nos ou-tros estados, a situação é ainda mais precária.
A implementação de um programa consis-tente de educação no trânsito, que implicauma nova noção de cidadania, é imprescindí-vel. É também necessário um controle da pro-paganda, tanto daquela que associa velocidadeà vitalidade e à saúde, como da que associa in-gestão de bebidas alcoólicas à liberdade e aoprazer.
Além da possibilidade de punir o infrator, onovo código prevê a questão da educação notrânsito, que exigirá um esforço considerávelde integração de vários órgãos federais, esta-duais e municipais, como os Ministérios doTransporte, da Saúde, da Educação, do Traba-lho, da Justiça, e o Sistema Único de Saúde. Éprevisto que as escolas de ensino fundamental,médio e as universidades contemplem váriostipos de atividades nesse sentido.
A questão referente à educação de reinci-dentes é outro aspecto importante para a dimi-nuição dos índices de AT. Contudo, a mudançacultural, que trará uma alteração significativade comportamento e, conseqüentemente, nacultura do trânsito, será um processo que de-mandará um tempo considerável.
A questão cultural na transformação de va-lores referentes ao trânsito é da maior impor-tância em qualquer campanha de prevençãode AT. É provável que as multas eletrônicas, in-seridas no novo código de trânsito, efetuadasde um modo impessoal, venham proporcionar,até um certo ponto, um obstáculo à cultura do
feriam não estar em condições de dirigir emtrês ou mais vezes nos últimos 12 meses. Oscondutores mais jovens, mais comumente, re-ferem quantidades de unidades de álcool e fre-qüência de ingestão que indicam um padrãode comportamento infrator. Foi observado queos condutores transgressores estimam, commaior freqüência, que sua direção é seguraquando bebem, fato esse que constitui umadas causas diretas de acidentes. Observou-se,ainda, uma associação significativa entre con-sumo geral de álcool e comportamento infra-tor no trânsito. Além disso, a pesquisa constataque a exposição a procedimentos regulamen-tares, como o bafômetro e as multas por bebere dirigir, não mostram diminuição do compor-tamento transgressor. Finalmente, a pesquisaconclui que, quanto maior o consumo, maior oprognóstico de comportamento infrator, equanto maior a ingestão de álcool, maior a es-timativa individual de que se pode dirigir comsegurança.
Em 1993, no Hospital das Clínicas da Uni-versidade Estadual de Campinas, estudo reali-zado com cem doentes traumatizados escolhi-dos aleatoriamente para realização de etanole-mia observou que 36 estavam alcoolizados,sendo a maioria jovens de 15 a 35 anos, e, entreestes, vinte tiveram acidente automobilístico(Mantovani et al., 1995).
Considerações finais
Mostramos, neste artigo, as principais implica-ções que o tráfego de veículos motorizados trazao meio urbano e à qualidade de vida do indi-víduo moderno. Vimos que os AT surgiram co-mo uma epidemia capaz de produzir muitasmortes, ferimentos e incapacidades, gerandocustos financeiros e sociais enormes. Concluí-mos que os acidentes de trânsito variam signi-ficativamente conforme a idade, o sexo, o tipode personalidade e a cultura de indivíduos ne-les envolvidos. De um modo ainda mais dra-mático, os AT variam de acordo com o nível dedesenvolvimento econômico-social de um de-terminado país.
No contexto de países desenvolvidos ou emdesenvolvimento, a grande diferença nos ní-veis de AT está estreitamente vinculada à res-ponsabilidade que o poder público tem de im-plementar políticas adequadas e fazer cumprira lei. No Brasil, os índices calamitosos de AT es-tão associados à falta tanto de uma legislação,como de políticas públicas adequadas em rela-ção a esse fenômeno. O Novo Código Nacionalde Trânsito constitui um marco dos mais im-

ACIDENTES DE TRÂNSITO 19
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
“jeitinho” brasileiro de burlar as leis. Até umcerto ponto porque há notícias de que algunspoderes locais, em alguns Estados, estão boi-cotando o novo código ao anistiar as multasem troca de dividendos político-eleitorais. Ou-tras notícias mostram que algumas categoriasprofissionais estão tentando obter na justiçaisenção de multas no trânsito. O “jeitinho”, nes-ses casos, transcende a dimensão local, mas éde se esperar que ele esbarre em dificuldadeslegais crescentes.
De qualquer maneira, o novo código detrânsito veio para acrescentar um sentido posi-tivo à nossa realidade contraditória. Se, antesda promulgação do código, o motorista coloca-va seu bem-estar pessoal acima da lei, hoje éobrigado a pensar no alto custo da multa e nasoutras penalidades que sofrerá antes de deci-
Referências
ADORNO, R. C. F., 1989. Educação em Saúde, Conjun-tura Política e Violência no Trânsito: O Caso daCidade de São Paulo. São Paulo: Edusp.
ALBERY, I. P. & GUPPY, A., 1995. The interactionistnature of drinking and driving: A structural mod-el. Ergonomics, 38:1805-1818.
ALEXANDRE, E. A.; KALLAIL, K. J.; BURDSAL, J. P. &EGE, D. L., 1990. Multifactorial causes of adoles-cent driver accidents: Investigation of time as amajor variable. Journal of Adolescent Health Care,11:413-417.
ALFARO-ALVAREZ, C. & DIAZ-COLLER, C., 1977. Losaccidentes de tránsito: Creciente problema parala salud pública. Boletín de la Oficina SanitariaPanamericana, 83:310-318.
BANGDIWALA, S. I.; ANZOLA-PEREZ, E.; GLIZER, M.;ROMER, C. J. & HOLDER, Y., 1991. Método epide-miológico estructurado para planear la preven-ción de los accidentes de tránsito. Boletín de laOficina Sanitaria Panamericana, 111:186-189.
BAUDIER, F.; JANVRIN, M. P. & DRESSEN, C., 1994. Lesjeunes français et leur santé. Opinions, attitudeset comportements. Promotion & Education, 1:29-35.
Agradecimentos
Agradecemos à Fundação para o Amparo à Pesquisado Estado de São Paulo – FAPESP, ao Conselho Nacio-nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –CNPq e ao FAEP/UNICAMP o seu financiamento; aospesquisadores que contribuíram para o referido pro-jeto, em particular, Palmeron Mendes, Lídia Y. Ko-matsu, Marisa L. F. Mauro e Marilia Martins Vizzotto.Agradecemos também o apoio recebido do Núcleo deEstudos Psicológicos (NEP/UNICAMP) e, em particu-lar, do Prof. Dr. Joel S. Giglio.
dir pela infração. Atualmente, não basta ter po-der econômico para arcar com a multa, porquea perda da habilitação também está em jogo.
Se o novo código de trânsito veio como umelemento importante na promoção de umtrânsito eficiente, é imprescindível que outrosfatores de ordem sócio-econômica, cultural,política e administrativa contribuam para o ge-renciamento adequado dos AT. Sem um con-trole da pobreza, do desemprego, da violênciae criminalidade urbana, por exemplo, respeitarum sinal de tráfego implica, cada vez mais, ris-co de ser assaltado. Num nível mais abrangen-te, a solução do problema de trânsito requer,sobretudo, a implementação de políticas pú-blicas que enfatizem o aspecto social, com des-taque para o transporte coletivo e, simultanea-mente, restrições ao transporte individual.

MARIN, L. & QUEIROZ, M. S.20
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
BLOCKEY, P. N. & HARTLEY, L. R., 1995. Aberrant dri-ving behaviour: Errors and violations. Ergonom-ics, 38:1759-1771.
BRAGA, M. G. C. & SANTOS, N., 1995. Educação detrânsito: Alterando as regras do jogo. Revista deAdministração Municipal, 214:81-100.
CAMPOS-DA-PAZ, A.; BERALDO, P. S. S.; ALMEIDA, M.C. R. R.; NEVES, E. G. C.; ALVES, C. M. F. & KHAN,P., 1992. Traumatic injury to the spinal cord. Preva-lence in Brazilian hospitals. Paraplegia, 30:636-640.
CDC (Centers for Disease Control and Prevention),1993. Quarterly table reporting alcohol involve-ment in fatal motor-vehicle crashes. MMWR,42:215.
CDC (Centers for Disease Control and Prevention),1994. Deaths resulting from firearm and motor-vehicle related injuries, United States, 1968-1991.MMWR, 43:1-42.
CDC (Centers for Disease Control and Prevention),1995. Youth risk behavior surveillance, UnitedStates, 1993. MMWR, 44:1-45.
CLARK, C., 1995. Avaliação de Alguns Parâmetros deInfrações de Trânsito por Motoristas e Policiais.Tese de Doutorado, São Paulo: Faculdade de Saú-de Pública, Universidade de São Paulo.
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito),1997. Estatísticas Gerais sobre Trânsito. Brasília:DENATRAN.
DSM-IV (Diagnostics Statistics Manual – IV), 1995.Manual Diagnóstico e Estatístico de TranstornosMentais. Porto Alegre: Editora Artes Médicas.
ERICKSON, E., 1972. Adolescência, Juventude e Crise.Rio de Janeiro: Zahar Editores.
EVANS, L. & BLOOMFIELD-HILLS, M., 1996. Com-ment: The dominant role of the driver behavior intraffic safety. American Journal of Public Health,86:784-786.
FRENCH, D. J.; WEST, R. J.; ELANDER, J. & WILDING,J. M., 1993. Decision-making style, driving style,and self-reported involvement in road traffic acci-dents. Ergonomics, 36:627-644.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1993. Pre-venção de Deficiências: Segurança no Trânsito. SãoPaulo: Programa Estadual de Atenção à PessoaPortadora de Deficiência/Secretaria da Saúde/Secretaria de Transportes.
HILGERS, M., 1993. Automobile or the self in traffic.The psychoanalysis of car abuse. Universitas, 1:53-67.
KAISER, G., 1979. Delincuencia de Tráfico y Preven-ción General. Investigaciones sobre la Crimino-logía y el Derecho Penal del Tráfico. Madrid: Espa-sa-Calpe.
KLEIN, C. H., 1994. Mortes no trânsito do Rio de Ja-neiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 10 (Sup.1):168-176.
KNOBEL, M., 1980. Síndrome de adolescência normal.In: Adolescência Normal (A. Aberastury & M. Kno-bel, org.), pp. 24-62, Porto Alegre: Artes Médicas.
LEGER, D., 1994. The cost of sleep-related accidents:A report for the National Commission on SleepDisorders Research. Sleep, 17:84-93.
LIMA, M. L. C. & XIMENES, R., 1998. Violência e mor-te: Diferenciais de mortalidade por causas exter-nas no espaço urbano do Recife, 1991. Cadernosde Saúde Pública, 14:829-840.
LUNDEBYE, S., 1997. Car accidents and mortality indeveloping countries. In: 3a Conferência Anualde Transportes, Segurança de Trânsito e Saúde, A-nais, pp. 94-116, Toronto: World Health Organiza-tion/Karo Linska Institute.
MANTOVANI, M.; BACCARIN, V.; RASKIN, E.; ZAM-BRONE, F.; MELLO, S. & FERNANDES, M., 1995.Etanolemia no traumatizado. Medical Master: A-nais de Atualização Médica, 1:203-206.
MELLO-JORGE, M. H. P. & LATORRE, M. R. D. O., 1994.Acidentes de trânsito no Brasil: Dados e ten-dências. Cadernos de Saúde Pública, 10:19-44.
MELLO-JORGE, M. H. P.; GAWRYSZEWSKI, V. P. & LA-TORRE, M. R. D. O., 1997. Análise dos dados demortalidade. Revista de Saúde Pública, 31:5-25.
MIDDENDORFF, W., 1976. Estudios sobre la Delin-cuencia en el Tráfico. Madrid: Espasa-Calpe.
MURRAY, C. J. L. & LOPEZ, A. D., 1996. The globalburden of disease in 1990: Final results and theirsensitivity to alternative epidemiological per-spectives, discount rates, age weights and disabil-ity weights. In: The Global Burden of Disease: AComprehensive Assessment of Mortality and Dis-ability for Diseases, Injuries, and Risk Factors in1990 and Projected to 2020 (C. J. L. Murray & A. D.Lopez, org.), pp. 247-294, Cambridge: HarvardUniversity Press/World Health Organization/World Bank.
OMS (Organización Mundial de la Salud), 1984. Acci-dentes del Tráfico en los Países en Desarrollo. Se-rie de Informes Técnicos 703. Ginebra: WHO.
OPS (Organización Panamericana de la Salud), 1994.Las Condiciones de Salud en las Américas. Wash-ington, D.C.: OPS.
PAGLIARO, H., 1992. Mortalidade no Município deSão Paulo: Desigualdade e violência. In: 8o En-contro Nacional de Estudos Populacionais, Anais,pp. 74-89, Brasília: Associação Brasileira de Estu-dos Populacionais – ABEP.
PARKER, D.; REASON, J. T.; MANSTEAD, A. S. R. &STRADLING, S. G., 1995. Driving errors, drivingviolations and accident involvement. Ergonomics,38:1036-1048.
PIRES, A. B.; VASCONCELLOS, E. A. & SILVA, A. C.,1997. Transporte Humano: Cidades com Qualida-de de Vida. São Paulo: Associação Nacional deTransportes Públicos – ANTP.
PMSP (Prefeitura Municipal de São Paulo), 1992. Pro-grama de Aprimoramento das Informações deMortalidade no Município de São Paulo. São Pau-lo: PMSP.
RAIX, A.; PENNEAU, D. & PROTEAU, J., 1982. Patholo-gie et contraintes dans la conduite de véhicules.La Revue du Praticien, 32:1191-1197.
REEDER, A. I.; CHALMERS, D. J. & LANGLEY, J. D.,1996. The risky and protective motorcycling opin-ions and behaviours of young on-road motorcy-cles in New Zealand. Social Science & Medicine,42:1297-1311.
REHM, C. G., 1993. Failure of the legal system to en-force drunk driving legislation effectively. Annalsof Emergency Medicine, 22:1295-1297.
REICHENHEIM, M. E. & WERNECK, G. L., 1994. Anospotenciais de vida perdidos no Rio de Janeiro,1990. As mortes violentas em questão. Cadernosde Saúde Pública, 10:188-198.

ACIDENTES DE TRÂNSITO 21
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(1):7-21, jan-mar, 2000
ROBERTS, I., 1995. What does a decline in child pedes-trian injury mean? American Journal of PublicHealth, 85:268.
SKEGG, D. C.; RICHARDS, S. M. & DOLL, R., 1979. Mi-nor tranquilizers and road accidents. BMJ, 1:917-919.
SODERLUND, N. & ZWI, A. B., 1995. Mortalidad poraccidentes de tránsito en países industrializados yen desarrollo. Boletín de la Oficina Sanitaria Pa-namericana, 119:471-480.
STEWART, S. H.; ZEITLIN, S. B. & BARTON-SAMOLUK,S., 1996. Examination of a three-dimensionaldrinking motives questionnaire in a young adultuniversity student sample. Behavioural ResearchTherapy, 34:61-71.
STODUTO, G. & ADLAF, E., 1996. Drinking and drivingamong Ontario high school students, 1977-1995.Canadian Journal of Public Health, 87:187-188.
TAPIA-GRANADOS, J. A., 1998. La reducción del tráfi-co de automóviles: Una política urgente de pro-moción de la salud. Revista Panamericana deSalud Pública, 3:137-151.
WALDMAN, E. A. & MELLO-JORGE, M. H., 1999. Vigi-lância para acidentes e violência: Instrumentopara estratégias de prevenção e controle. Ciência& Saúde Coletiva, 4:71-79.
WARDLE, J. & STEPTOE, A., 1991. The Europeanhealth and behaviour survey: Rationale, methodsand initial results from the United Kingdom. So-cial Science & Medicine, 33:925-936.
WEST, R.; FRENCH, D.; KEMP, R. & ELANDER, J.,1993a. Direct observation of driving, self reportsof driver behaviour, and accident involvement.Ergonomics, 36:557-567.
WEST, R.; ELANDER, J. & FRENCH, D., 1993b. Mildsocial deviance, Type-A behaviour pattern anddecision-making style as predictors of self-re-ported driving style and traffic accident risk.British Journal of Psychology, 84:207-219.
WHO (World Health Organization), 1976. The Epi-demiology of Road Traffic Accidents. WHO Region-al Publications, European Series 2. Copenhagen:WHO.
WILLIAMS, A. F. & CARSTEN, O., 1989. Driver age andcrash involvement. American Journal of PublicHealth, 79:326-327.
YUNES, J. & RAJS, D., 1994. Tendencia de la mortali-dad por causas violentas en la población generaly entre los adolescentes y jóvenes de la región delas Américas. Cadernos de Saúde Pública, 10:88-125.