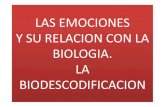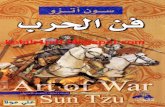A_ONU_dez_anos_anos_apos_a_morte_de_SVM_agosto_2013.pdf
-
Upload
lucas-vinicius-de-brito -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of A_ONU_dez_anos_anos_apos_a_morte_de_SVM_agosto_2013.pdf
-
Revista Poltica Externa VOL. 22 N 2 Out/Nov/Dez 2013 http://politicaexterna.com.br A Organizao das Naes Unidas dez anos aps a morte de Srgio Vieira de Mello por Ronaldo Mota Sardenberg em 21/09/2013 Manifesto um fundo reconhecimento pelo honroso convite, com que me distinguiu o Instituto de Relaes Internacionais da Universidade de So Paulo, na pessoa do eminente professor Jacques Marcovitch, para fazer-lhes esta Conferncia Magna sobre o grande brasileiro que foi Srgio Vieira de Mello e a marcante recordao que nos deixou.
Desejo saudar o professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, que um importante impulsionador do campo de estudos das Relaes Internacionais, alm de suas outras realizaes profissionais. Fico muito feliz que ele tenha aceitado comentar minhas palavras, nesta oportunidade.
Srgio Vieira de Mello H dez anos, a USP homenageou Vieira de Mello e deu a oportunidade de dirigir-me ao seu admirvel papel na grande causa da Paz e dos Direitos Humanos.[1]
Entre seus muitos talentos, Vieira de Mello era capaz de interpretar os acontecimentos de maneira abrangente. Ele nos deixou uma verdadeira mensagem poltica, ao intervir perante o Conselho de Segurana das Naes Unidas (CSNU), em maro de 1999. Na qualidade de subsecretrio-geral das Naes Unidas para Assuntos Humanitrios, Srgio argumentou o seguinte:[2] O conflito armado contemporneo raramente conduzido em um campo de batalha definido por foras convencionais que se confrontam. Hoje, a guerra com frequncia se realiza em cidades e vilarejos, tendo civis como alvos preferenciais; a propagao do terror como ttica premeditada; e a eliminao fsica ou o
-
2 deslocamento em massa de certas categorias da populao, o que (em conjunto) compe a estratgia (das foras dominantes). Essa prtica foi corroborada pelos atos das partes em conflito, na ex-Iugoslvia, Serra Leoa e Afeganisto. As transgresses dos direitos humanos e do direito humanitrio, inclusive mutilao, violaes sexuais, deslocamento forado de (populaes), negao do direito alimentao, desvio da assistncia e ataques ao pessoal mdico e hospitais, no mais so subprodutos inevitveis ou danos colaterais da guerra. So meios para alcanar um objetivo estratgico. Em consequncia, mesmo conflitos de baixa intensidade geram enorme sofrimento humano. As necessidades humanitrias so, de fato, desproporcionais escala do conflito militar. O atendimento dessas necessidades se tornou mais difcil, pois a linha que separa os combatentes e as populaes civis se tornou imprecisa.[3] O que Vieira de Mello props, naquela ocasio, era nada menos que inserir a temtica dos direitos humanos e do direito humanitrio no cerne da pauta internacional de paz e segurana. Ressalte-se que Vieira de Mello era um homem decidido, que conduziu de forma coerente a sua brilhante carreira de funcionrio internacional a servio da ONU. Nunca abandonou ideais. Nem recusou postos por serem perigosos ou politicamente desconfortveis.[4] em homenagem a esse esprito que nos reunimos aqui na USP. Marcamos, com este evento acadmico, o dcimo aniversrio de seu trgico falecimento, estando plenamente conscientes de que seus ideais permanecem entre ns e devem orientar as aes de todos aqueles que se devotam ao estudo das relaes internacionais. Assinalaria, de incio, que em 2003 uma forte corrente, dentro e fora das Naes Unidas, abrigava a esperana de que Vieira de Mello pudesse, em breve, galgar a posio de secretrio-geral da ONU. Suas qualidades pessoais e vasta experincia profissional tornaram transparente que ele era a personalidade mais em evidncia para a sucesso do ento secretrio-geral Kofi Annan. Os dois eram amigos prximos, e mantinham uma competente parceria. A primeira reao em Nova York aos terrveis eventos em Bagd, que ceifaram as vidas de Viera de Mello e 21 outros dedicados funcionrios da ONU, foi, pura e simplesmente, a das mais sentidas tristeza e frustrao, tanto entre os embaixadores e respectivas delegaes, quanto no prprio Secretariado da ONU. Em paralelo, comentou-se, nos corredores onusianos e na imprensa, que a segurana do pessoal da ONU no estava protegida, como se poderia pensar, pelas foras de ocupao.
-
3 Permitam-me esclarecer que, no perodo de 13/03/2003 a 30/06/2007, coube-me exercer as funes de Representante Permanente do Brasil junto ONU. Concomitantemente, representei o pas no Conselho de Segurana (CSNU), no binio 2004/2005, tendo sido presidente do rgo em maro de 2004. Nessas condies, tive a oportunidade de acompanhar de perto os eventos no Iraque, o infausto acontecimento e suas repercusses. Conversei com Vieira de Mello margem da reunio do Conselho de Segurana, em 22 de julho de 2003, a ltima, na verdade, que ele compareceu. Nessa conversa privada, Srgio confidenciou-me haver sofrido uma profunda desiluso em Bagd, em razo da oposio direta dos EUA a que a ONU construsse qualquer soluo negociada, diplomtica , para o conflito iraquiano. Em seu livro Intervenes, de 2012,[5] Kofi Annan relembra o clima poltico-militar em Bagd. Recorda que, em 2003, a sociedade iraquiana estava esfacelada e que a ocupao americana era ignorante e arbitrria, alheia s complexidades do Iraque. Diz que a ONU e, consequentemente, Vieira de Mello chegaram atrasados ao pas, e ficaram dependentes das opes polticas das potncias de ocupao. Antes que pudessem atuar, o representante norte-americano no terreno, de moto prprio, havia determinado a dissoluo do exrcito iraquiano e que fossem afastados do governo todos os membros do Partido Baath. Tais medidas tiveram o efeito de impulsionar o conflito interno. Continua Annan com a afirmao de que, apesar dos constrangimentos impostos pelos ocupantes, o recm-chegado Vieira de Mello obtivera xito, ao consultar-se com todos os segmentos polticos, inclusive os xiitas diferentemente do vinham fazendo os norte-americanos. Pde, assim, trabalhar pela governabilidade e, inclusive, ajudar a instituio do Conselho de governo do Iraque, que foi a primeira expresso de autoridade realmente iraquiana, aps a derrubada de Saddam Hussein. Na ONU, comeamos a pensar no inabalvel legado poltico de Vieira de Mello e a refletir sobre a dificuldade de resgat-lo, dadas as realidades de poder prevalecentes em Nova York e Washington, bem como em Bagd. A meu ver, a incansvel e modelar atuao de Vieira de Mello constituiu uma preciosa evidncia da eficcia do multilateralismo e da validade da diplomacia como instrumento de soluo de conflitos. A ascenso dele aos mais altos quadros da ONU simbolizava a renovao da Organizao, e no podia ser reduzida a uma breve chama de esperana, que, pela violncia, se extinguira. Nos dez anos aps a perda de Vieira de Mello, avolumaram-se as preocupaes com relao paz e segurana internacionais e, em consequncia, com o futuro da prpria ordem internacional.
-
4 Hoje, procurarei atender ao interesse, que me foi manifestado, quanto a uma reflexo sobre os principais desenvolvimentos da poltica internacional desde 2003, o que farei a seguir.
A ONU e a ordem mundial nestes dez anos Dada a virulncia do entrechoque de foras na cena internacional, a ONU, nos ltimos anos, tem-se debilitado como um centro de harmonizao das aes das naes, o que constitui um preceito fundamental do prembulo da Carta; no mbito onusiano, a construo da paz no progride o suficiente para responder dinmica dos desafios poltico-estratgicos contemporneos. A ONU atual tarda em adaptar-se aos desafios no amplo cenrio em que se jogam as questes de vital interesse da humanidade, como a verdadeira paz mundial, o desarmamento nuclear e convencional e a universalizao dos direitos humanos. Com todas suas lacunas, distores e deficincias, a ONU ainda a mais avanada agncia poltica disposio de todos os pases, de toda a humanidade. A AGNU e o CSNU abrem possibilidades de atuao onusiana que no encontram paralelo em outros foros multilaterais: a AGNU, ao tratar, em ambiente democrtico, no qual cada pas membro tem o direito de proposio e dispe igualitariamente de um voto, de vultoso nmero de questes de ordem poltica e, em outro plano, o trabalho especializado da CSNU, no seu campo preferencial da manuteno da segurana internacional. Mesmo durante o longo perodo da Guerra Fria, que ameaava sua prpria existncia, a ONU procurou preencher efetivamente o espao diplomtico aberto por sua Carta. Na etapa seguinte, esse esforo veio a ser intensificado, nos anos 1990. no contexto dessa magna tarefa que se deve registrar a extraordinria falta que Vieira de Mello at hoje nos faz, por sua viso poltica, coragem, operabilidade, honestidade de propsitos e talento diplomtico.[6]
-
5 A luta pela nova hegemonia mundial plenamente possvel sustentar que a conjuntura internacional de hoje, 2013, no s muito diferente, mas , tambm, certamente pior que a de 2003. Do ponto de vista poltico, os dez anos em considerao (2003-2013), podem ser divididos em dois quinqunios. No primeiro deles, consolidaram-se as tendncias anteriormente dominantes, com os seguintes traos: fim da Guerra Fria, euforia nos EUA e Europa; crescimento econmico nas principais potncias (salvo o Japo); lenta e agitada insero da nova Rssia na ordem mundial, acentuados progressos econmicos na sia, liderada pela China; esperava-se (e continua-se a esperar) que a ndia se torne mais diretamente competidora da China; acompanhava-se a poltica do Oriente Mdio (Israel versus Palestinos), que permaneceu em crise espera de solues polticas, que nunca chegam; no havia nenhuma expectativa de que os regimes rabes passassem por um processo de mudana; no avanava o dilogo nuclear dos pases ocidentais com o Ir; dominava um clima de turbulncia na frica, ocasionando a criao de mais e mais operaes de paz das Naes Unidas; os pases da Amrica Latina, sob a sombra dos EUA, continuavam a desempenhar um papel internacional ainda muito limitado. No segundo quinqunio, a poltica internacional vive, a partir de 2008, um momento crtico muito diverso do que se prognosticara. So suas caractersticas mais visveis a consolidao ou agravamento das tendncias mundiais perversas antes dominantes; o crescimento das despesas militares norte-americanas no exterior; a acelerao da corrida tecnolgica militar, inclusive nuclear, com a introduo de novos e potencialmente revolucionrios armamentos, que facilitam o emprego da fora; o terrorismo, inclusive de Estado, que ganha renovado flego; e a expanso da tolerncia internacional, inclusive no CSNU, em relao a aes militares, pontuais e agressivas. Seguem-se umas palavras sobre a crise mundial. Presume-se, com frequncia, que a recuperao econmica nos EUA e na Europa ser demorada e tomar, ao menos, uma dcada (apesar de informaes em contrrio de fontes norte-americanas). Vive-se um incomum tempo de anormalidade em pases ditos centrais: seu desenlace deve afetar a economia mundial, inclusive, possivelmente, os pases do BRICS, assim como a regio sul-americana, que de especial interesse para o Brasil. Os indcios confirmam as expectativas pessimistas. No h sinais seguros de superao da crise. No apenas o mundo financeiro, econmico e comercial que est deprimido, mas tambm o da esfera poltica, quer no plano interno dos pases mais atingidos, quer em sua atuao internacional ou regional.
-
6 O presidente Obama tem encontrado srias dificuldades em cumprir suas promessas eleitorais, inclusive externas, o que d impresso de uma arritmia poltica. Em consequncia, declina a confiana nos EUA. O Prmio Nobel da Paz recebido por Obama, no incio de seu mandato, mais representou um voto de confiana em suas ideias do que o reconhecimento de realizaes, que ainda no se haviam materializado. Apesar da macia injeo de recursos pblicos no setor privado norte-americano (bancos, grandes empresas), a recuperao econmica tem-se revelado lenta e inconsistente, havendo quem calcule que a mesma necessitar de mais uma dcada para concluir-se. Com frequncia apontam-se os baixos nveis de emprego como um ndice das profundas dificuldades porque passam a sociedade e a economia norte-americanas. Receia-se que, em consequncia das novas tecnologias incorporadas pelas grandes empresas, os nveis de emprego at pouco tempo vigentes no mais sero alcanveis. Nesse novo quadro, comea a ser rediscutida a questo da hegemonia mundial. EUA. Terminada a Guerra Fria, os EUA se viram na condio de hegemon, nica superpotncia, o que provocou entre as grandes e pequenas potncias ocidentais, uma sensao de vitria e mesmo de onipotncia. Madeleine Albright, quando representante permanente dos EUA junto s Naes Unidas, chegou a classific-los como uma potncia necessria, (indispensable power), sem o concurso da qual seria impossvel praticar a poltica no grande palco mundial. Essa euforia no durou muito e, de fato, se esgotou completamente com a ascenso do terrorismo ao topo da agenda global. A partir da, a posio mundial dos EUA tem sofrido sensveis desgastes. Persiste, porm, o consenso de que, no futuro previsvel, os EUA continuaro a ser imbatveis no campo estratgico, dada sua enorme superioridade militar, no plano mundial. (Comente-se, lateralmente, que os EUA tm encontrado srios problemas em muitas outras reas: desequilbrio social, educao, segurana pblica, credibilidade poltica etc.). Seus gastos oramentrios, na rea da defesa, so, como tendncia, insustentveis, como de h muito vaticinara o professor Paul Kennedy, no livro, hoje clssico, Ascenso e queda das grandes potncias, (Editora Campus, 1988). inescapvel que os EUA enfrentem dificuldades para financiar sua postura militar avanada, j que se especializaram em aes militares em teatros remotos e muito difceis, nos quais no tm obtido muitos xitos, para dizer o menos. Os pases afetados podem ser pobres, mas, mesmo para os EUA os conflitos tm custos exorbitantes.
-
7 Na verdade, o establishment militar norte-americano est superestendido, com uma rede de dezenas de bases aeronavais, em todo o mundo. Suas foras ainda no se retiraram do Iraque e do Afeganisto. Nem saram da Europa Ocidental, nem do Japo e da Coreia. No se pode imaginar, dadas as implicaes financeiras, que a hegemonia global possa ser mantida primordialmente por uma exclusiva opo militar. As foras norte-americanas deixam um Iraque ainda convulsionado por grandes atentados terroristas praticamente a cada dia. Logo tambm comearo a sair de um Afeganisto, para cuja crise ainda no se vislumbra uma soluo poltica. Est em curso um processo de devoluo de responsabilidades de segurana aos governos desses dois pases, sem que se tenham resolvidos os problemas de violncia terrorista subjacentes s suas crises. Registra-se um desencanto generalizado com as solues militares. O binmio terrorismo e combate ao terrorismo, delineado na administrao George W. Bush, continua a dominar a postura interna e externa dos EUA. O atual emprego intensivo de drones no Imen, em seguimento da campanha, em meses anteriores, no Paquisto, pode prefigurar um novo e muito mais intrusivo modo de insero global. Teme-se que, nesta fase, tenha aumentado a disposio dos EUA de cumprir a funo de gendarmes ou de tropa de choque mundiais, a que anteriormente se arrogaram. O mundo tornou-se mais perigoso para todos os pases grandes e pequenos, fortes ou fracos, desenvolvidos ou em desenvolvimento: perpetuam-se os focos de tenso; e afirma-se uma ordem mundial de mais terrorismo e de violentas oscilaes polticas e econmicas. No rastro da crise econmica, os EUA deixam a sensao bsica de que, seu sistema poltico perdeu muito de sua anterior autoconfiana. A incapacidade, por exemplo, de fechar as tristemente clebres instalaes penitencirias de Guantnamo, anunciada, alis, como prioridade, no discurso de Oslo de Barack Obama, demonstra a dificuldade de Washington para se livrar dessa hipoteca deixada por George W. Bush, que um smbolo da violao dos direitos humanos. Os extraordinrios escndalos do WikiLeaks e do monitoramento ou espionagem global das comunicaes se somam a um panorama j conturbado e causam profunda insegurana, por sua indisfarvel violao da boa convivncia entre as naes. Quaisquer que sejam os ganhos com a nova espionagem, intuitivo que estes sero, ao menos em parte, contrabalanados com a onda de desconfiana nas relaes dos parceiros com os EUA.
-
8 Os EUA, potncia hegemnica que, h dcadas, define o quadro mundial, perdem a capacidade de atuar de forma unilateral, que mantiveram at o incio dos anos 1990. Especula-se sobre novas alianas estratgicas, conceito que no possvel desprezar. O governo de Washington no tem sido preciso numa aliana desse tipo com o Brasil; na verdade, parece mais interessado numa parceria prioritria com a regio sia-Pacfico. Mesmo do lado brasileiro, muitos no acreditam que tal aliana seja possvel ou recomendvel afinal os interesses internacionais dos EUA so mundiais, no regionais. Persiste a questo da diferena de foras nessa suposta aliana os pratos da balana do poder so irremediavelmente desequilibrados. Pode-se admitir que o escndalo da espionagem ciberntica contribua para que os EUA esclaream sua atitude estratgica. Uma proposta de aliana agora seria forosamente interpretada como um esforo de tirar a questo da espionagem do foco de ateno. China. A China sabe que, como todos os demais pases, necessita ter boas relaes com os EUA. Mas, em paralelo, torna-se bem mais forte seu perfil internacional. As estimativas do prazo necessrio para que esta alcance os EUA, na corrida pela hegemonia, declinaram, com a crise, de quatro a cinco para duas ou trs dcadas, o que impulsionou a formao de um novo e mais urgente padro de competio e certa ansiedade na esfera internacional. A despeito de srios problemas domsticos da China, em especial no campo, sua estratgia mundial, passa, h muitos anos por transformaes aceleradas. A China busca construir sua influncia poltica em mbito global, e no apenas no regional. Embora ainda cautelosa no plano diplomtico, a China cada vez mais ativa na ONU e nos BRICS, por exemplo. Na frica e recentemente na Amrica Latina, tem agora perfis salientes, dominados pela necessidade de assegurar seu suprimento de alimentos e de minrios, o que em si uma tarefa herclea. Por iniciativa chinesa, a China e o Brasil chegaram a vislumbrar uma aliana estratgica no auge da cooperao para a construo e lanamento de satlites sino-brasileiros de observao da Terra. A acelerao do desenvolvimento econmico e o crescimento dos interesses mundiais chineses tornaram, porm, pouco a pouco, inoperante essa aliana. A Rssia, logo que voltou condio de Federao Russa, eclipsou-se em termos de poder poltico e estratgia global. No mais tinha credibilidade como superpotncia, tendo em vista o esfacelamento poltico de sua zona de influncia, a desastrosa administrao Iltsin e os conflitos no Cucaso.
-
9 Essas circunstncias facilitaram, entre outras coisas, a ascenso e fortalecimento de Putin, que, por assim dizer, retomou as rdeas do poder no Kremlin, o que causa alguma irritao em Washington. Impulsionada por uma diplomacia muito dinmica, a Rssia busca recuperar sua presena mundial. Putin defende ativamente seus interesses e, dessa forma, ganha maior credibilidade, de que bom exemplo sua firme atitude com relao Sria, na qual, acompanhada no CSNU apenas pela China, entre os membros permanentes, tambm exemplo a firmeza russa na questo da espionagem por parte de Edward Snowden. A Europa vive momento de retrao comunitria a partir do avano institucional, desde a dcada de 1950, que levou implantao da Unio Europeia. A brutal interrupo de sua prosperidade a leva a atitudes defensivas, em tudo contrrias experincia altamente afirmativa em passado recente. Reinam a incerteza e a apreenso sobre os arranjos internos da UE e sobre o futuro da zona do euro. O modelo europeu de integrao econmica, que inspirou grande parte do mundo, est hoje abalado e demandar, provavelmente por toda parte, esforos de reavaliao. Os jornais, e TVs ocidentais mantm acirrada campanha contra as realizaes de ambos os pases (China e Rssia), que praticamente jamais so mencionadas de forma positiva. Cria-se, assim, uma atmosfera negativa na opinio pblica mundial, inclusive no Brasil. A ndia, apesar da linha branda que segue na poltica com relao principalmente com os EUA, tambm vtima de frequentes denncias e reiterada desinformao. Inflama-se o debate sobre um possvel declnio dos EUA e sobre se o quadro das premissas norte-americanas se deteriorar a ponto de que estas deixem de ter validade automtica e global. Por enquanto, Washington limita esforos no exterior e corta seu envolvimento em reas, at a pouco, tidas como crticas.[7] Israel. Como potncia preponderante, Israel d margem a crescentes especulaes sobre a realidade ltima de sua poltica quanto Palestina. A presente retomada de negociaes, sob a gide dos EUA, aps trs anos de interrupo, faz com que a comunidade internacional tome uma posio de atentismo, caracterizada pelo receio de perturbar o andamento dessas negociaes, sem, no entanto, que at agora haja realmente esperana de imediatos xitos significativos. Ir. As polticas nucleares dos novos entrantes (Ir e tambm a Coreia do Norte) se moveram ou foram movidas para o centro das tenses internacionais. Permanece sobre a mesa a hiptese de uma interveno israelense contra o Ir, na medida em que este avance seu programa nuclear. O governo israelense no se cansa de insinuar ameaas nesse sentido.
-
10 Nenhum progresso se registrou nas tenses entre o Ir e os pases ocidentais. So correntemente admitidas as avaliaes de que os interesses iranianos em sua vizinhana so de tal ordem que podero influenciar fortemente o desenlace da crise sria e ter papel central na definio do futuro de Israel. As questes nucleares, a par de ainda no comprovadas suas consequncias estratgicas, pem em risco o direito de explorao pacfica da energia nuclear. A novidade, neste momento, a possvel disposio de negociar insinuada pelo novo governo de Teer.
Os BRICS Muito mais do que nas eras da Guerra Fria e da globalizao acrtica, est em jogo, o destino dos pases na ordem internacional. A dependncia poltica, econmica e militar, desta ou daquela potncia no mais a nica opo existente na rbita internacional. Dependendo do curso desse jogo, podero ser abreviados os anos de hegemonia norte-americana ou encontradas, pela negociao, novas formas de convivncia internacional.
A constituio e o desenvolvimento do BRICS se explicam pelos desafios impostos aos seus membros por recentes eventos internacionais. Podem-se afastar, por absurdas, as predies apressadas de que o bloco BRICS ir buscar a hegemonia mundial ou se tornar meramente irrelevante. Sua existncia e efetivo funcionamento aumentam a probabilidade de uma ordem internacional mais voltada para a multilateralizao (e at para a multipolaridade).
Entre 2009 e 2012, o grupo BRICS no s se fortaleceu, mas tambm mudou de qualidade. Coincidentemente, torna-se mais pronunciado o perfil externo do Brasil, no bloco BRICS e na ordem internacional, como um todo. Sob o impacto da crise, ascende o Brasil no ranking das economias mundiais, ao passo que cresce entre elas o reconhecimento de nosso papel internacional. (Sabe-se que, em tempos recentes, essas percepes esto sujeitas a qualificaes, dado o desempenho insatisfatrio da economia brasileira). Em resumo, note-se que o Brasil:
a) Passou a ser reconhecido um ator credenciado, mas seu perfil internacional poderia ser ainda mais alto. (Reconhecimento)
b) Na ordem internacional, o pas adota posies e posturas polticas mais efetivas do que as do passado. (Eficcia)
c) No por cortesia, integra plenamente o grupo BRICS, no vem apenas
-
11 completar o seu quadro. membro pleno por convenincia e interesse dos demais BRICS e da comunidade internacional. (Representatividade)
d) A presena brasileira torna o grupo mais aceitvel, tendo em vista no ter o pas presena militar significativa, nuclear ou convencional. (Poltica de paz)
e) Seu ingrediente democrtico hoje facilmente reconhecvel pelo Ocidente. (Participao democrtica).
f) O xito, at certo ponto, das polticas econmicas e sociais heterodoxas (Bolsa Escola, Bolsa Famlia e similares) criou novas realidades. (Polticas sociais)
g) No plano externo, registram-se surpresas, diante do dinamismo do mercado interno, que blinda at agora o pas contra os piores efeitos da crise mundial.
h) No plano social, observam-se fortes ganhos com significativa reduo da pobreza e a emergncia de uma nova e aquisitiva classe mdia. Tais avanos esto plenamente refletidos nos dados publicados na mais recente edio do IDH, os quais fortalecem a credibilidade do pas. (Crescimento do consumo e polticas anticclicas). Tendo em vista as limitaes de tempo inerentes a esta Conferncia, selecionei para discusso alguns temas fundamentais dos ltimos dez anos, a saber: a paz e segurana internacionais; nova hegemonia mundial; e instabilidades regionais, com nfase na Primavera rabe e em recentes desenvolvimentos em frica.
Abordagens temticas Paz e segurana internacionais No mundo em transio, lcito colocar certas interrogaes bsicas com relao paz e segurana internacionais. Por exemplo:
a) Hoje a ONU se descola da ordem internacional, da manuteno da paz e da segurana internacional?
b) A ONU se perpetuar como entidade gerida principalmente pelas grandes potncias Ocidentais? e
c) O congelamento do desenvolvimento institucional da ONU, em particular do CSNU, jamais ser superado?
-
12 No pretendo responder a indagaes como estas, que so muito difceis e devem merecer maior ateno da esfera acadmica. Em sua discusso, que no to extensa quanto se poderia almejar, os desejos mais legtimos so confrontados com as duras realidades do poder mundial.
Isto no impede, entretanto, que alguns avanos tenham sido parcialmente alcanados na ONU, como a criao da Comisso da Construo da Paz e o Conselho de Direitos Humanos, a despeito de revezes e retrocessos, nos respectivos processos de negociao. As prprias Operaes de Paz conduzidas pela ONU conheceram altos e baixos.
Operaes de paz Ao tratarmos dessa temtica, na qual a paz aparece de variadas maneiras, relembremos inicialmente as colocaes que Joo Augusto de Arajo Castro, a seu tempo, fez sobre possveis definies de paz, no mbito internacional, a saber: Para as ento superpotncias, enredadas na carreira nuclear, e por isso mesmo
minimalistas, a paz passou gradualmente a equivaler sobrevivncia da humanidade e a ausncia de um desenlace nuclear;
Para as grandes potncias, a paz seria um estgio de relativa normalidade, sujeito poltica do poder, mas sem que se desate um conflito nuclear; e.
Para os pases mdios e pequenos, a paz seria muito mais do que um antnimo da guerra, pois requer um esforo dirio de entendimento e comportamento criativo. Mais simplesmente, paz significa imunidade de agresso, preservao da soberania e integridade territorial. Para esses pases, qualquer uso da fora fora do regime da Carta, infringe a paz.
Nas duas ltimas dcadas, as operaes de manuteno da paz e misses polticas especiais ganharam papel cada vez mais saliente, embora nem sempre hajam alcanado o xito que era prometido.[8] Vieira de Mello passou por srios testes polticos e profissionais, que comprovaram sua capacidade de lidar com problemas que mobilizam pases, assim como a opinio pblica internacional. As responsabilidades por ele assumidas incluam elementos como organizao de eleies, construo das instituies e interao com agentes humanitrios e de desenvolvimento. Em Timor-Leste, no seria exagero dizer que Vieira de Mello atuou como virtual governante do pas at sua independncia plena em 2002, numa fase essencial para a construo do Estado e da paz interna.
-
13 Se for verdade que as ltimas dcadas foram marcadas pela absoro, por parte das operaes de manuteno da paz, de novas funes ligadas consolidao da paz, tambm certo que esse processo encontrou dificuldades e ambiguidades. No incio dos anos dos anos 1990, o conceituado professor John Gerard Ruggie diagnosticou os entraves das misses de paz de se adequarem aos novos desafios de segurana e s novas tarefas que lhes eram pontualmente atribudas pelo Conselho de Segurana. Em sua opinio, a ONU e o CSNU, e em consequncia as misses de paz, estavam vagando em territrio desconhecido.[9] A incorporao dos novos elementos foi dificultada pela quase opacidade conceitual dos limites do peacekeeping e do peacebuilding. Como admite a prpria doutrina das Naes Unidas quanto s misses de paz: Tornaram-se crescentemente imprecisos os limites entre a preveno dos conflitos, a materializao da paz, a manuteno da paz, a construo da paz e a imposio (coercitiva) da paz.[10] Nas duas ltimas dcadas, as Naes Unidas mantm em operaes cerca de cem mil peacekeepers, dos quais 80 mil militares. Sua principal dificuldade a de conciliar as tarefas de construo da paz com a crescente militarizao dos mandatos das misses, o que leva a certo inchao em suas atribuies. Enquanto, em alguns casos, como a MINUSTAH no Haiti, os esforos dos pases participantes contribuem para uma integrao construtiva entre segurana e desenvolvimento; em outros, como a MONUSCO na Repblica Democrtica do Congo, prevalece a mentalidade de imposio da vontade internacional por meio de brigadas de interveno[11], que pouco se coaduna com a necessidade de consolidao da paz a mdio e longo prazos.
A Comisso das Naes Unidas da Consolidao da Paz [12] At a formao da CCP, em 2005, inexistia um rgo na estrutura das Naes Unidas, com responsabilidade de lidar com o universo relativamente novo dos conflitos intranacionais de grande alcance e de evitar as consequentes crises humanitrias. No se poderia negar que, entre os povos das Naes Unidas, prevalecia, em 1945, um profundo anseio pela paz, como est inscrito at mesmo no Prembulo da Carta, no qual os povos inter alia se comprometem a salvar as futuras geraes do flagelo da guerra e reafirmam sua f nos direitos humanos fundamentais. Mas entre os bons propsitos e as realidades poltico-militares havia
-
14 enorme lacuna e, justamente, foi esse espao da luta de Vieira de Mello. Ao final da dcada de 1990, estavam lanados vrios conceitos aparentados com essa questo, nomeadamente, o da diplomacia e da insero preventivas de foras internacionais, sob a gide da ONU; o da promoo ou a imposio da paz; o da j tradicional manuteno da paz; e o da nascente iniciativa da consolidao da paz, que veio afinal embasar a CCP. Estava formada nas Naes Unidas uma rica agenda, que demorou at 2005 a ser decantada. A partir da avaliao final da Misso do Brasil, observou-se o seguinte: Em primeiro lugar, que alguns pases desejavam ver-se livres de quaisquer
constrangimentos ao uso da fora ou da imposio de decises do CSNU aos pases onde ocorrem conflitos;
Canad, Nova Zelndia e Japo adotaram posturas mais moderadas at porque no eram contribuintes significativos de tropas s Naes Unidas;
O Movimento No Alinhado (MNA) reafirmara princpios para evitar que suas tropas viessem a ser utilizadas individualmente e que, em alguns casos, fossem vtimas de intervenes travestidas de operaes de paz. O Brasil favoreceu a opo de que a consolidao da paz seja simultnea manuteno da paz e que pudesse ser lanada quando houvesse a possibilidade de um conflito interno.
Em termos amplos, a diplomacia brasileira sempre marcou presena atuante nas iniciativas de reforma da ONU, sempre esteve preparada para explorar criativamente as janelas de oportunidade. (Por exemplo, na questo da reforma da composio do CSNU, a atitude brasileira contemplava, inclusive, a necessidade de corrigir os desequilbrios regionais que esto incorporados na prpria Carta). Essa postura se compagina com as premissas da poltica externa brasileira, tais como a necessidade de dar prioridade s causas fundamentais dos conflitos, (root causes) qualquer que seja o seu estgio, e recuperao socioeconmica dos pases afetados. Como observou Eduardo Uziel, para um pas como o Brasil, h muito comprometido com o multilateralismo, manter e fortalecer a ordem multilateral valorizar sua prpria atuao diplomtica. Valorizam-se suas credenciais como ator relevante em mltiplos aspectos: como agente da projeo latino-americana na ONU, como partcipe interessado na aglutinao das posies dos pases em desenvolvimento e no fortalecimento da ordem multilateral, em contraste com o utilitarismo interessado dos pases mais influentes. Infelizmente, por compreensveis razes de espao (e de tempo, nesta
-
15 oportunidade), no h condies para analisar em pormenor o processo poltico-parlamentar de constituio da CCP, no qual o Brasil jogou um interessante e produtivo papel diplomtico. Nem ser possvel trabalhar a fundo no tema dos primeiros anos do funcionamento da Comisso. As negociaes que levaram criao da Comisso se realizaram de abril a 20 de dezembro de 2005. A atmosfera dessas negociaes se revelou muito tensa, dada a complexidade do tema, at porque as operaes de paz vinham de crescentes dificuldades. poca, algumas manchas indelveis j caracterizavam as operaes de paz, como as da Somlia, Ruanda e Angola. Entretanto, o que era considerado xito, por exemplo, Nambia, Moambique, Camboja e El Salvador, aparecia como frequente acontecer, em segundo plano. Foi passado para a linguagem do Conselho de Segurana o rtulo failing ou failed states um grande favorito da j citada Madeleine Albright, rtulo esse que at hoje persiste para desclassificar pases como Libria, Serra Leoa, Chade, Costa do Marfim, Somlia, Haiti etc. A diplomacia brasileira, que trabalhou intensamente na constituio e na operao da CCP, se beneficiou de percepes de valor perene, por exemplo: Resumidamente, a necessidade de integrar, como a MINUSTAH demonstrou na prtica, a poltica
multilateral de operaes de paz e a poltica bilateral relativa ao pas considerado;
a necessidade da manuteno da transparncia no processo negociador; a manuteno das diversas frentes de negociao em conjunto com os pases de
nossa regio, (no caso da criao da CCP, dividiram tarefas com o Brasil, o Chile, Argentina, Uruguai, Mxico e Bolvia) e demais pases em desenvolvimento;
a necessidade de que as questes relativas ao desenvolvimento econmico e social sejam includas de forma sistemtica nos mandatos das operaes de paz, o que, note-se, despertou muita posio por parte dos pases ricos;
a necessidade de, no caso da criao de novos rgos, dar especial ateno localizao, isto , a linhas de subordinao destes na estrutura das ONU, como se provou na CCP;
a constituio de delegaes suficientemente amplas, tendo em vista que os grandes temas tramitam, simultaneamente, em diferentes salas das Naes Unidas;
obedincia ao critrio das eleies para os membros que integraro o novo rgo,
-
16 e no, simplesmente, o da nomeao de membros no documento constitutivo desses rgos, como tende a ser de interesse dos membros permanentes;
resistncia s tticas de postergao para o final das deliberaes das decises sobre as questes mais importantes (e controversas), o que deixa a responsabilidade pelos impasses s delegaes que se opem s propostas hegemnicas;
Em concluso, as ameaas paz e segurana, incluem, em nossos dias, no apenas a guerra entre os pases, em seu sentido clssico, mas tambm o terrorismo e a violncia civil. Tenha-se presente que o crime organizado, rotineiramente, busca beneficiar-se das situaes de insegurana (e participar do trfico de armas, por exemplo). As Naes Unidas devem ser mais eficientes na preveno dos conflitos e na consequente reduo do risco e da prevalncia da guerra. Nesse contexto, devem ocupar-se sistematicamente com as causas profundas dos conflitos contemporneos. A ao preventiva deve ter posio central nos esforos de paz conduzidos pela ONU e deve incluir o combate pobreza e a promoo do desenvolvimento econmico sustentvel. Em ltima anlise, estas so indicaes inarredveis para orientar o trabalho da CCP. H longo tempo, a posio brasileira a de reafirmar ser imprescindvel considerar a transio da preveno ou soluo de conflitos ao ps-conflito e, finalmente, paz sustentvel. A nova face da questo dos direitos humanos Cabe fazer breves consideraes sobre a evoluo do sistema multilateral de promoo e proteo dos direitos humanos nos ltimos anos, luz dos fatos de Vieira de Mello ter tido uma longa experincia nesse campo e haver ocupado brevemente o cargo de Alto Comissrio para os Direitos Humanos na ONU, um posto do alto relevo no mbito do Secretariado das Naes Unidas. (O Alto Comissariado, alis, est localizado no histrico Palcio Wilson, em Genebra, que funcionou como sede temporria da Liga das Naes, a organizao mundial que precedeu a ONU. Hoje, encontra-se, diante do edifcio, um busto de Vieira de Mello). No incio de 2003, Vieira de Mello participaria daquela que seria a primeira e nica sesso da antiga Comisso de Direitos Humanos da ONU com ele frente do Alto Comissariado. Previamente sesso, Vieira de Mello aludira ao papel que a Comisso deveria desempenhar no sentido de proteger direitos humanos ao invs de engajar-se em contendas diplomticas.
-
17 No curto perodo em que ocupou o cargo de Alto Comissrio, Vieira de Mello expressou seu desconforto diante das deficincias da Comisso de Direitos Humanos insatisfao que era generalizada nos crculos onusianos. Tanto que, em discurso que ficou conhecido como Fork in the Road, Kofi Annan props, no contexto do processo de reforma da ONU, aps o atentado em Bagd, precisamente a ideia de criar uma nova e mais alta instncia intergovernamental para lidar com a questo dos direitos humanos na ONU, qual seja o que hoje o Conselho de Direitos Humanos. Ao substituir a antiga Comisso, o Conselho de Direitos Humanos foi criado, em 2006, com caractersticas distintivas. Certamente, a principal delas diz respeito ao estabelecimento do mecanismo de Reviso Peridica Universal (RPU), em que todos os pases so submetidos ao escrutnio dos seus pares, que formulam recomendaes a serem aceitas ou no pelos pases sob exame. Esse mecanismo, inclusive, inspira-se numa ideia defendida pelo Brasil, de que a ONU deveria encarregar-se da elaborao de relatrio global de direitos humanos. Com o RPU tal relatrio produzido por captulos, ao longo do ciclo de avaliao. Alis, o primeiro ciclo no poderia ter sido mais bem-sucedido, com 100% de participao, o que refora a noo de universalidade. O mecanismo inovador, inclusive, valorizou a vertente cooperativa. O enfoque cooperativo, de fato, uma das marcas do novo rgo. Sete anos aps a criao do CDH, porm, persistem srios desafios. Em paralelo ao mecanismo universal, existe a possibilidade de examinar, nas sesses regulares, situaes em pases especficos. Nessa instncia, questes de direitos humanos em um pas X podem ser submetidas, sem que problemas similares em um pas Y sejam necessariamente trazidos. Sem dvida, difcil o equacionamento dessa questo na medida em que prevalece nessa instncia (denominada item 4), um estigma da condenao. Por essa razo, no se pode minimizar os riscos de o Conselho vir a incorrer nos mesmos problemas que marcaram e inviabilizaram a antiga Comisso. O Brasil, que no momento exerce seu terceiro mandato no Conselho, atua luz dos princpios da imparcialidade, da objetividade e da no seletividade. Em todo caso, se um pas como o Brasil refora a vertente cooperativa do CDH e, sem singularizar pases, traz discusses pela via temtica, no h como deixar de considerar casos de violaes graves e sistemticas, nas quais o Conselho no pode deixar de atuar com celeridade. Na prtica, a posio brasileira, que valoriza o dilogo e a cooperao, reconhece o papel do CDH para lidar com emergncias e situaes de violaes. sabido que os pases assumiram obrigaes em matria de direitos humanos e devem prestar
-
18 contas a respeito. No entanto muitos pases no tm condies materiais para arcar com tais encargos e padres. Por isso, cumpre reforar a cooperao (e solidariedade) internacional, com vistas busca construtiva e colaborativa de solues concretas para os problemas de direitos humanos, procurando sempre formas de engajamento dos pases envolvidos. O caso da Sria digno de nota, por ter sido objeto de deliberao incessante no CDH, desde quando os efeitos da chamada Primavera rabe repercutiram naquele pas, com a aprovao de repetidas resolues; criao de comisso de inqurito; apresentao de vrios relatrios; criao de relatrio especial; convocao de sesses especiais e debates urgentes. O Conselho tem feito o que est a seu alcance, para chamar a ateno da comunidade internacional para a gravidade das violaes, com a ressalva de que o CDH, importante que , cuida to somente de direitos humanos e no de questes afetas paz e segurana internacionais. Em linhas gerais, o CDH lida com todos os problemas de direitos humanos, alguns mais outros menos graves , que esto em todas as partes. Da a importncia da universalizao e do mecanismo de reviso j citado. Outro ponto diz respeito necessidade de buscar equilbrio entre os direitos civis e polticos, de um lado, e os direitos econmicos, sociais e culturais, do outro. A noo de que todos os direitos humanos devem ser tratados em p de igualdade e com a mesma nfase, consagrada na Conferncia de Viena sobre Direitos Humanos realizada h 20 anos, para cujo xito o Brasil contribuiu decisivamente , esbarra em resistncias no dia a dia das negociaes. H pases com clara preferncia por alguns direitos em detrimento de outros, o que tem implicaes na agenda do Conselho e, sobretudo, nas atividades do Alto Comissariado. No CDH, o Brasil trabalha com parceiros de todas as regies e promove todos os direitos. Nesse sentido, tem trazido temas especficos para as discusses. Por exemplo, na mais recente sesso do CDH, em junho passado, o Brasil tomou a dianteira, em nome do IBAS e outros pases, com vistas a sublinhar a importncia do acesso a medicamentos para a plena realizao do direito sade.
Instabilidade regional Breve nota sobre a Primavera rabe Ainda no se revelou com preciso a natureza dos frutos da Primavera rabe, que
-
19 foi uma das grandes incgnitas de nosso tempo. Alguns deles sero amargos, mas no todos. Da euforia local e internacional quando culminou a primeira fase dos processos polticos e insurrecionais na Tunsia, Egito e Lbia, com a derrubada dos ditadores militares, seguiu-se um momento de perplexidade ocidental com o futuro desses pases e com a prolongada violncia extrema na Sria. Abriu-se uma era de incertezas. O desencadeamento e a extenso desse processo radical apanharam de surpresa as chancelarias e a mdia internacional. Surpreendeu o fato de que se tivesse desencadeado e vencido, em pases de regime autoritrio, um rapidssimo processo de regime change, como se diz no mundo todo no jargo lanado por fontes norte-americanas. Esses pases at ento viviam sob governos ditatoriais, mas razoavelmente estveis. Os eventos recentes no mundo rabe, que no encontram similares em outras regies, ainda no completaram o ciclo que poderia lev-los estabilidade poltica. A evoluo na vida poltica do Egito, porm, colocou pelo menos em dvida essa expectativa. Uma das maiores dificuldades das anlises ocidentais a de que, nelas, seus prprios interesses tm precedncia sobre os dos pases rabes, principalmente o de esconder, o quanto for possvel, que as autocracias no mundo rabe, agora abandonadas, vicejaram com o decidido apoio ocidental por mais de meio sculo. Tacitamente, tais autocracias aceitaram a sobrevivncia de Israel, com o qual criaram um sistema de convivncia hostil. O que se pode esperar nos pases rabes, em seu conjunto, , na melhor hiptese, um perodo de prolongada tenso. A estabilidade anterior, por artificial que fosse (j que era imposta pela fora militar), estava consolidada. A instabilidade atual to forte que coloca em causa o princpio religioso do Isl e o futuro dos pases muulmanos, onde prospere a tradicional rivalidade entre a Irmandade e o exrcito. Afinal, a Irmandade se guia pelo objetivo da salvao espiritual, com base da estrita observncia do rigorismo islmico, como Mohamed Morsi, precariamente eleito, procurou implantar no Egito. J o exrcito almeja a salvao nacional e est disposto a, se necessrio, empregar a fora. A massa de manifestantes anti-Morsi receava sair perdedora, caso o regime muulmano se instalasse no Cairo. A insistncia dos EUA em que os pases rabes, inclusive o Egito, se democratizem contm recomendaes de polticas para facilitar que seus aliados alcancem o poder. Por essa razo, uma notvel manobra semntica est em curso nos meios de comunicao mundiais, no sentido de evitar que a derrubada de Morsi, primeiro presidente eleito do Egito, seja taxada de golpe militar ou mais simplesmente de golpe. Recorre a parte norte-americana a uma narrativa, que, de
-
20 resto, conhecida em outras terras, de que a derrubada um produto civil, originrio de apelos das classes conservadoras egpcias aos militares para que agissem pela fora. A democracia no mundo rabe est em status nascendi, no tm existncia prpria. Em certos pases, as foras tribais e locais ainda so mais poderosas das que se alegam democrticas. P.S. Em 15 de agosto passado, quando foi pronunciada esta Conferncia, e nos dias seguintes, precipitou-se a crise egpcia. O exrcito lanou-se, em todo o pas numa ofensiva repressiva contra as manifestaes populares dos adeptos da Irmandade Islmica. Em consequncia, at o dia 17, havia 700 baixas entre esses. Foram decretados estados de emergncia (caractersticos do governo Hosni Mubarak, e toque de recolher). O Prmio Nobel e ex-diretor da geral da Agncia Internacional de Energia Atmica Mohamed El-Baradei, renunciou ao cargo de vice-primeiro-ministro, por discordar das medidas repressivas. Morsi est detido em lugar desconhecido. Muitos pases, inclusive os EUA, expressaram seu repdio s medidas militares. Washington confirmou que continuaria o desembolso anual de $ 1,300 bilho de dlares em auxlio ao exrcito egpcio.
frica Breve nota Continente dinmico, em processo de transformao poltica e econmica, a frica um verdadeiro espao de oportunidades, principalmente na minerao e na agricultura, assim como nos grandes projetos em telecomunicaes, infraestrutura e expanso bancria. A maior estabilidade poltica no continente tem facilitado o desempenho da rea econmica nas naes africanas. Entre os pases e sub-regies registram-se processos de pacificao e de transies democrticas. O aperfeioamento institucional e a crescente liberdade de expresso surgem como tendncias visveis no continente. Somente em 2012, foram realizadas mais de vinte eleies para o Executivo e para o Legislativo, em pases africanos. Os ndices de crescimento econmico africanos se colocam acima da mdia mundial. Dos dez pases com maior crescimento no mundo, desde os anos 2000, seis so africanos. A frica Subsaariana cresceu taxa mdia de 5,3% entre 2000/2012, em contraste com os 2,4% das duas dcadas anteriores.
-
21 Esse crescimento explica-se pela alta dos preos de produtos de base e tambm pela ampliao dos mercados internos, urbanizao acelerada, melhores prticas de gesto e crescimento do investimento. Recentemente, tem sido citados, entre os pases africanos de desenvolvimento mais rpido, Angola, Gana, Nigria, Qunia, Tanznia, Moambique, e Uganda. O continente recupera-se da crise financeira iniciada em 2008 com relativa rapidez.
Notas [1] V. artigo de minha autoria Paz e Direitos Humanos, em Jacques Marcovitch (org.), Srgio Vieira de Mello: Pensamento e Memria, Edusp, 2004 [2] O autor agradece as contribuies de Gilda Motta Santos Neves, Eduardo Uziel, Elio Cardoso, Paulo Cordeiro Andrade Pinto e sua equipe.
[3] Apud Gilda Motta Santos Neves, Comisso das Naes Unidas para a Consolidao da Paz, FUNAG 2010, p. 10.
[4] V. a biografia de VM por Samantha Powers, O homem que queria salvar o mundo, Companhia das Letras, 2008. Logo no incio, uma ampla cronologia permite acompanhar a carreira de Vieira de Mello, no contexto da poltica internacional e da ao da ONU.
[5] V. Intervenes, pp. 375 e 422.
[6] Em comparao, note-se que as palavras usadas por Kofi Annan acerca de SVM so coragem, energia, sensibilidade, sagacidade e comprometimento com os mais elevados princpios das Naes Unidas. V. loc. cit., de novo p. 375.
[7] A Primavera rabe ser discutida mais adiante.
[8] Vieira de Mello contava em sua folha de servios nas Naes Unidas haver chefiado duas delicadas misses, com amplas funes de consolidao da paz: a Administrao Interina das Naes Unidas em Timor-Leste (UNTAET) e a Misso de Assistncia das Naes Unidas no Iraque (UNAMI) alm de ter desempenhado papel central na Autoridade Interina das Naes Unidas no Camboja (UNTAC).
[9] Ruggie, John. Gerard. Wandering in the Void: Charting the UNs New Strategic Role. In: Foreign Affairs, vol. 72, no. 5, 1993, pp. 26-31.
[10] Naes Unidas. United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. Nova York: Peacekeeping Best Practices Section, 2010, p. 18.
[11] http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml, acessado em 25/07/2013, e http://www.ipinst.org/publication/policy-papers/detail/403-the-un-intervention-brigade-in-the-democratic-republic-of-the-congo-.html, acessado em 23/07/2013.
[12] V. G M Santos Neves, op.cit, passim.