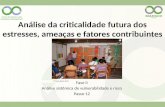Análise de Vulnerabilidade
description
Transcript of Análise de Vulnerabilidade
-
ANLISE DA VULNERABILIDADE DA MICRORREGIO DE ITAJUB PORMEIO DO IVG COM VISTAS MITIGAO DOS IMPACTOS CAUSADOS
PELAS MUDANAS CLIMTICAS
LUIZ HENRIQUE TIBRCIO1; MARCELO DE PAULA CORRA2
Introduo
Mudanas climticas globais recentemente se tornaram um dos assuntos maisdiscutidos pela comunidade cientfica internacional, principalmente em funo dasprofundas implicaes ambientais, econmicas, polticas e sociais decorrentes do tema.A preocupao com essa questo pode ser atestada pelos inmeros estudos publicadosnos ltimos anos abordando os impactos e consequncias da mudana do clima, asprincipais vulnerabilidades associadas e as possveis formas de minimizao e adaptaoaos cenrios decorrentes. (PACHAURI, 2010)
O Brasil publicou em 2008 o Plano Nacional sobre Mudana do Clima PNMC(BRASIL, 2008) que rene as aes que o pas pretende colocar em prtica paracombater s mudanas climticas e criar condies internas para o enfrentamento desuas consequncias. Entre os objetivos desse plano, destaca-se o de fortalecer aesintersetoriais voltadas para a reduo das vulnerabilidades das populaes, onde sereconhece que os efeitos das mudanas climticas sobre a populao tm origemmulticausal e que sua anlise deve ser feita de forma integrada e interdisciplinar.Deste modo, os riscos associados s mudanas do clima no podem ser avaliadosseparadamente dos contextos cultural, econmico e social de uma populao; aocontrrio, so justamente essas condies que influenciaro suas respostas aos impactosdas mudanas climticas. dessa interao entre as condies ambientais e sociaisque surge o conceito de vulnerabilidade. Blaikie et al.(1994, p. 9) definemvulnerabilidade aos efeitos do clima como o conjunto de caractersticas de uma pessoaou grupo em relao a sua capacidade de antecipar, lidar com, resistir e recuperar-se
1 Analista Ambiental da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de So Paulo. Endereo para correspondncia:
Rua Dr. Pereira Cabral, 1586 - CEP: 37500-048, Itajub/MG.2 Instituto de Recursos Naturais - Universidade Federal de Itajub. Endereo para correspondncia: Av. BPS, 1303
- CEP 37500-903, Itajub/MG.
-
124 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
dos impactos dos perigos naturais. De modo mais simples, Ayoade (2004, p. 288)define vulnerabilidade climtica como a medida pela qual uma sociedade suscetvelde sofrer por causas climticas. Esses conceitos tm em comum o fato de estaremrelacionados s caractersticas intrnsecas de uma dada populao e, apesar de seremfacilmente compreensveis, referem-se a atributos que no podem ser medidosdiretamente. Dessa impossibilidade decorre a necessidade de identificar variveis ouindicadores para uso em modelagem ou observao.
Moss, Brenkert e Malone (2001) apontam que, no mbito da Conveno dasNaes Unidas sobre Mudanas Climticas (UNFCCC), indicadores de vulnerabilidadetm sido utilizados no apenas para determinar at que ponto as mudanas climticaspodem ser perigosas, mas tambm para identificar os pases ou grupos que soespecialmente vulnerveis. Identificar esses pases ou grupos auxilia a alocao dereceitas no mecanismo de desenvolvimento limpo, um mecanismo de mercado quedetermina que cada tonelada de CO
2 no emitida ou retirada da atmosfera por um
pas em desenvolvimento poder ser negociada no mercado mundial, criando um novoatrativo para a reduo das emisses globais. No Brasil, o Ministrio de Cincia eTecnologia publicou em 2005 um relatrio com o resultado de trs anos de pesquisasexecutadas pela Fundao Oswaldo Cruz (Fiocruz). Tal pesquisa investigou avulnerabilidade socioambiental da populao brasileira quando submetida a eventosclimticos extremos e s endemias sensveis s oscilaes climticas. O relatriointroduziu uma nova metodologia para avaliao quantitativa da vulnerabilidade naescala das Unidades Federativas a partir de ndices especficos em trs reas:socioeconmica, epidemiolgica e climatolgica, resultando em um nico indicador,chamado de ndice de Vulnerabilidade Geral (IVG) (BRASIL, 2005).
preciso ressaltar que com a publicao do 4 Relatrio do PainelIntergovernamental sobre Mudanas Climticas (IPCC) em 2007, o tema mudanasclimticas entrou definitivamente nas agendas cientficas, governamentais e dasociedade civil. No entanto, enquanto as causas desse fenmeno, bem como anecessidade de reduo das emisses de gases estufas, so profundamente estudadaspela comunidade cientfica, as dimenses humanas que o cercam e a necessidade dereduo das vulnerabilidades ainda so minimamente consideradas pelo poder pblicoe pouco discutidas pela sociedade civil.
O objetivo desse estudo analisar, a partir do IVG e com vistas mitigao dosimpactos decorrentes das mudanas climticas, os principais fatores que contribuempara a vulnerabilidade socioambiental da populao na microrregio de Itajub,localizada no sul de Minas Gerais.
Material e mtodos
A microrregio de Itajub pertence mesorregio Sul e Sudoeste de MinasGerais. Segundo o IBGE (2010), sua populao de 189.193 habitantes e est divididaem treze municpios: Braspolis, Consolao, Cristina, Delfim Moreira, Dom Vioso,Itajub, Maria da F, Marmelpolis, Paraispolis, Piranguu, Piranguinho, Virgnia e
-
125Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Wenceslau Braz, possuindo uma rea total de aproximadamente 2.982 km. De acordocom o IBGE (2008), o produto interno bruto PIB da regio superior a R$2 bilhes,com destaque para o setor de servios.
A metodologia do IVG (BRASIL, 2005), adaptada s condies epidemiolgicasda regio, foi utilizada e seus resultados analisados de maneira crtica quanto aplicabilidade. O ndice de Vulnerabilidade Geral (IVG) uma metodologia paraavaliao quantitativa da vulnerabilidade a partir de ndices em trs reas:socioeconmica, epidemiolgica e climatolgica. Trata-se, portanto, de um ndicecomposto que agrega diferentes variveis e associa a cada localidade uma medidacomparativa (valor numrico) com respeito a sua vulnerabilidade frente s mudanasclimticas esperadas nas prximas dcadas. O IVG construdo pela mdia aritmticade trs outros ndices: o IVSE (ndice de vulnerabilidade socioeconmica), o IVE(ndice de vulnerabilidade epidemiolgica) e o IVC (ndice de vulnerabilidadeclimtica).
ndice de vulnerabilidade socioeconmica
O IVSE foi construdo com o objetivo de combinar a informao de vriosindicadores socioeconmicos num indicador sinttico que permita estabelecer umaordenao em funo do nvel de vulnerabilidade socioeconmica. Nos termos emque a vulnerabilidade foi definida no presente trabalho, o IVSE representa a capacidadede cada municpio enfrentar os impactos das mudanas do clima.
Foram considerados 11 indicadores divididos em cinco grupos (dimenses), asaber:
(1) Demografia: densidade demogrfica (hab/km) e grau de urbanizao (%);(2) Renda: domiclios com mais de 2 pessoas por cmodo (%) e populao com
renda per capita at salrio mnimo (%);(3) Educao: populao de 15 anos e mais com escolaridade inferior a 4 anos
de estudo (%);(4) Saneamento: abastecimento de gua (% de domiclios), esgoto sanitrio
(% de domiclios) e destino do lixo (% de domiclios);(5) Sade: taxa de mortalidade infantil (), esperana de vida ao nascer
(anos) e planos de sade (% da populao total com cobertura).
Os valores dos indicadores foram obtidos do Censo Demogrfico 2000, do IBGE,e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, do Programa das Naes Unidaspara o Desenvolvimento PNUD, tambm de 2000.
Classificou-se esses indicadores em dois tipos: tipo 1, aqueles que se caracterizampor valores altos representarem situaes de menor vulnerabilidade; e, tipo 2, aquelesque valores baixos representam situaes de menor vulnerabilidade. Realizou-se apadronizao de acordo com as equaes 1 e 2 a seguir:
-
126 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Tipo 1: (1)
Tipo 2: , (2)
onde IP cada um dos 11 indicadores citados; Iobservado
o valor observado do indicadorI; Mnimo
I o menor valor observado do indicador I; e Mximo
I o maior valor observado
do indicador I. Depois de padronizados, construiu-se um ndice sinttico por dimenso(demografia, renda, educao, saneamento e sade), dado pela mdia aritmtica simplesdos indicadores considerados. Por fim, o ndice de vulnerabilidade socioeconmica (IVSE) dado pela mdia dos ndices por dimenso, conforme a equao 3:
(3)
ndice de vulnerabilidade epidemiolgica
O IVE foi construdo com o objetivo de sintetizar, em um nico indicador, asinformaes contidas em um grupo de trs doenas de veiculao hdrica, considerandoa relao entre clima (incluindo eventos extremos de precipitao) e surtos de doenasde veiculao hdrica (CURRIERO et al., 2001; PATZ et al., 2000), alm do histricode enchentes e inundaes na regio (PINHEIRO, 2005; MATTOS, 2004). Asendemias selecionadas foram: (1) diarreia e gastroenterite; (2) hepatites virais; (3)esquistossomose. Os indicadores escolhidos foram: (1) Taxa de Incidncia; (2) Nmerode Internaes da cidade/Nmero de Internaes na microrregio; (3) Nmero debitos da cidade/ Nmero de bitos na microrregio; (4) Custo total de internao(R$) da cidade/Custo total de internao (R$) na microrregio. Como as diarreias egastroenterites no so de notificao compulsria, no foi utilizada taxa de incidnciacomo indicador para esses agravos. A taxa de incidncia para hepatites virais eesquistossomose s so consideradas a partir de 2001, ano que passaram a ser denotificao compulsria.
Cada um dos indicadores selecionados para a construo do IVE foi normalizadode acordo com a equao 4, com a mdia aritmtica simples dos indicadorespadronizados, foi construdo um ndice sinttico para cada doena.
(4)
O IVE foi calculado a partir dos ndices individuais de cada doena. Uma vezque cada doena tem suas caractersticas prprias, que as diferem umas das outras,
-
127Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
atribuiu-se um peso a cada uma delas, de acordo com a Tabela 1 (PEREIRA eGONALVES, 2003; MINISTRIO DA SADE, 2005; INSTITUTO ADOLFOLUTZ e CENTRO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA PROFESSORALEXANDRE VRANJAC, 2004). Os atributos utilizados na caracterizao dasendemias foram os seguintes: (1) possibilidade de reduo da exposio involuntria(proteo individual atravs de alteraes comportamentais), (2) a eficincia docontrole ambiental, (3) ocorrncia de resistncia a drogas, como um determinantepossvel de falhas de tratamento, (4) possibilidade de tratamento etiolgico (eficciados medicamentos existentes) e (5) taxa de letalidade. O peso final dado pela somados pesos parciais.
Tabela 1. Estrutura de atribuio dos pesos por agravo
Por fim, o IVE foi obtido pela mdia ponderada dos indicadores obtidos paracada doena, de acordo com a equao 5,
(5)
onde Idiarreia
, Ihepatite
e Iesquistossomose
referem-se aos ndices obtidos pelos indicadorespadronizados para diarreia, hepatite e esquistossomose, respectivamente.
As informaes para composio dos ndices foram fornecidas pelo banco dedados do Sistema nico de Sade SUS, com o auxlio da Superintendncia Regionalde Sade de Pouso Alegre. As taxas de incidncia foram obtidas atravs do Sistemade Informao de Agravos de Notificao SINAN. O perodo de anlise compreendeuos anos de 1995 a 2002.
De acordo com a definio adotada para o presente artigo, o IVE representa amedida de impacto (nesse caso, sobre a sade) a que os municpios esto sujeitos.
ndice de vulnerabilidade climtica
A avaliao da vulnerabilidade climtica, traduzida no IVC, tem por objetivoclassificar os municpios de acordo com o nmero (porcentagem) de meses de
-
128 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
precipitao extrema, superior ou inferior a mdia. Em outras palavras, representaaquilo que foi chamado na definio de vulnerabilidade adotada no presente estudo,como a medida de exposio aos impactos.
Para identificao de valores extremos foram construdos boxplots (diagramasde caixa), uma ferramenta comum e simples para a identificao de outliers (valoresextremos), que considera a assimetria e a variabilidade de um determinado conjuntode dados. Foram construdos boxplots para cada srie mensal de precipitao acumulada,respeitando-se a sazonalidade natural da precipitao.
Adotou-se critrios clssicos para a avaliao de valores extremos. Isto , umvalor observado de precipitao considerado extremo alto se for maior que a somado terceiro quartil mais 1,5 vezes a distncia interquartil da amostra considerada. Poroutro lado, um valor observado de precipitao considerado extremo baixo, se formenor que a soma do primeiro quartil menos 1,5 vezes a distncia interquartil daamostra considerada
.
Para a construo do IVC considerou-se a porcentagem de meses comprecipitao extrema, de acordo com a equao 6,
(6)
Observa-se que, Pobservada
o valor da porcentagem de meses com precipitaoextrema alta; Mnimo o menor valor observado da porcentagem de meses comprecipitao extrema; Mximo o maior valor observado da porcentagem de mesescom precipitao extrema.
Os dados de precipitao foram obtidos por meio do Sistema de InformaesHidrolgicas da Agncia Nacional de guas (Hidroweb ANA), a partir das estaeslocalizadas nos municpios da microrregio em estudo. Tambm foram utilizados dadosbinrios, fornecidos pelo INPE a partir de dados de estao atravs do mtodo deinterpolao Kriging, com resoluo de 0,25 x 0,25. Os dados de estao soprovenientes das seguintes fontes: Instituo Nacional de Meteorologia INMET, redede PCDs/INPE, alm dos centros estaduais de meteorologia (Companhia Energticade Minas Gerais CEMIG e Sistema de Meteorologia e Recursos Hdricos de MinasGerais SIMGE). Assim, para os municpios onde foram identificadas estaespluviomtricas, utilizou-se os dados da ANA; para os demais municpios foram utilizadosdados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. O perodo de anlisecompreendeu os anos entre 1975 e 2000.
Anlise estatstica
Os municpios foram agrupados em aglomerados, segundo suas homogeneidades,utilizando-se a tcnica estatstica de anlise de agrupamento. A medida de similaridadeentre dois elementos adotada foi a Distncia Euclidiana. Para a construo dos
-
129Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
conglomerados, utilizou-se o mtodo das mdias das distncias, que trata o espaoentre dois conglomerados como a mdia das distncias entre todos os pares de elementosque podem ser formados com os elementos dos dois conglomerados comparados. Parafacilitar a interpretao dos resultados, os municpios foram agrupados at que trsgrupos fossem formados: alta, mdia e baixa vulnerabilidade.
Resultados e discusso
A Tabela 2 retrata os ndices sintticos calculados para os trs componentesestudados e o IVG. Para uma melhor compreenso dos resultados a anlise foi separadaem cada um dos componentes. A Figura 1 apresenta os resultados do IVSE para aregio. As cidades de Paraispolis e Itajub, se destacam pelos mais baixos valoresdessa componente na microrregio, enquanto Marmelpolis e Delfim Moreira estono extremo oposto. Isto , so os municpios que apresentam maior sensibilidade quantoa problemas socioeconmicos. O alto valor de vulnerabilidade socioeconmicaencontrado para Delfim Moreira deve-se principalmente s condies de sade eeducao no municpio, enquanto que para Marmelpolis, a contribuio dosindicadores de renda (mais de 40% da populao vive com menos de salrio mnimo)e saneamento (menos de 45% das residncias possui esgotamento sanitrio, e menosde 75% das residncias possui abastecimento de gua) mais significativa. As cidadesde Paraispolis e Itajub se destacam por apresentarem baixos valores de vulnerabilidadeem todos os indicadores considerados.
Tabela 2. ndices de vulnerabilidade por municpio, em ordem decrescente deacordo com o ndice de Vulnerabilidade Geral. Em vermelho e azul destacam-se,respectivamente, valores mximos e mnimos do ndice de VulnerabilidadeEpidemiolgica, ndice de Vulnerabilidade Socioeconmica e ndice deVulnerabilidade Climtica.
-
130 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Figura 1. Mapa do ndice de Vulnerabilidade Socioeconmica nos municpios damicrorregio de Itajub
possvel notar que a sade contribui para o aumento do IVSE nos municpiosde Braspolis, Delfim Moreira e Maria da F. J no municpio de Consolao, o pssimoconceito em educao responde pela alta vulnerabilidade, uma vez que o municpiotem cerca de 50% de sua populao com mais de 15 anos de idade, com menos dequatro anos de estudo. No caso do municpio de Dom Vioso, a responsabilidade pelaelevao da vulnerabilidade socioeconmica est nas ms condies de saneamento.
A Figura 2 mostra os valores do IVC, onde se destacam os municpios deConsolao e Paraispolis por apresentarem a maior porcentagem de meses comprecipitao extrema (5,33% das 300 observaes). Delfim Moreira apresenta a menorporcentagem de meses com extremos de precipitao (2,78% das 288 observaes) e,portanto, o menor IVC da regio.
Tambm chama a ateno o fato de uma parcela expressiva dos eventos deprecipitao ser registrada no ano de 1983, seguinte a um evento El Nio de forteintensidade: 27% dos 145 eventos registrados no perodo ocorreram naquele ano. Defato, esses eventos (meses com precipitao extrema e El Nio de forte intensidade)parecem estar relacionados na regio em estudo. GRIMM e FERRAZ (1998) verificarama influncia de eventos El Nio sobre a precipitao da regio Sudeste do Brasil apartir da anlise de dados de 351 estaes. As autoras mostram que, em uma regioque abrange a microrregio de Itajub, alguns perodos dos anos seguintes a eventos
-
131Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
El Nio foram mais midos do que a mdia. O nvel de significncia do teste dehiptese para esses perodos variou de 40% (maro a maio) a 97% (setembro a novembro).
Tambm interessante ressaltar que, para os anos de 1997 e 1998 houve aocorrncia de outro evento El Nio de forte intensidade. Neste perodo, algunsmunicpios apresentaram meses com precipitao acumulada consideravelmente alta,mas que no foram includos como meses de precipitao extrema, em funo dadefinio utilizada nesse estudo. Delfim Moreira, por exemplo, apresentou em novembrode 1997 uma precipitao acumulada de 249,7 mm, muito prxima do outlier de 252,4mm para esse ms; em outubro de 1998, a precipitao acumulada nesse municpio foide 231,2 mm, mas o outlier foi de 234,9 mm. Assim, alguns meses com altos valores deprecipitao acumulada no foram contabilizados como fator de vulnerabilidadeclimtica meramente em funo da definio utilizada. Tais situaes exigem avaliaesfuturas mais aprofundadas.
Figura 2. Mapa do ndice de Vulnerabilidade Climtica nos municpios damicrorregio de Itajub
A avaliao do IVE mostrada na Figura 3. Neste caso, importante teceralgumas observaes de cada ndice sinttico separadamente. Observa-se que o ndicesinttico de esquistossomose igual a zero para todos os municpios, exceto Itajub;este valor deve-se ao fato de, que no perodo de 1995 a 2002, no foram contabilizadoscasos de esquistossomose nas demais cidades. Tambm no foram contabilizados casosde diarreia em Dom Vioso e Wenceslau Braz no perodo em anlise. Pode-se perceber
-
132 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
ainda que os ndices sintticos para diarreia e hepatites em Itajub so muito superioresaos encontrados para os demais municpios. Com exceo de Itajub, nota-se que osndices de vulnerabilidade epidemiolgica encontrados so bastante baixos. No entanto, importante destacar que os altos valores de IVE observados em Itajub falseiam aideia de que este municpio apresente condies to inferiores de sade pblica emrelao aos demais. A menor infraestrutura em sade dos municpios vizinhoscompromete o atendimento populao, fazendo com que muitos casos passem semnotificao local, mas sim no municpio de Itajub, que apresenta a melhorinfraestrutura na regio. Por conta dessa restrio, ou seja, a possvel subnotificaodessas doenas nos municpios da regio, o IVE apresenta maior grau de incerteza secomparado aos outros dois ndices (IVSE e IVC).
Uma vez conhecidas as principais evidncias de cada ndice que compem oIVG, possvel analisar esse ndice global com maior propriedade. O baixo valor doIVG encontrado para Piranguinho pode ser explicado pelo baixo valor devulnerabilidade epidemiolgica (0,053) e pelo baixo valor de vulnerabilidade climtica(0,087). Por outro lado, a alta vulnerabilidade do municpio de Consolao deve-se,principalmente, aos altos valores de vulnerabilidade socioeconmica (0,622) e climtica(1,000). Nota-se que a incerteza referente ao IVE afeta os valores do IVG. No fossea discrepncia de valores de IVE entre os municpios, Itajub certamente estaria entreas cidades com menor valor de IVG.
Percebe-se que para 8 dos 13 municpios (Braspolis, Delfim Moreira, DomVioso, Maria da F, Marmelpolis, Piranguu, Piranguinho e Wenceslau Braz) oprincipal fator de contribuio para a vulnerabilidade de ordem socioeconmica.Apenas para Itajub, a questo epidemiolgica fator determinante para o aumentoda vulnerabilidade. No entanto, conforme explicado, o alto valor de IVE em Itajubpode ser em funo da diferena na infraestrutura em sade entre os municpios. Nosdemais municpios (Consolao, Cristina, Paraispolis e Virginia) o fator climtico foipreponderante.
Esses resultados no avaliam o grau de vulnerabilidade em relao a umacondio especfica de referncia, mas devem ser entendidos como um comparativoentre municpios ou localidades sob condies semelhantes. Assim, pode-se afirmar,por exemplo, que Cristina (IVG = 0,467) mais vulnervel do que Dom Vioso (IVG= 0,278) ou Delfim Moreira (IVG = 0,241), mas no possvel comparar esse valorcom estudos de outras regies. Como o IVG no se baseia em uma condio dereferncia, no possvel afirmar, a partir de um estudo regional, at que ponto essamaior vulnerabilidade compromete a capacidade dessa populao em responder sdemandas climticas que est sujeita dentro de um contexto global.
-
133Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Figura 3. Mapa do ndice de Vulnerabilidade Epidemiolgica nos municpios damicrorregio de Itajub
Figura 4. Mapa do ndice de Vulnerabilidade Geral nos municpios damicrorregio de Itajub
-
134 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Concluses
A anlise do IVG mostrou que o IVSE proporcionou a maior contribuio paraa vulnerabilidade na microrregio de Itajub. Isto , os indicadores socioeconmicosrelacionados sade (taxa de mortalidade infantil, esperana de vida ao nascer ecobertura de planos de sade) e educao (grau de escolaridade), foram as principaiscontribuintes para a vulnerabilidade socioeconmica na regio. Portanto, polticaspblicas visando reduo da vulnerabilidade na regio em estudo devem priorizaresses setores.
Apesar dos graves nmeros relacionados ao IVSE, a anlise da vulnerabilidadeclimtica, por meio do IVC, revelou uma potencial possibilidade da influncia doclima sobre a vulnerabilidade na regio. Como esse ndice foi baseado apenas napluviosidade, recomenda-se que estudos futuros se baseiem em outros parmetrosmeteorolgicos, como a temperatura e a umidade relativa, de fundamental importnciapara estudos de sade e epidemiologia.
A baixa qualidade de alguns dados na escala analisada, especialmente osepidemiolgicos, foram complicadores potenciais para a regionalizao do ndice. Operodo de anlise para a obteno de dados epidemiolgicos tambm contribuiu paratais dificuldades, uma vez que a notificao de casos de hepatites e esquistossomosess passou a ser compulsria a partir de 2001.
Considerando as incertezas relacionadas ao IVE, temerrio afirmar que osbaixos valores encontrados para esse ndice representem um baixo potencial de impactodo clima sobre a sade na regio. Alm disso, a prpria metodologia do IVG avalia ostrs ndices separadamente, resultando em um valor mdio de vulnerabilidade, reflexode uma situao pr-estabelecida, mas que no especifica as influncias que um ndicetem sobre outro. A relao entre clima (pluviosidade) e agravos de sade conceitual,mas no foi analisada na regio. Assim, no se pode afirmar se os nmeros do IVE sofuno do clima ou de outras componentes no avaliadas nesse estudo. Tem-se a umoutro assunto de relevncia para estudos futuros.
Recomenda-se ainda que, em estudos posteriores, sejam analisadas asvulnerabilidades na regio considerando o impacto sobre outros agravos e outras reas.Por exemplo, pela incluso de outros componentes de vulnerabilidade, tais comosegurana alimentar e desnutrio, qualidade e disponibilidade de gua ou aindamorbidade e mortalidade associadas a desastres climticos. Espera-se, tambm, que otema seja abordado sob uma perspectiva dinmica. Isto , o desenvolvimento de umametodologia que permita projetar o comportamento futuro da vulnerabilidadesocioambiental, considerando os diferentes cenrios de mudanas do clima e asmudanas nos indicadores sociais. Como sugesto, prope-se como ponto de partidapara tais avaliaes dinmicas, a comparao do estudo aqui apresentado, com umanova anlise que tenha como referncia o censo 2010 do IBGE (ainda no publicadona ntegra), visando a avaliao da evoluo dos indicadores e como essa evoluoreflete na vulnerabilidade regional.
-
135Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Referncias bibliogrficas
ADGER, W. N. Social Vulnerability to Climate Change and Extremes in CoastalVietnam. World Development, v. 27, n. 2, p. 249-269, 1999.
AYOADE, J. O. Introduo Climatologia para os Trpicos. Traduo de MariaJuraci dos Santos. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
BLAIKIE, P. et al. At Risk: Natural Hazards, Peoples Vulnerability and Disasters.London: Routledge, 1994. 284 p.
BLAIKIE, P. et al. At Risk. 2. ed. [S.l.]: [s.n.], 2003. Disponvel em: http://www.unisdr.org/eng/library/Literature/7235.pdf. Acessado em: 24/02/2011.
BOHLE, H. G.; DOWNING, T. E.; WATTS, M. J. Climate Change and SocialVulnerability: toward a sociology and geography of food insecurity. GlobalEnvironmental Change, v. 4, n. 1, p. 37-48, 1994.
BRASIL. Anlise da populao brasileira aos impactos sanitrios das mudanasclimticas. Ministrio de Cincia e Tecnologia. Braslia, p. 201. 2005.
BRASIL. Plano nacional sobre mudana do clima. Comit Interministerial SobreMudana do Clima. Braslia, p. 129. 2008.
BRASIL. Plano Nacional sobre Mudanas do Clima - PNMC. Comit Interministerialsobre Mudana do Clima. Braslia, p. 129. 2008.
BROOKS, N. Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual framework. TyndallCentre for Climate Change Research. Norwich. 2003.
CHAMBERS, R. Vulnerability, Coping and Policy. IDS Bulletin, v. 37, n. 4, p. 33-40, Setembro 2006.
CONFALONIERI, U. E. C.; MARINHO, D. P.; RODRIGUEZ, R. E. Public HealthVulnerability to Climate Change in Brazil. Climate Research, v. 40, p. 175-186,2009.
CURRIERO, F. C. et al. The Association Between Extreme Precipitation andWaterborne Disease Outbreaks in the United States, 1948-1994. American Journalof Public Health, v. 91, n. 8, p. 1194-1199, August 2001.
CUTTER, S. L.; BORUFF, B. J.; SHIRLEY, W. L. Social Vulnerability toEnvironmental Hazards. Social Science Quarterly, v. 84, n. 2, p. 242-261, June2003.
DOW, K. Exploring Differences in our common future(s):the meaning ofvulnerability to global environmental change. Geoforum, v. 23, n. 3, p. 417-436,1992.
GRIMM, A. M.; FERRAZ, S. E. T. Sudeste do Brasil: uma regio de transio noimpacto de eventos extremos da Oscilao Sul. Parte I: El Nio. Anais do XCongresso Brasileiro de Meteorologia e VII Congresso da FLISMET. Brasilia:
-
136 Tibrcio e Corra
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
Sociedade Brasileira de Meteorologia. 1998. Disponvel em: http://www.cbmet.com/cbm-files/13-00c6b871c86cce3462ee431f8d050e2b.pdf.
HAIR JR., J. F. et al. Multivariate Data Analysis. 6. ed. Upper Saddle River: PearsonPrentice Hall, 2006.
HINKEL, J. Indicators of vulnerability and adaptive capacity: Towards aclarification of the sciencepolicy interface. Global Environmental Change, v. 21,p. 198-208, 2011.
IBGE. Cidades@. IBGE, 2008. Disponivel em: . Acesso em: Agosto 2011. Apresenta informaes sobre todosos municpios do Brasil.
IBGE. Cidades@. IBGE, 2010. Disponivel em: . Acesso em: Agosto 2011. Apresenta informaes sobre todosos municpios do Brasil.
INSTITUTO ADOLFO LUTZ E CENTRO DE VIGILNCIAEPIDEMIOLGICA PROFESSOR ALEXANDRE VRANJAC. Diarreia eRotavrus. Revista de Sade Pblica, So Paulo, v. 36, p. 844-845, 2004.
IPCC. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Sumary forpolicymakers. Intergovernmental Panel on Climate Change. [S.l.]. 2001.Disponvel em http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/; Acessado em03/04/2011.
JANSSEN, M. A.; OSTROM, E. Resilience, vulnerability, and adapatation: Across-cutting theme of the International Human Dimensions Programme onGlobal Environmental Change. Global Environmental Change, v. 16, p. 237-239,2006.
MATTOS, A. M. P. Monitoramento hidrolgico - via telefonia celular - para apoio asistemas de previso de cheias. Universidade Federal de Itajub. Itajub. 2004.
MINGOTI, S. A. Anlise de dados atravs de mtodos de estatstica multivariada:uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
MINISTRIO DA SADE. Guia de vigilncia epidemiolgica. Secretaria deVigilncia em Sade. Braslia, p. 816. 2005. (ISBN 85-334-1047-6). Disponvelem: http://www.prosaude.org/publicacoes/guia/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf.
MOSS, R. H.; BRENKERT, A. L.; MALONE, E. L. Vulnerability to Climate Change:a quantitative approach. U.S Department of Energy. [S.l.]. 2001.
PACHAURI, R. K. Reflections on COP 15. [S.l.]. 2010. Disponvel em: http://www.fasid.or.jp/daigakuin/sien/kaisetsu/doc_pdf/100108report.pdf.
PATZ, J. A. et al. The potential health impacts of climate variability and changefor the United States: executive summary of the report of the health sector of theUS National Assessment. Environmental Health Perspectives, v. 108, n. 4, p. 367-376, April 2000.
-
137Anlise da vulnerabilidade da microrregio de Itajub por meio do IVG com vistas ...
Ambiente & Sociedade So Paulo v. XV, n. 3 p. 123-139 set.-dez. 2012
PELLING, M.; UITO, J. I. Small island developing states: natural disastervulnerability and global change. Global Environmental Change Part B: EnvironmentalHazards, v. 3, n. 2, p. 49-62, Junho 2001.
PEREIRA, F. E. L.; GONALVES, C. S. Hepatite A. Revista da Sociedade Brasileirade Medicina Tropical, n. 36, p. 387-400, mai-jun 2003. Disponvel em: http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v36n3/16341.pdf.
PINHEIRO, M. V. Avaliao tcnica e histrica das enchentes em Itajub - MG.Universidade Federal de Itajub. Itajub. 2005.
Submetido em: 26/03/2012Aceito em: 11/10/2012
-
Resumo: A vulnerabilidade dos municpios que compem a microrregio de Itajub,MG, Brasil, foi avaliada por meio da regionalizao do ndice de VulnerabilidadeGeral IVG, metodologia desenvolvida pela Fiocruz com base em indicadoressocioeconmicos, epidemiolgicos e climticos. O resultado aponta para o fatorsocioeconmico como principal contribuinte para a vulnerabilidade na regio. A anlisede eventos extremos de precipitao, utilizada como indicador climtico, mostrouque a variabilidade do clima foi um fator expressivo de vulnerabilidade em 30% dosmunicpios. A baixa qualidade dos dados epidemiolgicos na escala analisada, sobretudoas taxas de incidncia, foi o principal fator complicador para regionalizao do IVG.
Palavras chave: Clima. Eventos extremos. Sade. Socioeconomia. Indicadores.
Abstract: An extension of the General Vulnerability Index IVG to cover a geographic regionwas used to assess the vulnerability of the municipalities within the region of Itajub, MG,Brazil. The IVG methodology, developed by Fiocruz, is based on socioeconomic, epidemiologicaland climate indicators. The result pointed to socioeconomic factors as the major contributor tovulnerability in the region. As showed by the analysis of extreme precipitation events, climateshowed to be an important vulnerability factor in 30% of the cases. The low quality ofepidemiological data on regional scale, especially the incidence rates, was the main limitingfactor for the regionalization of the IVG.
Keywords: Climate. Extreme events. Health. Socioeconomics. Indicators.
Resumen: La vulnerabilidad por los cambios climticos en los municipios que constituyen lamicrorregin de Itajub, MG - Brasil, fue evaluada a travs de la regionalizacin del ndice deVulnerabilidad General (IVG), metodologa desarrollada por la Fiocruz con base en indicadoressocioeconmicos, epidemiolgicos y climticos. El resultado seala al factor socioeconmicocomo principal contribuyente en la vulnerabilidad de dicha regin. El anlisis de eventosextremos por precipitacin, utilizado como indicador climtico, mostr que la variabilidad del
ANLISE DA VULNERABILIDADE DA MICRORREGIO DE ITAJUB PORMEIO DO IVG COM VISTAS MITIGAO DOS IMPACTOS CAUSADOS
PELAS MUDANAS CLIMTICAS
LUIZ HENRIQUE TIBRCIO; MARCELO DE PAULA CORRA
-
clima, expresa la vulnerabilidad de 30% de los municipios en esa regin. La escases de informacinepidemiolgica, como la ausencia de datos referentes a las tasas de incidencia, constituyeron elprincipal obstculo en la regionalizacin del IVG.
Palabras clave: Clima. Eventos extremos. Salud. Factores socioeconmicos. Indicadores.