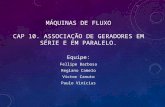A indelegabilidade do poder de polícia às sociedades de economia mistas
-
Upload
davidson-malacco -
Category
Education
-
view
1.461 -
download
1
description
Transcript of A indelegabilidade do poder de polícia às sociedades de economia mistas

A indelegabilidade do poder de polícia às sociedades de economia mista
Rafael Aliprandi de Mendonça Palavras-chave: Natureza jurídica. Poder de polícia. Delegação. Sociedade de economia mista.
Sumário: 1 Introdução - 2 Sentidos da expressão "poder de polícia" - 3 Natureza jurídica do poder de polícia - 4 Natureza jurídica das sociedades de economia mista - 5 Natureza jurídica da delegação - 6 A indelegabilidade do poder de polícia na doutrina e na jurisprudência - 7 Conclusão - Referências
1 Introdução
O Estado brasileiro, objetivando concretizar o princípio da eficiência na Administração Pública, vem aproximando-se das entidades de direito privado por meio do instituto da delegação, propiciando maior agilidade e eficiência aos serviços públicos.
Neste panorama, as sociedades de economia mista são exemplos da relação íntima entre o ente público e a iniciativa privada, já que ambos, de comum
acordo, constituem sociedade na forma de companhia, para intervir no domínio econômico ou para prestar serviço público.
Por outro lado, alguns poderes do Estado não podem ser objeto de delegação em relação aos particulares; porém, a legislação, de modo sábio, não positivou
todas as limitações de modo exaustivo, ficando a cargo da jurisprudência e da doutrina delimitar as matérias delegáveis e as indelegáveis.
No entanto, existem divergências tanto na doutrina, quanto na jurisprudência acerca do tema; assim, cumpre ao presente artigo traçar um paralelo entre a
natureza jurídica do poder de polícia administrativa, da delegação e da sociedade de economia mista, e em virtude da essência de tais institutos apresentar uma solução inovadora e juridicamente segura ao conflito envolvendo a delegação do poder de polícia às sociedades de economia mista.
2 Sentidos da expressão "poder de polícia"
Em um primeiro momento, cumpre apresentar os sentidos da expressão "poder de polícia", a qual, em seu significado amplo, compreende a função precípua dos Poderes Legislativo e Executivo, por englobar tanto a lei como os atos administrativos, que condicionam o exercício do direito de liberdade e de propriedade.
Noutro lado, tem-se o poder de polícia em sentido estrito, também conhecido como polícia administrativa, abrangendo apenas os atos administrativos emanados do Poder Executivo, que interferem de maneira geral ou abstrata no exercício do direito de liberdade e de propriedade. Diferenciados os sentidos da expressão "poder de polícia", será empregado o seu contexto estrito no decorrer do presente artigo.
3 Natureza jurídica do poder de polícia
O poder de polícia vem sendo observado, ao longo dos anos, apenas sob a perspectiva do particular, tido como o sujeito prejudicado pelas limitações,
condições ou restrições impostas pela Administração Pública, sendo-lhe negado o exercício de direitos relacionados à liberdade e à propriedade, ou seja, direitos constitucionais de primeira dimensão.
Tal visão não é suficiente para se compreender a natureza jurídica do poder de polícia, pois abarca apenas a sua acepção negativa. Para tanto, deve ser
estudado também o seu caráter positivo, possibilitando-se dessa forma o conhecimento das duas faces de um mesmo instituto, e assim definir sua verdadeira essência.
A acepção positiva do poder de polícia consiste na análise feita do ponto de vista da coletividade, pois com a atuação da Administração Pública fiscalizando o
particular, tem-se resguardado direitos constitucionais de segunda e de terceira dimensões.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello,1 sob a exegese positiva do poder de polícia, tem-se garantido direitos sociais como a saúde (direito de segunda dimensão), quando a Administração Pública fiscaliza os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício. Outro exemplo é a defesa do direito ao meio
ambiente e ao patrimônio público (direito de terceira dimensão), agindo a Administração de modo a restringir a construção de prédios que descaracterizem ou
ocultem as paisagens e os símbolos de uma determinada cidade.
Portanto, no exercício do poder de polícia, nunca se tem somente efeitos negativos ou positivos, já que havendo a limitação de um direito do particular,
através do desempenho do poder de polícia, nos limites da lei, haverá em contrapartida um benefício para a coletividade.
Deste modo, a natureza jurídica do poder de polícia deve ser compreendida como uma forma altruísta de limitar o exercício de direitos inerentes à liberdade e
à propriedade do particular em razão do interesse público, respeitando os limites legais.
Pois bem, diante da natureza transindividual do poder de polícia, o seu exercício deve se dar por meio de uma pessoa jurídica imparcial sem objetivo de auferir lucro, tendo como finalidade atingir os anseios da coletividade.
4 Natureza jurídica das sociedades de economia mista
Editora Fórum Biblioteca Digital
Biblioteca Digital Fórum Administrativo Direito Público FA,Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011

A sociedade de economia mista vem sendo conceituada pela doutrina de diversos modos, devendo ser citados Lúcia Valle Figueiredo,2 Hely Lopes
Meirelles,3 José dos Santos Carvalho Filho4 e Marçal Justen Filho.5 Porém, mesmo tendo definições distintas, todos trazem a mesma essência.
Assim, a doutrina brasileira entende que a sociedade de economia mista integra o gênero empresa estatal, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, criada
por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário está sob o poder do ente público.
No mesmo sentido está o inciso III do art. 5º do Decreto-Lei nº 200/67, que conceitua a sociedade de economia mista da seguinte forma: "entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da Administração Indireta".
Por sua vez, o Decreto-Lei nº 200/67 trata-se de norma federal, aplicável sob a órbita administrativa da União. Mas, segundo José dos Santos Carvalho
Filho, tal dispositivo vem sendo adotado pela maioria dos entes federados.6
Apresentados os conceitos elaborados pela doutrina e pela legislação federal, estes servirão de base para encontrar a verdadeira natureza jurídica das
sociedades de economia mista.
Conforme o parágrafo único do art. 982 do Código Civil, a sociedade de economia mista possui natureza empresarial, independente do seu objeto social, pois
deve ser constituída por ações, ou seja, na forma de companhia e consequentemente se submete aos ditames da Lei nº 6.404/76, por tratar-se de uma sociedade anônima.
Ao analisar de forma conjunta o caput do art. 2º com o art. 206, inciso II, alínea "b", ambos da Lei nº 6.404/76, observa-se que a sociedade anônima deve, obrigatoriamente, perquirir o lucro, sob pena de dissolução. Nesse sentido, o lucro é elemento integrante da natureza jurídica da sociedade de economia mista.
No entanto, existe posicionamento contrário à natureza essencialmente lucrativa da sociedade de economia mista, como pode ser observado no trecho abaixo, extraído do acórdão proferido pelo TJMG nos autos do processo: 4078558-67.2004.8.13.0024:
Afigura-se irrelevante o fato de a beneficiária da transferência/delegação do poder de polícia (BHTrans) ser constituída por uma sociedade de economia mista, portanto, com personalidade jurídica de direito privado.
Subsume-se inegável os benefícios decorrentes dessa delegação estatal, uma vez que permite maior disponibilidade de tempo aos integrantes da Polícia Militar Estadual, no desempenho de sua missão de prevenir/reprimir a criminalidade.
Esta delegação é perfeitamente viável, desde que o Poder concedente a realize para maior eficiência do serviço público, e, ao depois, se quiser,
avocá-lo. (TJMG, jurisprudência, numeração única: 4078558-67.2004.8.13.0024, número do processo: 1.0024. 04.407855-8/002, in DJ. 25/05/2007)
Porém, a rotulação da sociedade de economia mista como sendo uma entidade de fins sociais vai de encontro com a sua própria essência empresarial, pois é
inerente à atividade empresarial a busca pelo lucro, sendo-lhe aplicável o princípio do individualismo, que por sua vez não se coaduna com o interesse da coletividade atribuído a certos serviços e poderes públicos.
Tal raciocínio possui respaldo na doutrina de Alfredo Rocco,7 ao travar um épico debate com Cesare Vivante8 em 1892.
Alfredo Rocco defendia que a ética empresarial não poderia se confundir com a dos demais ramos do Direito devido à incompatibilidade de princípios, razão
pela qual rechaçou a unificação do Direito Empresarial com o Direito Civil defendida por Cesare Vivante, haja vista que a atividade empresarial é incompatível com certas atividades como as exercidas pelos juízes, promotores, advogados, clérigos, militares e policiais, pois o múnus público de tais funções é incompatível com os princípios basilares do Direito Empresarial (individualismo, onerosidade, cosmopolitismo, informalidade e elasticidade).
Portanto, a natureza jurídica da sociedade de economia mista é constituída pelo lucro, pelo princípio do individualismo e pela ética empresarial, elementos estes incompatíveis com o princípio da predominância do interesse público, o qual deve reger as atividades que visam o bem comum, sendo vedado à
sociedade de economia mista exercer poderes da Administração de interesse coletivo.
5 Natureza jurídica da delegação
Ao se estudar a natureza jurídica da delegação, deve-se primeiro dizer que este é o ato pelo qual a Administração por meio da concessão, permissão ou autorização transmite, em caráter temporário, à iniciativa privada atividade desempenhada precipuamente pelo Estado.
Inicia-se o estudo pela concessão, sobre a qual paira relevante polêmica em relação à natureza jurídica, haja vista que a doutrina oscila entre as teorias unitárias, contratualistas e mistas.
Os adeptos às teorias unitárias defendem que a natureza jurídica da concessão é a de ato unilateral do Estado em relação ao particular, por não estar
disponível no mercado o objeto deste "ato de império", além de ser impossível se discutir livremente as cláusulas atinentes à concessão, tornando incompatível
a realização por via de contrato.
Contudo, nem mesmo dentro das teorias unitárias há unanimidade, já que parte da doutrina entende ter a concessão natureza de ato administrativo de Direito
Editora Fórum Biblioteca Digital
Biblioteca Digital Fórum Administrativo Direito Público FA,Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011

Público, e a outra parte encampa a ideia de "ato de legislação, uma vez que cria direitos, inovando a esfera individual de prerrogativas inerentes ao
concessionário".9
No entanto, as teorias unitárias foram superadas a partir do século XIX, quando surgiram na França as teorias contratualistas, defendendo a natureza jurídica
da concessão como contratual.
Os contratualistas se dividem em dois grupos, uns acreditam possuir a concessão natureza de contrato regido pelas normas de Direito Público, e outros dizem
tratar-se de um contrato de Direito Privado.
No Brasil, prevalece a teoria contratualista de Direito Público, tendo sido importada do Direito Francês pela doutrina e pelo ordenamento jurídico
Constitucional e infraconstitucional.10
Porém, atualmente, nem os próprios franceses aplicam as teorias contratualistas, sob o fundamento da complexidade da sociedade contem porânea, não bastando a existência de um contrato puro e simples de concessão para balizar as relações entre a Administração e o particular.
Assim, a doutrina francesa afirma que nos dias de hoje não há como deixar de aplicar a teoria mista em relação às concessões realizadas pelo Poder Público,
como enfatiza René Chapus: "A concessão de serviço público é, com efeito, um ato misto, meio regulamentar, meio contratual. Esta ideia é hoje unanimemente
admitida".11
A teoria mista atribui à concessão natureza de ato bifásico, sendo "um conjunto de comportamentos administrativos, aperfeiçoados por um ato administrativo
unilateral seguido de um contrato".12
Neste sentido, cumpre destacar, o conceito de contrato administrativo desenvolvido por Celso Antônio Bandeira de Mello:13 "é um tipo de avença travada
entre a Administração e terceiros na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições
preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contrato privado".
Diante do conceito moderno de contrato, deve-se analisar a teoria mista à luz dos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello e Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello, os quais defendem ser a concessão precedida por uma fase de atos unilaterais impostos pelo Estado, tais como as condições para o
desempenho do serviço público, regido pelo Direito Público, sendo assim, uma fase marcada por atos administrativos e não por um contrato.
Posteriormente, tem-se a fase contratual regida pelo Direito Público em relação às cláusulas exorbitantes e pelo Direito Privado no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. Sendo regida a concessão por um contrato de essência híbrida.
Mesmo a Lei nº 8.666/93 prevendo em seu bojo os limites monetários para a revisão dos contratos de concessão em hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro é no Direito Privado que se socorre o operador do direito, pois todo contrato público ou privado deve obediência à função social e à boa-fé objetiva, conforme disposto no art. 422 do Código Civil, sendo esses institutos do Direito Civil princípios gerais do direito de ordem pública.
Com isto, se os princípios da função social e da boa-fé objetiva forem violados no curso do contrato de concessão, caberá o instituto da revisão tanto em favor da Administração, como em benefício do particular, sendo por meio desses princípios que o ente político e o Tribunal de Contas observam se o contrato
está gerando prejuízo ao concessionário ou se o serviço ou a obra não estão atendendo às necessidades impostas pelo concedente, permitindo-se a revisão monetária.
Pelo exposto, parece ser a teoria mista a mais adequada para ser aplicada nos dias de hoje, pois possibilita a reunião do binômio eficiência/lucratividade, já
que a Administração atinge a sua finalidade (interesse público) e o particular tem garantida a viabilidade do lucro.
Neste sentido, a natureza jurídica da concessão é de ato bifásico, precedido de atos unilaterais com a consequente celebração de um contrato de essência
híbrida, por ser regido pelo Direito Público e pelo Direito Privado.
Em relação à permissão, outra modalidade de delegação, a Constituição da República de 1988, em seu art. 175, e a Lei nº 8.987/95, em seu art. 40,
atribuem-lhe a natureza jurídica contratual. Sendo que o STF14 entendeu, em voto do Ministro Carlos Velloso, não haver distinção entre a permissão e a
concessão.
Mesmo respeitando o entendimento do STF, não se confunde o instituto da permissão com a concessão, já que, conforme preceitua o próprio art. 40 da Lei
nº 8.987/95 a permissão de serviço público tem como característica a precariedade (não enseja indenização) e a revogabilidade unilateral.
Diante do próprio texto legal, nota-se que a essência da permissão é a de ato administrativo, pois o contrato não se revoga, mas se rescinde de forma amigável, administrativa ou judicial.
Além do mais, o contrato não é ato precário, razão pela qual havendo a rescisão por ato unilateral ou por culpa, caberá indenização à outra parte.
A doutrina15 tradicional e majoritária compartilha do mesmo entendimento, contrário ao STF e à literalidade do art. 175 da CR/88 e do art. 40 da Lei nº 8.987/95.
Segundo Hely Lopes Meirelles: "[...] em bora formalizada mediante contrato, a permissão não perde seu caráter de precariedade e revogabilidade por ato
unilateral do poder concedente,"16 o que demonstra tratar-se de um ato administrativo unilateral.
Seguindo o raciocínio da doutrina prevalente no Brasil, atribui-se à natureza jurídica da permissão o ato administrativo e não o de contrato.
No entanto, é importante registrar a existência de doutrina minoritária atribuindo natureza contratual à permissão, consubstanciada pela jurisprudência do STF
e com a literalidade do art. 40 da Lei nº 8.987/95.
Editora Fórum Biblioteca Digital
Biblioteca Digital Fórum Administrativo Direito Público FA,Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011

Por fim, em relação à autorização não pairam divergências quanto a sua natureza jurí dica, sendo caracterizada pela doutrina e jurisprudência como ato
unilateral da Administração.
6 A indelegabilidade do poder de polícia na doutrina e na jurisprudência
A doutrina majoritária e a jurisprudência dos Tribunais Superiores dividem os atos do poder de polícia em dois grandes grupos: os atos delegáveis e os
indelegáveis.
Têm-se por delegáveis os atos chamados pelo STJ17 de consentimento do Poder Público e de fiscalização, os quais são respectivamente: a emissão de
carteiras nacionais de habilitação ou a permissão provisória para dirigir e a instalação de equipamentos para verificação dos limites de velocidade.
São indelegáveis para o STJ18 os atos de legislação e de sanção, os quais são respectivamente: a elaboração de normas gerais e abstratas para obtenção da carteira nacional de habilitação e a aplicação de sanção aos infratores das normas preestabelecidas no Código de Trânsito.
No mesmo sentido, João Adelino de Almeida Prado Neto19 e Celso Antônio Bandeira de Mello,20 entendendo este último que somente pode haver
delegação dos atos materiais referentes ao poder de polícia, e nunca sendo permitida a delegação dos atos jurídicos de polícia, com a exceção do capitão de
navio particular.
Sendo atos materiais21 aqueles decorrentes da operação de equipamentos de forma precisa (objetiva) retendo dados para controle governamental e dos
interessados, gerando consequências aos administrados sem qualquer distinção. E atos jurídicos22 são prescrições (sejam eles orais, escritos, expressos por
mímica ou sinais convencionais) sobre certas coisas ou situações, atribuindo um "dever ser".
Porém, há entendimento favorável à delegação do poder de polícia às sociedades de economia mista; no entanto, trata-se de doutrina minoritária, tendo como exemplos: José dos Santos Carvalho Filho, Helly Lopes Meirelles e Diogenes Gasparini.
Diante do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, a consequência da divisão do poder de polícia em atos delegáveis e indelegáveis é o
surgimento de uma linha tênue entre o permitido e o proibido, acarretando interpretações judiciais contraditórias, haja vista que o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais23 decidiu pela possibilidade da delegação, enquanto o TJSP,24 o STF25 e o STJ26 foram contrários à delegação do poder de polícia.
7 Conclusão
Tendo em vista que os particulares, pessoas naturais ou jurídicas possuem de modo geral os mesmos direitos e obrigações, assegurando-se à Administração um dever fiscalizatório sob os auspícios do princípio da predominância do interesse público em detrimento do privado.
Conforme já mencionado, o poder de polícia possui natureza jurídica transindividual, por isso deve ser exercido de forma exclusiva pela Administração, por
tratar-se de uma relação de verticalidade, na qual o administrado se submete aos interesses da coletividade.
Deste modo, mesmo os atos materiais do poder de polícia como a emissão da carteira nacional de habilitação (CNH) e a instalação de verificadores de velocidade constituem, mesmo que indiretamente, atos de limitação à liberdade e à propriedade do particular.
No caso da emissão da CNH, o particular é obrigado a comprovar sua aptidão para conduzir veículo automotor por meio deste documento.
Neste sentido, há uma relação de horizontalidade entre os particulares. Caso a Administração delegasse a emissão de documento público à instituição privada, a presunção de veracidade do ato estaria viciada, já que o documento não gozaria da fé-pública necessária para a identificação civil.
Com isso, a sociedade de economia mista, devido a sua natureza empresarial e que por isso visa ao lucro, não pode receber a concessão para emitir
documentos públicos, já que dessa forma estar-lhe-ia sendo transmitido o poder de polícia.
Em relação aos equipamentos verificadores de velocidade, a simples instalação não caracte riza ato de poder de polícia, mas sim uma obra pública que viabilizará a limitação à propriedade privada. Esta, no entanto, somente ocorrerá no momento de seu funcionamento.
Sendo muito diferente a operação e a colheita de dados dos equipamentos verificadores de velocidade, que neste caso caracteriza ato de poder de polícia e,
portanto, não pode ser dele gado por se tratar de um monopólio da Administração, pois limita o direito de uso do veículo de propriedade do particular.
Para tanto, o poder de polícia deve ser visto como instituto único e indivisível, sendo vedada a sua delegação às sociedades de economia mista, em razão da
incompatibilidade da natureza jurídica, haja vista que o primeiro possui essência transindividual, enquanto a segunda está atrelada à ética empresarial que visa
o lucro, sendo regida pelo princípio do individualismo.
Referências
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência, Resp. 817534 / MG, Dje, 10 dez. 2009.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência, ADI 1717 / DF, DJ, 28 mar. 2003.
Editora Fórum Biblioteca Digital
Biblioteca Digital Fórum Administrativo Direito Público FA,Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Jurisprudência, apelação cível / reexame necessário numeração única: 4078558-67.2004.8.13.0024, número do processo: 1.0024.04.407855-8/002, DJ, 25 maio 2007.
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso prático de direito administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Estudos sobre concessão e permissão de serviços públicos no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996.
RODRIGUES, Frederico Viana. A autonomia do direito comercial no Novo Código Civil. In: RODRIGUES, Frederico Viana. Direito de empresa no Novo Código Civil. Rio de janeiro: Forense, 2003.
RODRIGUES, Itiberê de Oliveira Castellano. Fundamentos dogmático-jurídicos de um poder de polícia administrativo à brasileira. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 17, 2008. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 24 mar. 2010.
SAMPAIO, Tereza Carolina Castro Biber. Poder de polícia. Wikiuspédia, 19 dez. 2007. Disponível em: <http://www.buscalegis.ufsc.br>. Acesso em: 24
mar. 2010.
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 23. ed. 2007. p. 800.
2 FIGUEIREDO, Lúcia Valle apud MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Curso prático de direito administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 153. Sociedade de economia mista, também autorizada sua criação por lei, é formada de cometimento estatal, para prestação de serviços públicos ou para
intervenção no domínio econômico dentro do confinamento constitucional, revestindo-se da forma de sociedade anônima, em boa parte mercê do art. 37 do texto constitucional, ao regime jurídico administrativo.
3 MEIRELLES, Hely Lopes apud MOTTA, op. cit, p. 154. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, com participação do Poder Público e de particulares no seu capital e na sua administração, para a realização de atividade econômica ou serviço público outorgado pelo Estado.
Revestem a forma das empresas particulares, admitem lucro e regem-se pelas normas das sociedades mercantis, com as adaptações impostas pelas leis que autorizarem sua criação e funcionamento. São entidades que integram a Administração indireta do Estado, como instrumentos de descentralização de seus
serviços (em sentido amplo: serviços, obras, atividades).
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 438. [...] sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, sob a forma de
sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter
econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos.
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 126. Sociedade de economia mista é uma sociedade anônima sujeita a regime diferenciado, sob o controle de entidade estatal, cujo objeto social é a exploração de atividade econômica ou prestação de serviço
público.
6 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 439.
7 ROCCO, Alfredo apud MARTINS, Francisco. Curso de direito comercial, 2000. p. 26.
8 VIVANTE, Cesare apud MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1933. v. 1, p. 23: todos os atos da vida jurídica, excetuados os benéficos, podem ser comerciais ou não comerciais, isto é, tanto podem ter por fim o lucro pecuniário,
como outra satisfação da existência.
9 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Estudos sobre concessão e permissão de serviços públicos no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 35.
10 Cumpre ressaltar que, no Direito brasileiro, a concessão, e especificamente a de serviço público, tem sido sempre nominada, ainda que inapropriadamente,
de contratom quer na doutrina, quer nos textos positivos. (.) É claro que isto sempre foi feito copiando o que dizia a doutrina francesa. Esta, todavia, já não mais sustenta o sobredito erro (BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 692).
11 CHAPUS, René apud BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 692.
12 ROCHA, op. cit., p. 36.
13 BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 601, 602.
Editora Fórum Biblioteca Digital
Biblioteca Digital Fórum Administrativo Direito Público FA,Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011

14 STF, ADI 1491, medida cautelar, DJ, 29 set. 1998.
15 MOTTA, op. cit., p. 180.
16 MEIRELLES apud MOTTA, op. cit., p. 180.
17 STJ, Resp. 817534 / MG in Dje, 10 dez. 2009.
18 Ibidem.
19 PRADO NETO, João Adelino de Almeida apud MOTTA, op. cit., p. 542. Os serviços da atividade essencial do Estado (tutela do direito) não podem ser objeto de concessão nem de delegação. Sua execução é que deu nascimento ao próprio Estado, e este perecerá se os não cumprir por si próprio. Os
serviços de ordem puramente social poderão ser objeto de concessão, desde que reúnam dois requisitos: a) comportarem remuneração por parte dos
usuários; b) independerem do exercício da coação sobre os cidadãos.
20 BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 810.
21 Ibidem.
22 Ibidem, p. 360.
23 TJMG, apelação cível/reexame necessário numeração única: 4078558-67.2004.8.13.0024, número do processo: 1.0024.04.407855-8/002, DJ, 25 maio 2007.
24 TJSP, Ap. 228.863-1/4 - 7ª C. - Rel. Des. Rebouças de Carvalho - J. 2 ago. 1995.
25 STF, ADI. 1717-6. J. 7 nov. 2002.
26 STJ, op. cit.
Informações bibliográficas:
Conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto científico publicado em periódico eletrônico deve ser citado
da seguinte forma: MENDONÇA, Rafael Aliprandi de. A indelegabilidade do poder de polícia às sociedades de economia mista. Biblioteca Digital Fórum Administrativo - FA, Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=71284>. Acesso em: 18 fevereiro 2011.
Editora Fórum Biblioteca Digital
Biblioteca Digital Fórum Administrativo Direito Público FA,Belo Horizonte, ano 11, n. 119, jan. 2011