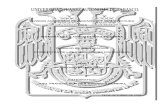A Convencionalidade na Representação do Espaçohome.fa.utl.pt/~smo/TCSR.pdf · Dissertação...
Transcript of A Convencionalidade na Representação do Espaçohome.fa.utl.pt/~smo/TCSR.pdf · Dissertação...
Susana Martins de Oliveira
A Convencionalidade na Representação do Espaço Um estudo sobre Gombrich e Goodman
Janeiro 2000
Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras Universidade de Lisboa
A CONVENCIONALIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO
Um estudo sobre Gombrich e Goodman
Dissertação apresentada à Universidade de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Filosofia,
orientada pela Professora Doutora Maria do Carmo d’Orey
Janeiro 2000
Para o meu pai, que nunca conseguiu
“ver a intersecção de uma recta com um plano”, mas enchia o espaço todo à sua volta.
Agradecimentos
Apesar de ter lido algures que não é de bom gosto esta menção, gostaria de agradecer o apoio e a amizade da Professora Doutora Maria do Carmo d’Orey que em muito excedeu o que era a sua obrigação como minha orientadora.
Agradeço aos meus pais e ao meu irmão por toda a colaboração e paciência que me ofereceram, especialmente à minha mãe a quem devo as cuidadas revisões de texto, o esclarecimento de dúvidas de tradução e, sobretudo, toda a ajuda quotidiana sem a qual não teria sido possível concluir este trabalho.
Não posso também deixar de agradecer aos meus professores e colegas do Curso de Mestrado em Estética em Estética e Filosofia da Arte, especialmente à Sara, à Noémia e ao Vitor. O meu agradecimento pelo seu apoio, e também um pedido de desculpa pela pouca atenção que lhes dispensei durante alguns meses, a todos os meus amigos, em particular à Sara e ao Américo, ao Palma e Luisa, à Zé, à Filipa, Catarina, Filipe, João e Sérgio.
Agradeço ao meu filho Afonso e às minhas enteadas Maria e Rita que, apesar da sua meninice, souberam respeitar o meu horário de trabalho e à minha filha que ainda não nasceu e por isso mesmo acompanhou de perto todo o tempo que estive a redigir este texto.
Para agradecer ao Eduardo não há palavras que possam ser suficientes.
ÍNDICE
REFERÊNCIAS E ABREVIATURAS .................................................................................................. I
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 2 NOTAS PRÉVIAS: Questões de Tradução ........................................................................................ 7
I. O PONTO DE VISTA DE ERNST GOMBRICH EM ART & ILLUSION .......................... 10
1. Os criptogramas da arte .............................................................................. 14 2. O papel do espectador: expectativa e projecção ....................................... 20 3. A conquista do espaço ................................................................................ 25
II. O PONTO DE VISTA DE NELSON GOODMAN EM LANGUAGES OF ART .............. 33
1. A Construção da Realidade e a Simbolização
............................................... 36 1. 1. A teoria simbólica da arte .......................................................................... 39 1. 2. Palavras e Figuras ..................................................................................... 43
2. Quando é a representação? ....................................................................... 48 3. Realismo ...................................................................................................... 58
4. Perspectiva
...................................................................................................................... 64
III. GOMBRICH E GOODMAN: O DEBATE ....................................................................... 69
1. A pintura figurativa ....................................................................................... 75 2. O exemplo do Cubismo ............................................................................... 84
3. A seta no olho: visão e leis da perspectiva
................................................ 92 Conclusões ................................................................................................................ 103
Índice e Fonte das Ilustrações .................................................................................. 106 BIBLIOGRAFIAS ....................................................................................................... 108
Bibliografia Primária 109
Obras de Ernst Gombrich 109 Obras de Nelson Goodman 114
Bibliografia Secundária: Obras Consultadas 119
I
REFERÊNCIAS E ABREVIATURAS
As referências em nota às obras dos autores citados são dadas por nome do
autor, seguido de título e data, e eventualmente número de página(s), sendo que a
restante informação bibliográfica consta das Bibliografias. Quando a edição a que nos
referimos não é a original, a data original é apresentada entre parênteses, seguida da
data da publicação utilizada. Mas, numa sequência de referências à mesma obra, as
datas são omitidas e os títulos são abreviados, quando muito extensos, após a primeira
referência.
Utilizamos as seguintes siglas:
Obras citadas de Ernst H. Gombrich
AI - Art & Illusion. A study in the psychology of pictorial representation (1960), 1995
IE - The Image and The Eye (1982), 1986
Obras citadas de Nelson Goodman
LA - Languages of Art. An Approach to the Theory of Symbols, (1968), 1976
PP - Problems and Projects, (1972)
WW - Ways of Worldmaking, (1978), 1985
MM - Of Mind and Other Matters, (1984)
RP - Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, (1988)
2
INTRODUÇÃO
Quando, na segunda década do séc. XV em Florença, Filippo Brunelleschi inventou o método
de representação do espaço, desenvolvido e aperfeiçoado ao longo do quatroccento, em particular por Lorenzo Ghiberti, Leon Battista Alberti e Piero della Francesca, e que viria a ser chamado perspectiva artificialis, assinalou um momento decisivo para o rumo da arte ocidental, não somente para as artes pictóricas mas para as actividades projectuais em geral. Este método parecia tornar verosímil a representação do espaço numa superfície plana, com o argumento da correspondência com o mecanismo da visão, enlevando os artistas na possibilidade de realizarem ilusionismos visuais e de fascinarem o seu público com obras de arte de grande virtuosismo.
Quando aqui, e ao longo desta dissertação, utilizamos o termo “perspectiva” referimo-nos precisamente à perspectiva artificial, também designada de perspectiva linear. Convém desde já
distinguir entre perspectiva natural, isto é, o modo como percepcionamos visualmente o espaço à nossa volta, e a perspectiva artificial, que pretende traduzir essa experiência visual através de métodos geométricos mais ou menos arbitrários.
Etimologicamente a palavra “perspectiva” descende do infinitivo “perspicere”, ver claramente ou observar através de. Genericamente “perspectiva” significa ponto de vista, ciência visual ou da óptica, cena ou vista natural ou artificial, ou um aspecto dos objectos em relação com a posição e a distância, e aplica-se vulgarmente a diversas técnicas de representar os objectos e o espaço entre eles numa superfície bidimensional. Algumas destas técnicas radicam igualmente em pressupostos geométricos rigorosos, como as perspectivas curvilínea e axonométrica. As regras da perspectiva atmosférica ou aérea, que prescrevem a perda de nitidez das formas e valores lumínicos com a distância, e as da perspectiva cromática, que indicam o afastamento das cores frias e a proximidade das cores quentes no campo visual, apesar de terem um fundamento científico, baseiam-se em critérios de utilização mais ou menos intuitivos ou empíricos. Porém, neste momento, não pretendemos entrar em detalhes exaustivos e abusar do jargão técnico acerca de todos estes processos cuja introdução será oportuna e necessária ao longo deste trabalho.
3
Desde Vasari que o problema da perspectiva tem motivado várias gerações de historiadores de arte. Mas só passou a ser objecto de controvérsia filosófica com a publicação, em 1927, do artigo
de Erwin Panofsky “Die Perspektive als ‘symbolishe Form’”. Tanto os filósofos como os teóricos e psicólogos da arte têm debatido desde então se o sistema da perspectiva artificial deve ser entendido como a elaboração de um sistema de convenções sofisticado ou como uma descoberta efectiva acerca da forma do espaço visível e percepcionado. A opção entre dizer que Brunelleschi ‘inventou’ um método ou ‘descobriu’ um método não é indiferente e encerra em si mesma esta questão.
De facto, verificamos que o sistema da perspectiva artificial utilizado na pintura renascentista congrega uma série de técnicas para representar relações não-planares no espaço que já eram conhecidas no momento da sua invenção. A sobreposição ou oclusão parcial de um objecto por outro, uma das chaves mais simples para representar hierarquias dos objectos no campo visual, era já utilizada pelos artistas do Antigo Egipto e mesmo nas pinturas rupestres de Lascaux pode observar-se a representação das dimensões relativas de animais e figuras. Na Antiguidade Clássica foram realizadas as primeiras e tímidas experiências de perspectiva mas, apesar das qualidades essenciais da perspectiva linear já serem conhecidas neste período, constatou-se que a aplicação prática desses princípios pelos artistas gregos e romanos era problemática uma vez que não dispunham de uma metodologia de construção geométrica.
A representação em escorço, a modelação lumínica dos objectos e a representação das
sombras projectadas, embora sejam processos mais complexos, surgem com frequência na pintura medieval. Nas obras de Giotto, a quem Vasari atribuiu a descoberta parcial do escorço de figuras, as linhas principais dos edifícios são representadas em convergência. Em toda a pintura medieval surgem pontualmente exemplos de aplicação da perspectiva linear, utilizadas em simultâneo com outras técnicas de representação como as já referidas sobreposição parcial e dimensão relativa dos objectos e também a elevação no plano do quadro dos objectos mais afastados e a gradação das texturas com a distância. A pintura flamenga dos sécs. XIV e XV, em especial a obra de Van Eyck, ainda hoje nos deslumbra pela minúcia das texturas e a delicadeza da modelação das formas através do claro/escuro.
Não incluimos deliberadamente neste nosso estudo a referência à arte oriental, mas não podemos deixar de mencionar nesta introdução o magnífico uso da perspectiva atmosférica nos desenhos e pinturas tradicionais chinesas e japonesas e as ingénuas perspectivas axonométricas presentes na pintura indiana.
No entanto, e até à invenção da perspectiva artificial, estas técnicas eram utilizadas isoladas ou de forma incoerente. A conquista do método da perspectiva de que tratamos foi a de integrar as
4
técnicas existentes numa forma sistematizada e harmoniosa garantindo a coerência da relação entre as partes de uma cena representada.
Entre o discurso filosófico em geral e a investigação histórico-artística abriu-se, portanto, um
profícuo terreno de estudo. Os limites deste trabalho são certamente mais estreitos. Não se pretende registar um olhar panorâmico sobre o conjunto de teorias produzidas acerca da perspectiva, e muito menos elaborar uma outra teoria sobre a representação visual do espaço, mas sim analisar e discutir a questão da convencionalidade na representação do espaço à luz do diálogo entre dois autores, o historiador e psicólogo da arte Ernst H. Gombrich e o filósofo Nelson Goodman.
Sabemos que os objectivos e métodos dos historiadores de arte, psicólogos e filósofos são e têm que ser radicalmente diferentes. Não obstante, as questões relativas à natureza da representação na arte proporcionaram um campo de encontro, como referiu Maurice Mandelbaum1 sublinhando o contributo fundamental de Ernst H. Gombrich com a obra Art & Illusion e de Nelson Goodman que, com o seu livro Languages of Art , colocou em novos moldes o interesse no meio da Filosofia por problemas deste tipo, influenciando claramente o sentido das discussões. O próprio Goodman, numa recensão crítica ao livro clássico de Gombrich, chama a atenção para a importância filosófica da obra, e cita o historiador austríaco em inúmeros dos seus textos.
A obra mais divulgada de Sir Ernst H. Gombrich foi The Story of Art (1950) mas é em Art &
Illusion (1960) que apresenta a sua abordagem interdisciplinar da história da arte, através do estudo dos aspectos psicológicos da produção e interpretação das imagens, com o objectivo de compreender “...porque é que a representação deve ter uma história; porque é que a humanidade teve de demorar tanto a conseguir uma tradução plausível dos efeitos visuais para criar a ilusão de life-likeness.” Além destas obras, Gombrich produziu outros livros de considerável importância que, na sua maioria, reunem a grande quantidade de textos de conferências, artigos para jornais e publicações, obras colectivas, e ensaios que este historiador escreveu e que, por critérios de economia, não foi possível abordar na totalidade no âmbito deste trabalho.
O filósofo norte-americano Nelson Goodman, recentemente falecido, foi Professor Emérito de Filosofia na Harvard University, tendo o seu pensamento em muito contribuído para as áreas da Epistemologia, da Metafísica, da Filosofia da Ciência e da Estética, que o próprio Goodman considerava um ramo da Epistemologia, uma vez que a arte enriquece o conhecimento.2
1 Maurice Mandelbaum no prefácio de E.H.Gombrich, Julian Hochberg, Max Black, Art, Percepción and Reality, (1972) 1983, pp. 9-12 2 V. Catherine Z. Elgin, “Goodman, Nelson”, em David Cooper (ed.), A Companion to Aesthetics, 1995, pp.175-177
5
A sua obra mais conhecida nesta área, e em que nos concentrámos para este trabalho, é Languages of Art - An Approach to a Theory of Symbols (1968) onde nos oferece uma análise
sensível e cuidada dos sistemas de representação artística, mas a consulta das suas outras obras bem como de alguns artigos publicados em compilações, foi útil para melhor compreendermos algumas das suas ideias.
Assim, as obras de Gombrich, com os seus numerosos estudos sobre psicologia da arte, forneceram-nos os conteúdos sobre o convencionalismo perceptivo na sua relação com a percepção das imagens pictóricas. Nelson Goodman, por outro lado, forneceu-nos os princípios sobre o convencionalismo lógico. As duas primeiras partes deste trabalho resultam sobretudo do estudo sobre os respectivos pontos de vista.
Na Parte I teremos em consideração as ideias expressas por Gombrich em Art & Illusion acerca do problema da representação pictórica em geral, para nos debruçarmos com particular atenção sobre o seu ponto de vista da percepção e representação do espaço, e a perspectiva artificial em particular. A Parte II deste trabalho respeita a mesma estratégia aplicada ao texto de Languages of Art de Nelson Goodman.
Na Parte III, que pretendemos de índole crítica, serão colocados em confronto os pontos de vistas dos dois autores. Estes partilham da opinião que o nosso olhar sobre o mundo e, consequentemente, sobre as formas de manifestação artística, não é um olhar inocente, mas sim condicionado pelo hábito e culturalmente instruído. Em suma e no essencial, ambos concordam
com o carácter convencional da representação pictórica. No entanto, estão em desacordo no que diz respeito ao convencionalismo na representação do espaço, mais concretamente à convencionalidade da perspectiva.
É precisamente esta questão que motiva o nosso estudo e sobre a qual desejamos contribuir para o esclarecimento de alguns aspectos do debate entre os dois autores, fazendo uso e exemplo de algumas obras de arte de diferentes períodos cuja análise pode contribuir para enriquecer a discussão.
O ponto de vista que partilhamos com estes autores e que aqui se defende é o da impossibilidade de toda e qualquer aproximação inocente à realidade. Permanece aberta a possibilidade de compreender outras formas de representação, e mesmo modificar as nossas próprias formas, alargando assim a nossa visão do mundo, mesmo que a dado momento alguma outra se nos imponha como mais evidente.
6
NOTAS PRÉVIAS Questões De Tradução:
No decurso da investigação para este trabalho verificou-se ser de grande importância fazer determinadas opções de tradução, que devem desde já ser definidas e justificadas, uma vez que estão presentes ao longo de todo o texto. Sendo a bibliografia consultada na sua maioria de língua inglesa, sobretudo as obras fundamentais dos dois autores escolhidos, e considerando o tema que
é objecto deste trabalho, A Convencionalidade na Representação do Espaço, deparámo-nos com um conjunto de termos cuja tradução para língua portuguesa oferece alguns problemas.
Isto verifica-se porque na nossa língua não existem, ou caíram em desuso, os termos verbais que seriam os equivalentes exactos para substantivos ingleses como “picture”, “design”, “depiction”, e os verbos “to depict” e “to picture”, termos estes que se referem a conceitos centrais do nosso estudo. A própria distinção em língua inglesa entre “design” e “drawing”, que designam disciplinas e práticas artísticas distintas, não tem correspondente portuguesa. Curiosamente, a palavra “design” é de origem italiana, e resultou na língua portuguesa em “desenho”, que equivale em termos práticos ao inglês “drawing”, e não a “design”. Também “picture” e “depiction”, a palavra “pintura”, e todos os termos afins como “pictórico”, nasceram do latino “pictura” mas, e apesar da sua origem etimologia comum, presentemente os seus significados não são os mesmos.
O termo “design”, surge com muito pouca frequência neste texto e por isso optámos por o manter na língua original, tanto mais que actualmente se vulgarizou o seu uso, em determinados meios profissionais e escolares, sob esta forma no nosso país. O substantivo “representation”, bem como “pictorial” e expressões como “pictorial representation”, não apresentam dificuldades de tradução e correspondem, respectivamente, a “representação”, “pictórico” e “representação pictórica”. O mesmo não acontece com os outros termos referidos e não foi possível encontrar
termos portugueses que lhes correspondessem inequivocamente e aqueles de que dispomos ora são demasiado abrangentes ora excessivamente estritos.
A palavra “picture” tem múltiplos significados e pode designar determinado tipo de objectos, ou referir-se a uma imagem de memória, a determinadas situações ou cenas, a descrições verbais,
7
entre outros. Dizer “go to the pictures” significa coloquialmente ‘ir ao cinema’ e “to take a picture” significa ‘tirar uma fotografia’. Mas o sentido do termo que nos interessa é aquele em que este é
estritamente relativo a “depiction” e ao verbo “to depict”. Embora estes termos refiram o acto ou acção de representar algo, quer através de imagens como de palavras, quando associados a “picture” e no actual contexto, significam o acto de referir algo ou alguém exclusivamente através de pictures.
Assim temos que “picture” é o objecto de desenho, fotografia, gravura ou pintura que é produto da depiction, ou da acção de to depict. Não podemos portanto traduzir “picture” pela correspondente “pintura”, que denota um tipo particular de pictures, logo é demasiado estrita, além de que existe o seu equivalente exacto “painting” em inglês. Também a palavra “imagem” corresponde com exactidão ao inglês “image” e, em qualquer dos idiomas, possui um significado amplo podendo designar tanto o reflexo num espelho, como uma miragem, como uma fugaz imagem retiniana. Verificamos uma relação causal entre o acto de to depict e uma picture que não é necessária para a existência de imagens, tal como as entendemos, no seu sentido lato.
Inicialmente considerámos a hipótese de traduzir “picture” por “representação figurativa” mas não nos restaria então qualquer possibilidade de distinguir os objectos, as pictures, da depiction em geral, e teríamos de traduzir “to depict” por “representar figurativamente”. Apesar de ser bastante mais rigorosa esta opção resultava algo desagradável para o leitor, com prejuízo da fluidez do texto.
Optámos finalmente por uma solução que consideramos ser de suficiente rigor e eficácia,
embora possa conduzir a alguns equívocos, sobretudo se tivermos em conta a utilização mais comum e frequente destes termos. Não pretendemos apresentar uma justificação detalhada baseada na origem etimológica ou em significados primordiais, mas sim definir desde já e com clareza o âmbito do uso de termos em português que serão constantes ao longo deste trabalho, e que correspondem às traduções possíveis e operativas de palavras originárias da língua inglesa, vitais nos textos dos autores que trabalhámos.
Assim, optámos por traduzir “picture” pela palavra “figura” que, embora possua múltiplos significados, pode ser definida genericamente como forma bidimensional, desenho, imagem, aspecto e que pode aplicar-se tanto um determinado conjunto de gestos de um actor ou bailarino, como às ilustrações de uma carta de jogar ou a uma pintura ou ainda a uma figura geométrica, como é frequentemente utilizada. Consequentemente, consideramos para o verbo “to depict” o infinito do verbo “configurar” que significa dar forma, ou dar figura a..., ou representar. Para corresponder a “depiction”, afirmando a qualidade, característica, atributo ou natureza de determinada acção ou objecto, dispomos então de “representação figurativa”, i.e., a representação através ou por meio de figuras.
8
Reconhecemos que podem ser colocadas algumas reservas a estas opções, mas julgamos que permitiram definir e distinguir os conceitos envolvidos, satisfazendo os propósitos deste
trabalho, e deixando disponível, para os casos em que foi necessária, por exemplo, a utilização dos termos “imagem” e “pintura” ou “ilustração”.
Algumas situações pontuais surgiram onde as opções de tradução constituíram uma dificuldade e podem eventualmente ser controversas e, uma vez que a grande maioria destas traduções foi realizada por nós, serão assinaladas em nota de rodapé.
10
“This life’s five windows of the soul
Distorts the Heavens from pole to
pole, And leads you to believe a lie
When you see with, not thro’, the eye.”
William Blake
Leonardo da Vinci pensava que a Pintura era uma forma de arte mais elevada do que a
Poesia, partindo da ideia platónica da superioridade da semelhança natural. Para Leonardo, a Pintura era claramente natural, “filha da Natureza e parente de Deus ele próprio” e resultava da imitação de objectos, as obras de Deus, através de técnicas naturais e científicas que garantiam a sua veracidade. A Poesia, pelo contrário, continha apenas ficções acerca das acções humanas, não conseguindo atingir o grau de realismo da pintura.3
A posição de Leonardo traduz o debate entre a naturalidade das imagens e a
convencionalidade da linguagem verbal e revela uma das mais controversas e duradouras questões desde Platão: a distinção entre natureza e convenção, entre o natural e o convencional. A antiga noção de “natureza” foi compreendida, no pensamento moderno, como a ideia de uma “segunda natureza”, que se refere ao nível cultural e social que, estando estabelecido e enraízado, se confunde com as pulsões e actividades mais primárias e naturais.4 No nosso discurso muitas vezes empregamos, no mesmo sentido, o termo “natural” e palavras como “normal” e “habitual”, o que é revelador da confusão entre naturalidade e convencionalidade.
O historiador de arte Ernst Gombrich é considerado como um dos mais influentes participantes neste debate entre natureza e convenção, tendo sido identificado por diversas vezes
3 Leonardo da Vinci, “XXVIII Comparaison des Arts”, compilado em Les Carnets de Leonardo de Vinci, trad. Louise Servicien, vol.II, Éditions Gallimard, 1994, pp.226-230; “Si vous savez évoquer et décrire les apparences des formes le peintre peut les montrer animées, avec des lumières et des ombres, qui créent les expressions mêmes des visages; en cela, votre plume ne saurait égaler notre pinceau.” (Ms 2038 Bib. nat. 19 r. et v. 20 r.) 4 V. referência a Platão e à noção de “segunda natureza” em E.H. Gombrich, IE, respectivamente p.278 e 287.
11
com ambos os lados da questão. Podemos dizer sumariamente que este autor tem atribuído uma parte e importância relativas dos aspectos naturais e do convencionais, no que respeita à produção
e à percepção das imagens e à representação pictórica do espaço em particular, que aqui nos interessa.
No entanto, no conjunto da sua obra e ao longo do tempo, a posição de Gombrich sofreu alterações e desvios entre os dois pólos deste debate tradicional. Se, no notável texto de 1960, AI, surge com um defensor hesitante do carácter convencional da representação pictórica, preocupado com a distinção clara e os limites de aplicação dos conceitos de “natural” e “convencional”, no seu trabalho subsequente dedicou-se a esbater e confundir estes limites, em particular no texto de 1978, “Image and Code: Scope and Limits of Conventionalism in Pictorial Representation”.5
Na leitura dos seus inúmeros textos encontramos uma multiplicidade de exemplos, dos mais banais aos mais eruditos, um grande virtuosismo retórico e uma fluência e riqueza no discurso que dificultam a nossa capacidade de determinar claramente qual a sua posição que nos parece, por vezes, confusa e contraditória.
Tendo em conta o assunto e o objectivo do nosso estudo, não considerámos pertinente explorar as oscilações teóricas de Gombrich ou indagar quais os motivos que o levaram a abandonar uma parte das ideias expressas em AI. Deixaremos a abordagem do referido texto de “Image and Code” e de outros artigos reunidos em IE para a Parte III, uma vez que é aqui que Gombrich exprime e fundamenta o seu desacordo com aquilo que chama de “convencionalismo
extremo”, onde inclui, entre outros, o pensamento do filósofo Nelson Goodman. Nesta Parte I do nosso trabalho, dedicar-nos-emos sobretudo à análise de AI, a obra mais marcante e influente, que reune a maioria das considerações acerca da representação pictórica em geral, e a do espaço em particular.
As questões em torno da representação pictórica constituem um problema para a história da arte, como assinala Gombrich desde as primeiras páginas da AI. Apesar de nem toda a representação ser artística, esta “não é menos misteriosa por isso”6 e as formas que assume, da cartografia à banda-desenhada, das imagens de pin-ups às obras de arte mais conceituadas, conduzem-nos a questões comuns acerca da experiência visual, dos modos de representação e do seu conteúdo cognitivo. Os métodos historiográficos são insuficientes para responder a estas questões e Gombrich defende desde logo a necessidade da participação multidisciplinar num estudo desta natureza. As mais recentes investigações, à época, na àrea da linguística e da
5 Este texto foi realizado para uma conferência na Internacional Conference on the Semiotics of Art, em Ann Arbor, Michigan, e publicado em W.Steiner (ed.), Image and Code, Michigan Studies in the Humanities, 1981. Consultámos a edição compilada em IE, 1986, pp.278-297 6 E.H. Gombrich, AI, p.6
Comment [c1]:
12
iconologia, da psicologia do desenvolvimento infantil e da psicologia da percepção visual, da neurofisiologia, os escritos dos críticos de arte e de diversos artistas e pedagogos da arte, bem
como as fontes tradicionais da historiografia da arte e referências eruditas, são convocados para este texto que Gombrich magistralmente conduz com o objectivo de afirmar a possibilidade de uma linguagem da arte, baseado no estudo da psicologia da representação pictórica.7
7 “Everything points to the conclusion that the phrase ‘the language of art’ is more then a loose metaphor…” , idem, p.76
13
1. Os criptogramas da arte
A expressão “criptogramas da arte”8 foi retirada por Gombrich de uma citação do pintor amador, famoso embora por outros motivos, Sir Winston Churchill. O antigo primeiro ministro britânico referia-se à experiência visual de um objecto que é transmitida em código, pela produção na tela de marcas pictóricas que, como criptogramas, têm de ser decifradas em relação a todas as outras marcas presentes na pintura. Gombrich apropria-se desta ideia considerando que a nossa surpreendente capacidade de interpretar imagens é afinal a capacidade de decifrar os criptogramas da arte.
Extrapolando a analogia entre os processos codificados da correspondência postal e os procedimentos pictóricos sugerida por Churchill, o historiador analisa as formas artísticas que aplicam os princípios envolvidos nos sistemas simples de sinalização. Tal como as iluminações de rua natalícias utilizam um esquema9 simples de “ligado” e “desligado” para obter uma determinada configuração de luz através de um conjunto de lâmpadas, também na arte, em particular nas artes decorativas, encontramos o mesmo princípio de acordo com o qual é suficiente a relação entre dois sinais ou marcas para produzir uma representação. É o que se verifica nalgumas técnicas téxteis, como o vulgar “ponto-de-cruz” ou o “crochet”, em que o preenchimento ou vazio de uma malha quadriculada permite realizar figuras de homens, animais e objectos. Nos mosaicos encontrados nos pavimentos de edificações romanas os mesmos princípios são aplicados com maior grau de complexidade. De facto, o recurso à relação e distinção entre figura e fundo e às gradações lumínicas tornou-se comum não apenas às artes decorativas mas a todas as técnicas gráficas, do desenho à gravura, e exemplifica os criptogramas relacionais ainda em uso na arte ocidental.
8 idem, p.34 9“The schema is not the product of a process of ‘abstraction’, of a tendency to ‘simplify’; it represents the first aproximate, loose category which is gradually tightened to fit the form it is to reproduce”, idem, p.64. A palavra “scheme” é utilizada por Gombrich tanto na sua forma inglesa como na latina “schema”; como este autor não define claramente o significado e aplicação deste conceito optámos por traduzi-lo sempre por “esquema”. Nos casos em que Gombrich utiliza “schemata”, se bem que o termo nos coloque algumas interrogações, mantivemos a referência no original.
14
Segundo Gombrich, tornámo-nos “tão obedientes às sugestões do artista”10 que não estranhamos a facilidade com que interpretamos um grafismo tão arbitrário e artificial como uma
linha de contorno para definir uma figura ou uma trama de linhas entrecruzadas para sugerir uma sombra.11 Mas o que quer Gombrich dizer com termo-nos tornado obedientes?
Antes de responder e considerar as implicações desta pergunta vamos deter-nos um pouco mais na questão dos criptogramas da arte. Parece claro a Gombrich que as técnicas gráficas recorrem a notações12 convencionais às quais estamos habituados, i.e., a um número limitado de criptogramas, acrescido no caso da pintura com a utilização da cor. No entanto, para este autor, os processos de codificação são idênticos mas sujeitos a um mais elevado grau de complexidade.
Ao longo dos sécs. XVIII e XIX foram conduzidas uma série de experiências com o objectivo de medir e avaliar o comportamento da luz, procurando também fornecer aos artistas instrumentos fiáveis na transposição da cor local e das gradações tonais para a pintura. A eficácia destes dispositivos era muito limitada e artistas como John Constable vieram contestar a necessidade de se restringirem a uma escala reduzida de valores tonais, tal como a que era obtida pelo “vidro de Claude”.13 Uma fotografia a preto e branco de uma paisagem produz um resultado semelhante ao deste dispositivo em termos de gradações tonais de cinzento e de maneira nenhuma poderiamos considerar que corresponde à variedade de tonalidades observável no local. Como argumenta Gombrich, a prova fotográfica está sujeita não apenas à escolha do momento e às condições atmosféricas em que foi realizada, como também à manipulação laboratorial por parte do
fotógrafo.14 Estas considerações partem da comparação entre a pintura Wivenhoe Park15, de John
Constable (fig.1), e várias fotografias do mesmo parque, para concluir que, tanto o pintor como o fotógrafo, estão condicionados pelo seu medium específico.16 A pretensão de realizar uma imitação literal da natureza é frustada pelas próprias condições de produção e nem a pintura nem as
10 AI, p.38 11 Em IE, Gombrich mudou de ideias em relação à arbitrariedade desta marca gráfica, passando a considerar a linha de contorno como uma marca “natural”; v. p.283 12 Gombrich não define os limites de uso do termo “notação”, do inglês“notation”, parecendo-nos que este é utilizado no mesmo sentido que “marca” e “sinal”. O termo é usado aqui num sentido frouxo e alargado, distinto do rigor da linguagem técnica filosófica dos textos de Goodman, onde “notação” é reservado para as marcas em sistemas notacionais ou digitais. 13 Um espelho curvo, inventado no séc. XVIII, cuja superfície tinha determinada tonalidade de forma a reduzir a variedade cromática e lumínica visível a uma escala tonal limitada. 14 AI, pp. 30-33 15 Neste quadro, Constable introduz novos efeitos pictóricos, combinados com convenções já consolidadas, de forma a traduzir novas relações de luz e diferentes notações tonais. V. M. Modica, “Imitação”, em Enciclopédia Einaud- Criatividade-Visão, vol.25, ed. Port., coord. Fernando Gil, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, pp.11-47 16 Entendemos por “medium” o conjunto de materiais, instrumentos e técnicas utilizados num determinado suporte na realização de uma pintura, desenho, fotografia, etc.
15
fotografias podem ser entendidas como uma “mera transcrição da natureza”17. É precisamente do pintor John Constable a frase que serve de mote a Gombrich e precorre todo o texto de AI:
“ A pintura é uma ciência, e deve ser seguida como uma investigação acerca das leis da natureza. Porque não pode então a pintura de paisagens ser considerada um ramo da filosofia natural, da qual as pinturas são apenas experiências?”18
Na lógica da descoberta científica segundo Karl Popper, Gombrich encontra um paralelismo com a história das descobertas artísticas.19 Tal como o cientista parte de uma hipótese segundo a qual questiona e testa a Natureza, o artista faz tentativas de interpretação que se adequem à sua
percepção do mundo. Gombrich reformula a ideia de Constable considerando que o pintor se dirige não à natureza do mundo físico, mas à natureza das nossas reacções a este. O problema da representação pictórica que se coloca ao artista é de ordem psicológica e a sua tarefa a de produzir uma imagem convincente através de marcas, os tais criptogramas, que factualmente em nada correspondem à realidade.
Gombrich interroga-se quão inata pode ser esta capacidade de interpretar imagens, sabendo que esta actividade oferece dificuldades a indivíduos de tribos primitivas. A aprendizagem dum destes indivíduos, no sentido de adquirir esta capacidade, encontra um paralelo na dificuldade inicial e na subsequente adaptação que constatamos nós próprios quando confrontados com novos tipos de sinais na pintura. Gombrich não justifica este fenómeno, como Goodman o fará, com base no carácter absolutamente convencional da representação pictórica. A sua posição vem sobretudo colocar a ênfase no papel do sujeito-observador e a sua argumentação resulta da confluência multidisciplinar de que falámos.20
Em primeiro lugar, temos os argumentos que se referem ao mecanismo da visão: entre a sensibilidade da retina estimulada pela luz e a nossa consciência opera aquilo que os psicólogos da percepção visual chamam “constância”. A partir dos permanentes estímulos visuais dependentes das variações de luz e de movimento somos capazes de deduzir uma relativa estabilidade das
coisas à nossa volta, sem o que estariamos imersos num caos de impressões fugazes e irrepetíveis. Podemos verificar alterações de distância, ponto de vista, iluminação e outros dados visuais, mas é com razoável segurança que reconhecemos formas e cores, lugares e rostos familiares sob essas variáveis.
17 AI, p.30 18 Constable citado por Gombrich, idem, p. 29 19 idem, pp.271-3 20 Alguns autores, como Ellen B. Winner, designam a posição de Gombrich de “construtivista”; V. Ellen B. Winner, “What’s in a Picture?”, em Invented Worlds. The Psychology of the Arts, pp.81-111
16
“Sem esta faculdade tanto do homem como das bestas de reconhecer identidades através das variações de diferença, de permitir a mudança de condições, e de preservar o enquadramento de um mundo estável, a arte não poderia existir. […] De cada vez que encontramos um tipo não familiar de transposição, há um breve momento de choque e um período de ajustamento - mas é um ajustamento para o qual o mecanismo existe em nós.” 21
Em segundo lugar, temos o papel desempenhado pelas nossas expectativas na interpretação
dos criptogramas da arte. Familiarizados com determinado tipo de recursos, na pintura como na escultura, esperamos encontrar certos aspectos e negligenciamos outros. Não nos parece estranho, por exemplo, o corte de um busto para uma escultura em mármore e a sua ausência de cor, tal como a falta de cor numa fotografia a preto e branco. Gombrich utiliza aqui o conceito de “dispositivo mental”, que os psicólogos aplicam relativamente aos níveis de expectativa e observação na nossa experiência quotidiana, e estende-o à experiência da arte.22
Em suma, tanto a interpretação, ou decifração, dos criptogramas da arte como a aprendizagem ou adaptação a novas formas de notação é condicionada pelo mecanismo da visão e depende não somente dos nossos hábitos visuais, como das nossas expectativas relativamente a essa experiência. Pensamos encontrar no hábito e na expectativa a explicação para o que Gombrich chamou de obediência, que não é mais do que a interpretação sem resistência das formas de representação pictórica através de notações conhecidas ou habituais. Mas há ainda um outro aspecto a ter em conta neste processo e que Gombrich aborda no seu segundo capítulo de AI, “Truth and the Stereotype”.
Nalguns exemplos de xilogravuras topográficas que ilustravam as primeiras crónicas impressas, em finais do séc. XV, as diferentes cidades da Europa são representadas da mesma maneira, com a mesma configuração e composição, e apenas se podem distinguir pela presença de um ou outro atributo distintivo particular. É lícito supor que o seu autor nunca visitara qualquer uma destas urbes, tendo representado a que conhecia, uma cidade típica do norte da Europa, acrescentada de alguns elementos que lhe chegaram através de descrições orais ou escritas dessas outras paragens. Está fora de questão pensarmos que manteve o mesmo modelo por causa de imperativo ou preferência estética. O artista limitou-se a representar segundo o modelo de representação de cidade, que funciona como um estereótipo, de que dispunha. O seu ponto de
partida não resulta da observação directa ou das suas impressões visuais, mas duma ideia ou conceito, um modelo visual que lhe era familiar.
Quando, sobretudo a partir do séc.XVI, coube aos artistas a tarefa de representar animais e plantas que desconheciam, a partir das descrições feitas pelos primeiros visitantes de territórios até
21 AI, p.47 22 idem, p.53-54
17
então inexplorados, podemos verificar que os seus desenhos e gravuras, se bem que demonstrem uma imaginação esforçada, estão comprometidos com as figuras e modelos já existentes. A famosa
gravura de um rinoceronte de Dürer, supostamente registada ao vivo, representa um animal apenas com um chifre e cujo corpo está coberto por uma espécie de armadura parecida com a dos cavaleiros e presente em muitas representações medievais de dragões. Digamos que estas bestas desconhecidas foram interpretadas do mesmo modo como se fizeram as imagens de criaturas mitológicas, como uma colagem entre partes de figuras já conhecidas e representadas. O
Rinoceronte de Dürer pretendia retratar um rinoceronte asiático que efectivamente só tem um chifre, e cuja pele parece desenvolver-se em placas, mas esta representação condicionou as posteriores representações da variante africana deste animal, cujas características físicas são bastante diferentes.
Para Gombrich, estes exemplos demonstram a impossibilidade do conhecimento se basear no registo visual directo, inviabilizando a pretensão de objectividade. Estamos cativos dos nossos hábitos visuais e das tradições representacionais, mas essa ideia só aparentemente é limitadora. Tal como um escritor não pode escrever sem palavras, um compositor sem sons, também aquele que quer desenhar ou pintar necessita de um vocabulário.23 Este é entendido como esquema, um léxico composto por categorias visuais que pode ser ampliado e adaptado para servir novos objectivos. “A ‘will-to-form’ é antes uma ‘will-to-conform’, a assimilação de qualquer forma nova ao esquema e padrões que o artista aprendeu a dominar.”24
Embora Gombrich não clarifique estes processos nem os conceitos envolvidos, na sua argumentação atinge algumas conclusões que nos parecem fundamentais. Primeiro, que a capacidade de representar o mundo através de imagens depende da existência de um sistema desenvolvido de schemata;25 segundo, que a representação resulta mais de uma construção do que da imitação, não traduz fielmente uma experiência visual mas é a construção um modelo relacional; e, por último, que se toda a arte é então conceptual, e se “os conceitos, como as figuras, não são verdadeiros nem falsos”, então a arte não pode ser verdadeira nem falsa.26
Estas considerações são importantes para o estudo do nosso tema à luz das ideias de Ernst Gombrich. Não é sequer necessário recorrer às gravuras do séc. XV para compreender que os estereótipos visuais condicionam os nossos modos de representação. Se pedirmos a um conjunto de pessoas, crianças e adultos, para desenharem uma casa verificamos que todas elas desenham
23 AI, p. 75 24 idem, p.65 25 idem, p.76 26 V. idem, p.77. Infelizmente, em AI, Gombrich não desenvolve esta questão em que parece compartilhar do ponto de vista de Nelson Goodman.
18
uma moradia vista de frente, o seu alçado principal, com um telhado de duas águas, uma porta, uma ou duas janelas e, muitas vezes, até uma chaminé fumegante! O que é tanto mais curioso
quando sabemos que a maioria das pessoas reside numa zona urbana, num apartamento de um só piso num prédio com vários andares. Se lhes solicitássemos um desenho da sua própria casa seriam confrontadas com imensas dificuldades, uma vez que não estão tão familiarizadas com um modelo adequado de representação.
Mas talvez seja por enquanto prematuro concluir que a representação pictórica do espaço tem sido particularmente condicionada por estes esquemas e que a perspectiva artificial se instituiu como um dos mais duradouros e tenazes estereótipos. Deixaremos esta questão, por agora, adiada. Como veremos mais adiante o próprio Gombrich, ao mesmo tempo, alerta-nos contra os argumentos a favor da relatividade da visão e do convencionalismo. Os modelos representacionais são construídos sob uma determinada forma, em função do objectivo que servem e das necessidades da sociedade onde é comum a linguagem visual utilizada.27 É preciso que o artista disponha de um esquema para que seja capaz de se adaptar e ajustar a novas necessidades de representação, num processo activo marcado pelo que Gombrich chama de ritmo de esquema e correcção. A busca pelo naturalismo é descrita como uma acumulação gradual de correcções a partir desses esquemas em virtude do desenvolvimento das actividades humanas, das modificações da função da arte e da observação da natureza.
Os inúmeros manuais de desenho para artistas, e a primeira destas obras a ser impressa
data de 1538 e ainda hoje são editados novos livros de “Como desenhar…” destinados sobretudo a amadores, baseiam-se sempre nesse princípio de esquema e correcção. Ensinam a construir figuras e partes do corpo humano, do rosto, de animais e objectos com base em formas geométricas simples e, se bem que estes métodos tenham sido e continuem a ser criticados, podem ser efectivamente comparados a vocabulários da representação pictórica. Tal como os dicionários, estes livros fornecem modelos construtivos que referem o universal e não o particular, ensinam a desenhar o gato ou a cara de homem e não um gato ou a fisionomia de um homem em particular. Para o historiador de arte, estas obras, algumas sobejamente famosas e que serviram a prática didáctica das academias de Belas-Artes, têm uma inestimável utilidade, uma vez que resultam da convicção metafísica, presente até ao séc.XIX, de que o artista não se devia concentrar nos incidentes particulares da natureza mas naquilo que existia de universal, visando atingir um ideal.
27 idem, p.78
19
2. O papel do espectador: expectativa e projecção Vimos que, para Gombrich, o mundo visível é codificado pelo artista e transmitido ao
espectador através de um conjunto de sinais específicos da arte. Cabe ao espectador a tarefa final de interpretar esses sinais, os criptogramas de Churchill, para que possa compreender a mensagem do artista.
O processo que a psicologia chama “projecção”, a capacidade de atribuir figuras familiares a
manchas e formas abstractas como as nuvens ou os nós da madeira, tem sido utilizado pela moderna psiquiatria como instrumento de diagnóstico com as famosas manchas de Rorschach. Neste teste, o paciente é solicitado a interpretar as manchas de tinta informes, num acto que Gombrich chama de “classificação perceptual”.28 Independentente do significado psicológico do resultado obtido, quer seja uma borboleta ou um morcego, importa que somos capazes de evocar nessa mancha figuras que conhecemos e imaginamos.
A ideia de que a partir deste mecanismo de projecção podemos explicar as raízes da arte remonta ao pensamento de Leon Battista Alberti, expresso no seu tratado De Statua, onde este refere que a pretensão da arte em imitar as criações da natureza tem origem nas descobertas acidentais de figuras, semelhantes aos objectos naturais, num tronco de àrvore ou num bocado de terra. Também Leonardo de Vinci nos desafia a aguçar o ‘espírito da invenção’ nas manchas de uma velha parede, nas águas lamacentas e nas nuvens.29
Para Gombrich, este apelo à imaginação e participação do espectador, ao produzir uma impressão ilusória na sua mente, comprova que a arte em nada corresponde à realidade. Mas, sobretudo a partir do Renascimento, e os escritos de Leonardo, de Alberti e também de Vasari assim o justificam, os artistas parecem ter tomado em conta estes fenómenos e o apelo ao espectador tornou-se cada vez mais forte. 30
28 idem, p.155 29 idem, p.90 e 159 30 V. idem, p.161 e ss. Subinhamos que Gombrich afirma: “It is clear that an entirely new idea of art is taking shape here. It is an art which the painter’s skill in suggesting must be matched by the public’s skill in taking hints.”, p.165
20
Para melhor apreciar a pintura renascentista, o observador deve posicionar-se num ponto preciso em relação ao quadro de modo a percepcionar a cena representada em toda a sua
plenitude, e quando dizemos plenitude referimo-nos não apenas ao ponto de vista eleito pelo artista mas à produção do efeito máximo ilusionísta na representação pictórica do espaço. A partir daqui, e até aos nossos dias, o espectador é aconselhado a recuar perante o quadro mas também a aproximar-se, a admirar as pinceladas e os gestos do pintor e vê-las transformarem-se sob os seus olhos numa cena plausível. De facto, o aumento da distância em relação ao quadro, ao diminuir a capacidade de descriminação, activa no percipiente o mecanismo de projecção.31 O mesmo sucede na contemplação de uma paisagem em que o nosso olhar não consegue discernir com nitidez as formas, cores e texturas dos objectos mais longínquos.
No quadro Wivenhoe Park, de Constable, os elementos num plano mais afastado são tratados com muito pouco detalhe, em manchas de cor esbatidas, como de certo modo observamos numa paisagem. No entanto, na interpretação da pintura, imediatamente identificamos essas manchas como uma e outra árvore e uma casa com as suas janelas. Tal como fariamos perante um cenário natural, a nossa imaginação antecipa aquilo que efectivamente não vemos, e neste contexto o mecanismo da projecção funciona como parte da nossa percepção. A ideia de que as nossas expectativas perante uma imagem despertam e conduzem a capacidade projectiva, criando as condições para a ilusão visual, é a consequência mais importante da argumentação de Ernst Gombrich.
Gombrich defende a tese de que toda a representação pictórica se apoia até certo ponto no mecanismo de projecção. A natureza forçosamente incompleta de uma representação, limitada à bidimensionalidade do suporte e às características dos medium utilizados, deixa um vazio, uma brecha por preencher, onde o espectador pode projectar a imagem esperada. Um simples desenho de linha de contorno é suficiente para ilustrar este princípio, se assentarmos no facto de a própria linha de contorno ser uma arbitrariedade visual, ao definir um limite, como se existisse um arame suspenso entre a figura e o fundo. O famoso desenho de perfil do realizador Alfred Hitchcock é uma linha com uma simplícissima configuração, mas não nos deixa dúvidas quanto ao reconhecimento da figura. Apesar da ausência de detalhe e do reduzido teor descritivo e informativo, este desenho é da maior eficácia enquanto representação, mesmo como retrato.
31 A diminuição da capacidade de descriminação visual também contribui para o efeito ilusionista de uma determinada imagem, como é o caso dos trompe l’oeil em que o percipiente não consegue aperceber-se da materialidade da pintura. Como nos diz Arthur Danto, para a ilusão ocorrer, o observador não pode estar consciente das propriedades específicas do medium: “So the medium must, as it were, be invisible, and this requirement is perfectly symbolized by the plate of glass which is presumed transparent, something we cannot see but only see through…”, em The transfiguration of the commonplace: a philosophy of art, p.151
21
Gombrich vai um pouco mais longe ao analisar alguns princípios que participam neste processo de expectativa e projecção. Mantendo os exemplos de Wivenhoe Park e de uma paisagem
natural, vimos que a identificação dos objectos distantes resulta da capacidade de projectarmos essas figuras naquilo que vemos. Mas porque é que reconhecemos casas e árvores e não qualquer outra coisa? É fácil responder que é porque assim o esperávamos, mas devemos elaborar um pouco mais. A nossa expectativa é condicionada pelas experiêncas anteriores, conhecemos casas e árvores e estamos aptos a reconhecê-las numa paisagem a maior parte das vezes. Por outro lado, dentro da pintura de Constable, somos capazes de deduzir, a partir da relação com as árvores representadas com nitidez nos planos mais próximos da cena, as figuras das árvores ao longe, por um processo que Gombrich chama “princípio etc”.32 Este princípio consiste na tendência para assumir as características de todos os elementos de uma série a partir de alguns exemplos como se, por conhecermos três árvores, pudessemos dizer que conhecemos todas as árvores. O mesmo princípio opera no caso da sobreposição parcial de figuras, frequente na pintura medieval, onde o espectador tem de adivinhar ou inferir aquilo que está representado apenas a partir de um fragmento. Numa cena de batalha é comum vermos uma fileira de soldados nos primeiros planos e quando vemos sobrepostos, e num plano mais afastado, um conjunto emaranhado de lanças e topos de capacetes, deduzimos que se trata de mais figuras de soldados iguais aos primeiros.
Num esboço ou desenho preparatório, a representação fragmentada só é eficaz pela participação deste princípio, dentro do sistema dessa representação. Entendemos os estudos de
vários artistas, como o exemplo dos Estudos de Leonardo de Vinci (fig.2), não como registos literais de cabeças cortadas ou figuras de Nossa Senhora com vários braços e sem peito segurando o Menino Jesus, mas precisamente como esboços, incompletos por definição. Para Gombrich, não são apenas os referidos princípios de projecção que justificam este facto, mas a capacidade do espectador identificar e se identificar com a actividade do artista.
A cultura ocidental transmitiu-nos a ideia de que devemos interpretar as marcas pictóricas, no contexto da arte, também como sinais das intenções do artista. A relação é recíproca uma vez que, como temos visto, o artista está ciente e apela à participação do espectador. A reciprocidade entre o artista e o espectador encontra um paralelo no carácter ambivalente da representação pictórica e transborda para a experiência quotidiana. Se as pinturas de Van Gogh enfatizaram as texturas da paisagem natural e nos deram um mundo de massas de cor e linhas rodopiantes, para muitas pessoas os campos de trigo ondulantes e os altos ciprestes evocam a obra deste pintor.33
32 AI, p.184 33 idem, p.203
22
Gombrich estende e compara as suas considerações acerca do papel activo do percipiente na interpretação da representação pictórica a todas as actividades comunicativas. O que se passa
com a interpretação das imagens é constantemente posto em paralelo com a compreensão da mensagem oral. Em conversa com um familiar ou pessoa íntima muitas vezes antecipamos o conteúdo do seu discurso, o que nos leva a negligenciar o que de facto foi dito. Por este motivo é que, infelizmente, se geram malentendidos e equívocos. As nossas expectativas condicionam a compreensão das mensagens que recebemos e se esta capacidade nos é útil também conduz ao engano e à desilusão, tanto no caso da percepção auditiva como na percepção visual, o que sucede no caso das miragens e das ilusões de óptica. Felizmente para nós, a possibilidade do equívoco no caso das representações visuais não tem consequências graves, constituindo a maior parte das vezes um desafio lúdico à nossa perspicácia visual.34
A publicidade, para Gombrich, oferece uma excelente oportunidade de estudo, uma vez que visa precisamente as expectativas e a imaginação do público destinatário. Cientes da necessidade de reterem a atenção, os artistas gráficos recorreram a representações improváveis, a truques ilusionistas e a engenhosas soluções pictóricas nos cartazes publicitários, de modo a captar e prolongar o olhar do observador. Os métodos da publicidade têm em conta os mecanismos da expectativa e da projecção, tanto no design de inúmeros logotipos de marcas comerciais, como no exercício da sua aplicação em diferentes contextos e composições. A conhecida série de anúncios de imprensa da Vodka Absolut é um óptimo exemplo - a simples silhueta da garrafa é reconhecível
sob diversas aparências e tratamentos gráficos, recortada em diferentes cenários urbanos ou sugerida em paisagem naturais, na sombra de uma dançarina ou num instrumento musical.
Seja como for, aquilo que a publicidade conscientemente explora, estava presente, de forma consciente ou não, na actividade dos artistas e na contemplação do espectador muito tempo antes. O hábito, a formação cultural e as experiências visuais anteriores geram determinadas expectativas no observador perante uma representação. Esta expectativa traduz-se numa imagem antecipada, ou pré-imagem, que é projectada sobre a imagem observada e quando se obtem uma concordância entre ambas, o reconhecimento da figura é concretizado.
Sabemos agora de que modo o espectador participa na interpretação das imagens, e mais concretamente nas representações pictóricas, e que o seu papel é activo e instruído no sentido de elaborar criativamente a partir das sugestões do artista. Não esqueçamos que o artista é também 34 A autora deste texto presenciou o divulgado “caso da onda gigante”, ocorrido na costa algarvia no Verão de 1999. Por um qualquer fenómeno atmosférico formara-se no horizonte uma espessa neblina que, observada com atenção, dificilmente poderia ser confundida com uma onda, muito menos com uma onda gigante, uma vez que não aumentava de dimensão nem parecia deslocar-se. No entanto, as notícias na rádio alertando para essa possibilidade espalharam-se entre os veraneantes que, por sugestão, não só julgaram que viam uma onda gigante como especulavam acerca da sua altura e
23
um espectador, talvez um espectador sofisticado e particularmente atento, mas ainda assim um espectador de si próprio, do mundo que o rodeia e das representações que conhece. A hipótese de
Gombrich, de que que a interpretação e a leitura de uma imagem pode ser entendida como exercício acerca das suas possibilidades, como uma tentativa de correspondência de uma ideia ou pré-imagem, aplica-se tanto ao observador comum como à prática artística.35
No que diz respeito à percepção do espaço físico e visual sabemos também que, cada vez que olhamos a distância, comparamos a nossa expectativa, a nossa projecção, com a mensagem visual que recebemos. Gombrich considera que esta actividade se baseia no mesmo processo de esquema e correcção presente na percepção da representação e, do mesmo modo, raramente vemos um objecto à distância como uma aparência de significado incerto. No entanto, embora Gombrich reforce o paralelismo entre os dois processos, esta ideia oferece-nos algumas dúvidas. Parece-nos claro que projectamos as nossas expectativas no que percepcionamos perante uma paisagem e inferimos acerca daquilo que vemos com base nos nossos conhecimentos e por tentativas sucessivas de adaptação.
O caso do povo que tendo sempre vivido em pequenas clareiras no interior de densas florestas interpretava objectos distantes como objectos pequenos, esticando os dedos para tocar nos cumes das montanhas ao longe, porque não tinha a experiência de uma grande extensão espacial, parece confirmar a condição de familiaridade proposta por Gombrich.36 Mas aprender a ver à distância não é a mesma coisa que aprender um código desconhecido, ou será que quando
interpretamos manchas indefinidas numa paisagem estamos a decifrar criptogramas? É provável que na interpretação da representação pictórica do espaço os princípios
envolvidos na tarefa do espectador sejam mais evidentes e que as possibilidades visuais geradas por antecipação sejam de particular importância, pelo que nos concentraremos nesta questão no capítulo que se segue.
velocidade. Depressa se gerou o pânico e aquilo que podia ter sido apenas a observação de um fenómeno curioso veio a ter consequências tão dramáticas quanto hilariantes. 35 “We must always rely on guesses, on the assessment of probabilities, and on subsequent tests, and in this there is an even transition from the reading of the symbolic material to our reaction in real life.”, AI, p.189. 36 Este exemplo foi retirado de R.L. Gregory, Eye and Brain - The Psychology of Seeing, (1966), 1979, p.159.
24
3. A conquista do espaço Na Antiguidade Clássica os artistas dispunham de uma tipo de schemata a que chamaram
“canône”, e que consistia precisamente num vocabulário de relações geométricas básicas para a construção das figuras, como podemos apreciar no manuscrito de Vitrúvio onde são definidas, nomeadamente, as ordens arquitectónicas. A história da pintura grega, que conhecemos apenas pela cerâmica pintada, pelas descrições escritas e pelas cópias romanas, conta-nos a descoberta do escorço e a conquista do espaço no séc. V a.C. e da luz no séc.IV a.C..
Numa passagem de A República, Platão interroga-se se uma cama será um objecto diferente consoante o ponto de vista do observador ou se, pelo contrário, apenas parece diferente. O filósofo apreciara o esquema imutável da arte egípcia, que perpetuou ideias mais do que as fugazes e inconstantes aparências. Mas é em meados do séc. IV a.C., precisamente o tempo de Platão, que a arte grega se aproxima do apogeu, ao conseguir reunir a utilização do escorço com a modelação da forma através do domínio da luz e da sombra, de modo a produzir um efeito ilusionista.37 Este efeito, evidente na práctica de alterar as proporções das estátuas que encimavam os edifícios em função do ponto de vista do observador, que o próprio Platão denunciara, só é possível pela
consciência da importância da participação do espectador, que abordámos no ponto anterior. Gombrich refere o facto deste recurso escultórico revelar os elevados conhecimentos de Geometria e Óptica dos gregos, mas não o considera como um marco na conquista do espaço e prenúncio do uso da perspectiva, apesar de mencionar o uso de semelhante método na arquitectura como sucede no alçado principal do Parténon.38
Gombrich explica esta revolução grega, que surgiu após séculos de arcaísmo, colocando a hipótese de uma modificação da função da arte a partir da modificação gradual da ficção narrativa.39 Quando o poeta pôde interpretar mais livremente os mitos e as parábolas morais e enriquecer a
37 AI, p.107-8 38 idem, p.218 39 “when classical sculptors and painters discovered the character of Greek narration, they set up a chain reaction which transformed the methods of representing the human body - and indeed more than that.”, idem, p.110
25
narração dos feitos épicos, o artista visual agarrou para si a mesma possibilidade. Não será então por acaso que tenha sido na pintura de cenários teatrais que se tenham dado os primeiros passos
na perspectiva e na modelação lumínica, nos modos de representação pictórica que buscam o ilusionismo visual.
No entanto, e apesar dos artistas gregos terem sido verdadeiramente revolucionários ao introduzirem “modificações contínuas e sistemáticas da schemata da arte conceptual, até que o fazer foi substituído pela correspondência da realidade através da nova capacidade de mimesis.”, não se pode considerar que o seu repertório visual fosse mais rico do que o dos artistas egípcios, cretenses ou da Mesoptâmia.40 Nem tão pouco a modelação lumínica e a representação em escorço foram inventadas pelos gregos e temos um exemplo num baixo relevo egípcio do Reino Antigo, embora Gombrich considere que são sempre casos pontuais ou acidentais, que não romperam com as convenções dominantes, ao contrário do que veio a suceder na Antiguidade Clássica.
Mas o objectivo de Gombrich não é o de contar a história da conquista da representação pictórica do espaço, nem o de analisar os vários métodos de sugerir a tridimensionalidade nos diferentes estilos pictóricos. O seu propósito em relação a este problema é, na prossecução dos objectivos gerais que definiu para AI, o de avaliar qual a contribuição do espectador na compreensão da representação pictórica do espaço, papel este que no seu entender tem sido negligenciado ou mal interpretado em tudo aquilo que foi e tem sido escrito acerca da perspectiva e
da representação do espaço na arte. Quando Gombrich fala de perspectiva deduzimos que se refere à perspectiva linear, conhecida por perspectiva artificial para os renascentistas, tanto que considera que esta se baseia num facto da experiência, o de a nossa visão se exercer segundo linhas rectas. Este dado justifica a nossa incapacidade de “contornarmos esquinas com o olhar” estando limitados, se estivermos imóveis, a ver apenas um lado dos objectos e a vermos o aspecto dos objectos diminuir com a distância.
Na nossa experiência visual comum do espaço verificamos que quando olhamos a distância, as expectativas, o hábito e a necessidade compelem-nos a encontrar uma interpretação, apesar do facto de as imagens serem ambíguas e permitirem várias leituras. Vejamos o caso da lua, que podemos ver no céu quase todas as noites: sabemos que a lua é esférica mas normalmente tendemos a fazer uma leitura bidimensional e ver apenas a superfície iluminada como um plano, o que é evidente nos desenhos das crianças. Com um pouco de esforço, porém, apercebemo-nos do seu volume redondo e vemos a lua como um sólido parcialmente iluminado suspenso no céu. Mas
26
podemos ainda projectar imagens na sua luz ou nas suas sombras como as conhecidas caras da lua ou um velho carregando um molho de paus. O que é mais curioso é que quando temos uma
grande lua cheia dizemos “Olha, hoje a lua está tão grande!” quando realmente sabemos que esta não altera as suas dimensões. De qualquer modo, apesar de podermos ver a lua de diferentes maneiras não a podemos ver de todas estas maneiras ao mesmo tempo. Aprendemos, sim, a alternar de uma para outra interpretação, a conseguir obter uma ou mais leituras que se adequem à imagem de que dispomos, mas nunca percepcionamos na totalidade esta ambiguidade visual.
O fundamento para a ilusão41 na arte reside, para Gombrich, precisamente no carácter ambíguo inerente a todas as imagens. A perspectiva, entendida também como método para criar ilusão, depende desta ambiguidade.
A experiência conduzida por Adelbert Ames veio demonstrar que, observando diferentes apresentações de uma mesma cadeira através dum orifício com um só olho, reconhecemos como correcta aquela que, quando observada em condições normais, se revela como um conjunto de linhas traçadas num plano.42 Apesar de este facto ter sido demonstrado, de cada vez que o observador voltava a espreitar pelo orifício a ilusão de tridimensionalidade da cadeira mantinha-se teimosamente. Gombrich explica este fenómeno pela incapacidade do observador produzir uma outra interpretação plausível e adequada para aquela imagem, uma vez que aquela apresentação era a que lhe era familiar. O papel do observador, condicionado pelas suas experiências e expectativas, é o de dotar aquela imagem de linhas emaranhadas de uma interpretação com
sentido, pelo menos para ele, uma vez que teoricamente outras interpretações fariam sentido para outros indivíduos. Em suma, nem a consciência da ambiguidade evitou que o observador escapasse à ilusão.
A experiência referida utilizava cadeiras e é por demais óbvio que se o observador não as conhecesse a ilusão de uma cadeira não ocorreria. A ilusão na arte, como na experiência quotidiana, depende do reconhecimento, que é o mesmo que dizer que depende da familiaridade do percepiente com os objectos representados. É o nosso conhecimento que, insistimos, é feito das nossas experiências anteriores e das nossas expectativas, determina a interpretação das imagens, na arte como na vida. A perspectiva, enquanto modo de representação pictórica do espaço e dos
40 Não nos interessa explorar o conceito de “mimesis” e o próprio Gombrich alerta para o facto de confundirmos esta com a imitação da natureza: “Nature cannot be imitated or ‘transcribed’ without first being taken apart and put together again. This is not the work of imitation alone but rather of ceaseless experimentation.”, idem, p.121 41 Para Gombrich, a ideia de ilusão tem um significado mais amplo que o uso comum do termo, e refere-se à capacidade de as imagens evocarem figuras verosímeis e não necessariamente enganadoras. 42 Esta experiência é apresentada em AI, pp.209-211
27
objectos, produz um máximo de ilusionismo visual quando apoiada pelas expectativas e hábitos do observador.43
É o que sucede nas pinturas decorativas barrocas, célebres pelos seus trompe l’oeil de representações arquitectónicas, e na sugestão de profundidade, utilizada correntemente pelos pintores do Renascimento na representação de pavimentos quadriculados. O observador conhece e sabe que os azulejos ou mosaicos que formam o pavimento são unidades iguais e que o piso é plano, e então interpreta a diminuição progressiva dos mosaicos como recessão no espaço. “Aqui, como sempre, a impressão de profundidade é inteiramente devida ao nosso contributo, à nossa assunção, da qual raramente estamos cientes.”.44
A partir daqui poderiamos supôr que Gombrich se encaminha para a conclusão de que a perspectiva é um método de representação cujo carácter é absolutamente convencional. No entanto, os seus argumentos servem-lhe para afirmar a parte substancial que o contributo do observador tem na interpretação da representação perspéctica, assumindo que esta resulta duma teoria e dum método válidos que se baseiam em dados inegáveis acerca do mecanismo da visão.45 A perspectiva linear é entendida com um caso redutor e normativo do processo complexo de organização que está presente na percepção visual da tridimensionalidade. A perspectiva não tem a pretensão ingénua de representar o mundo como ele é, nem de se substituir ilusoriamente aos modelos tridimensionais, mas oferece-nos um modelo relacional bidimensional dos objectos de um determinado ponto de vista, a partir do qual podemos estabelecer relações tangíveis e mensuráveis
acerca dos objectos representados. “Nunca é demasiado insistir que a arte da perspectiva procura atingir uma equação correcta: quer que a imagem se pareça com o objecto e o objecto com a imagem. Tendo conseguido este propósito, faz a sua vénia e retira-se. Não pretende mostrar qual a aparência das coisas para nós, pois é difícil ver o que significa esta pretensão.”46
Quanto a este parágrafo, Goodman certamente objectaria, como se tornará claro mais para diante neste trabalho. Em quais aspectos dos objectos é que a perspectiva pretende conseguir uma imagem correcta, quando os objectos, pessoas, animais e lugares são e podem ser tantas coisas diferentes?
43 “It is not for nothing, therefore, that perspective creates its most compelling illusion where it can rely on certain ingrained expectations and assumptions on the part of the beholder.”, idem, p.221 44 idem, p.221 45 “Let us remember that the need for the beholder’s collaboration in the reading of perspective images, (…), does not contradict the contention that perspective is in fact a valid method of constructing images designed to create illusion.”, idem, p.211 46 idem, p.217
28
Mas, para Gombrich, a ideia de que a perspectiva pretende representar fielmente o espaço nunca esteve em causa, porque esta se limita à sua existência bidimensional. Segundo ele, ao
entender a perspectiva segundo esta pretensão, o ponto de vista convencionalista comete um erro de base, confundindo modelos relacionais com figuras bidimensionais. Na Parte III do presente trabalho iremos tratar mais atentamente as objecções de Ernst Gombrich à convencionalidade da representação perspéctica, que aqui começa a revelar. A perspectiva aplica um conjunto de regras geométricas e matemáticas mas, longe de ser um código arbitrário, provoca um efeito psicológico real no espectador. Por agora ficaremos um pouco mais nesse momento em que a perspectiva “faz uma vénia” e se retira, para dar entrada em cena ao espectador.
Voltemos então ao caso do pavimento de mosaicos pintado. A impressão de profundidade, que Gombrich justifica como dependente do conhecimento do espectador, para algumas escolas de psicologia como a do Gestalt, de que Rudolf Arnheim é o protagonista, baseia-se numa predisposição inata do nosso cérebro, logo universal, para interpretar de determinada forma as mensagens visuais. O princípio de simplicidade da teoria do Gestalt postula que perante uma representação ambígua, quer esta seja desconhecida, complexa, ou desiquilibrada, a nossa mente tende a fazer uma leitura assente na simplicidade e coesão geométricas.47 Se bem que este princípio se verifique operativo para o caso de algumas representações mais simples, para Gombrich a sua aplicação é limitada. Basta recordar as árvores distantes da pintura Wivenhoe Park e ver que, quando as reconhecemos como tal, não interpretamos as manchas como formas
simples, mas deduzimos a sua estrutura complexa a partir da representação das árvores mais próximas.48
É certo que o princípio da simplicidade não permite explicar a ilusão da profundidade na representação pictórica, mas Gombrich aceita a ideia dos gestaltistas de que este princípio não pode ser adquirido. Como dispositivo inato, o princípio da simplicidade constitui a condição base a partir da qual se constrói a nossa aprendizagem. Uma vez que, como vimos, tanto a percepção como a representação se baseiam no ritmo de esquema e correcção, o princípio da simplicidade dota-nos dum esquema primordial que pode ser adaptado e modificado segundo a nossa actividade e as nossas experiências. É a partir deste esquema inicial e provisório que elaboramos, no sentido de interpretar, os inúmeros estímulos sensoriais que recebemos do mundo à nossa volta. Como iremos ver, Goodman oferece-nos sobre esta questão uma opinião só à primeira vista semelhante. Em WW, o filósofo afirma que não podemos fazer mundos a partir do nada e que partimos de um
47 V. Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception. The New Version, (1954) 48 Winner posiciona-se perante esta questão considerando que “…both knowledge and simplicity by themselves can suceed in achieving a correct pictorial reading. (…) Simplicity is a more powerful principle for explaining depth perception, while knowledge is usually more helpful in explaining object identification.”, v. ob.cit., p.104
29
‘material’ já existente, que não é algo de inato ou primordial mas sim feito de representações e descrições anteriores a nós que conhecemos e experimentámos.
Mas vamos concentrar-nos agora no texto de Gombrich. Este considera que não é apenas a linearidade visual que nos informa acerca da tridimensionalidade, mas também a percepção da luz e da sombra e as sensações tácteis, que nos dão a experiência das texturas. Estes dados constituem chaves fundamentais para a interpretação do espaço que nos rodeia e foram explorados na representação pictórica da profundidade espacial, do volume e massa dos objectos e, na linguagem específica do Desenho, são designados como os “atributos visuais da forma”. Gombrich refere os estudos de Gibson em Perception of the Visual World o qual demonstrou que as texturas das superfícies são assumidas como constantes e, tal como os mosaicos dos pavimentos pintados, quando aplicadas em densidade gradual têm um efeito de recessão perspéctica.49
No caso da textura também as nossas experiências anteriores determinam a interpretação, caso contrário como poderiamos reconhecer numa pintura um campo de trigo ondulando ao vento se nunca tivessemos visto um? Algumas pessoas, quando viram pela primeira vez o mar, manifestaram a sua supresa por este não ser vertical como um muro porque só conheciam representações e fotografias. Nestas, as variações de texturas da superfície marítima eram interpretadas como irregularidades de um plano frontal e não como um dado visual acerca da profundidade.50
Precisamente, como Gombrich assegura, estes dados visuais e tácteis são subsidiários do
teste do movimento, o que nos permite conferir ou completar o conteúdo da nossa informação visual. É precisamente a capacidade de mexermos os olhos, a cabeça e de nos deslocarmos que desfaz a ilusão visual mais perfeita, o trompe l’oeil mais engenhoso.
A luz e a sombra, que nos informam acerca da massa e do volume dos objectos mas também da sua posição relativa no espaço, é outro dos recursos para a sugestão da profundidade na representação pictórica. A determinação da sombra própria e projectada dos objectos,51 dada a natureza imaterial e mutável da luz e a dificuldade de reproduzir em estúdio as condições de iluminação naturais, foi objecto de diversas interpretações por parte dos pintores renascentistas. O modelo rigoroso que a perspectiva linear oferecia para a representação dos pontos e linhas do espaço no plano não era suficientemente exacto para a representação das sombras. No entanto, a sua aplicação na pintura, seguindo critérios mais ou menos intuitívos como a iluminação a 45º ou o sfumato de Leonardo, serviu sobretudo para minimizar a ambiguidade da representação e reforçar
49 v. AI, p.232 50 Este caso é descrito por Lawrence Wright, Perspective in perspective, (1983), 1985, p.33 51 Sobre o problema da representação das sombras projectadas Gombrich escreveu o pequeno e belíssimo texto Shadows - The depiction of cast shadows in Western Art, London, National Gallery Publications, 1995, 64 pp.
30
determinada leitura da imagem. Do mesmo modo foi manipulada para obter o efeito oposto, como sucede nos mosaicos romanos representando cubos reversíveis, que ora parecem sólidos
iluminados por um lado como concavidades cúbicas iluminadas do lado contrário. Seja como for, e nas palavras do próprio Gombrich, nem “a invenção da perspectiva nem o
desenvolvimento do sombreado por si só são suficientes para criar uma imagem não ambígua e facilmente legível do mundo visual.”52 Esta só se completa, de forma tão eficaz e clara quanto possivel, como vimos, com o contributo do espectador. As dificuldades demonstradas por indivíduos com diferentes hábitos e experiências culturais torna evidente que a interpretação das imagens, longe de ser imediata e inequívoca, depende destes factores. Até aqui estamos de acordo, mas não podemos simpatizar com a explicação de Gombrich quando este, a partir do exemplo de um japonês que não conseguia ver a figura de uma caixa em perspectiva, diz que este demonstra que “se uma pessoa é ignorante acerca da lei da natureza, uma coisa bem correcta pode parecer-lhe bastante errada.”53
Não estar familiarizado com a representação perspéctica significa então ignorância e ingenuidade visual? E podemos daqui concluir que Gombrich compreende a perspectiva como uma “lei da natureza”? Se lêssemos apenas este parágrafo de AI diríamos que sim, mas a resposta não pode ser imediata. Esta frase revela uma das várias contradições da argumentação de Gombrich e ilustra a oscilações da sua posição, a que fizemos menção no início desta Parte, face ao problema da representação pictórica. Na Parte III do nosso trabalho iremos examinar outras questões
levantadas com a leitura dos textos de Gombrich. Por enquanto aceitamos que esta frase, apesar de deselegante e infeliz, se refere à condição necessária do reconhecimento e familiaridade para que se efective a ilusão na representação pictórica, condição partilhada pela perspectiva. Esta exige certamente uma perícia perceptiva difícil de adquirir, e é nesta dificuldade que Gombrich apoia a sua justificação para o fenómeno do “paradoxo das colunas”, colocado por Piero della Francesca e Leonardo de Vinci, que também abordaremos na Parte III deste trabalho.54
O facto é que, independentemente do grau de perícia, reconhecer a profundidade em termos de perspectiva é incompatível com a leitura simultânea do plano do suporte pictórico, resultante da natureza intrinsecamente ambígua da perspectiva e de toda a representação. Perscrutando a superfície bidimensional de uma pintura o nosso olhar irrequieto procura uma interpretação que lhe sirva até que o reconhecimento da representação irrompa.
52 AI, p.227 53 ibidem 54 O problema do “paradoxo das colunas" é abordado em AI, pp.215-217.
32
“…human kind
Cannot bear very much reality.”
T.S. Eliot, “Burnt Norton”
No Livro X de A República de Platão, Sócrates descreve o artífice como aquele que pode
fazer todas as plantas e animais e todas as coisas da terra e do céu. Perante a incredulidade do seu interlocutor, explica que qualquer um de nós pode ser esse artífice se tiver um espelho que reflicta todas as coisas em seu redor. Sócrates acrescenta que os pintores são como este artífice e as suas pinturas são imagens reflectidas dos objectos. A pintura é, portanto, um processo de imitação ou mimesis ,55 mesmo que limitada à aparência dos objectos.
As ideias de Platão acerca da pintura são bem conhecidas e justificam a exclusão do artista mimético do seu Estado ideal, uma vez que este nos seduz e tenta, com meras aparências, a confundir as imagens com a realidade. Esta posição foi e tem sido desprezada por muitos
pensadores e artistas, mas é inegável que a imitação pictórica desde logo constituiu a fonte e o objectivo da tradição pictórica ocidental, sobretudo a partir do Renascimento, como critério de realismo.
As teorias de Goodman da representação pictórica expressas em Languages of Art partem de uma recusa radical deste ponto de vista. Este livro, como o conjunto de toda a sua obra, é atravessado pela ideia de que nenhuma das nossas actividades resulta do reflexo da Natureza num espelho que seguramos diante dela, que nenhuma das coisas do mundo à nossa volta está disponível e quieto, esperando por nós.
Para o nosso estudo interessa sublinhar que o problema da representação figurativa de que
nos ocupamos se situa na intersecção de duas teorias centrais de Goodman: a teoria dos sistemas
simbólicos que analisa as propriedades de todos os sistemas, dentro e fora do domínio da arte, permite caracterizar os sistemas representacionais por oposição aos sistemas linguísticos e aos
55 O conceito de mimesis tem um significado mais amplo que o termo “imitação”, e tanto a sua tradução como a sua interpretação é algo controversa, pelo que não nos ocuparemos deste problema.
33
notacionais; e a teoria do funcionamento estético que permite especificar o estético por oposição ao não-estético e, assim, distinguir, dentro dos sistemas representacionais, as pinturas figurativas dos
diagramas, mapas e modelos. Por este motivo, é absolutamente necessário abordar de forma sumária os aspectos mais
importantes destas teorias, embora uma discussão exaustiva e profunda não possa ter, por razões de economia, cabimento no nosso trabalho.
34
1. A Construção da Realidade e a Simbolização
O historiador de arte H. Wölfflin começa o seu célebre texto Principles of Art History com a descrição do seguinte episódio, relatado por Gombrich: o ilustrador Ludwig Richter, quando jovem, mais três outros pintores seus amigos decidem pintar cada um a mesma paisagem com o objectivo de traduzir o mais fielmente possível aquilo que viam. Os quatro jovens pintores tinham uma formação artística comum, possuíam o mesmo nível de habilidade técnica e idênticas capacidades representacionais. No entanto, e apesar do tema ser o mesmo, o resultado foram quatro pinturas tão diferentes entre si como as fisionomias dos quatro amigos. Todas as pinturas se assemelhavam à paisagem, mas nenhuma das pinturas se parecia com as outras.56
Desconhecemos se esta história é ou não verídica, mas isso não importa para o caso. Mesmo que não passe de uma anedota inventada aceitamo-la como verosímil porque é provável que o resultado fosse de facto este. O problema que a história de Wölfflin nos coloca é o de saber porque é que as pinturas são tão diferentes e se é que alguma delas seria mais bem sucedida enquanto representação da natureza. Somos desde já tentados a dizer que não. Os artistas concordaram em pintar exactamente aquilo que viam mas será que viram as mesmas coisas na mesma paisagem? Aquilo que no mundo visível prendeu a atenção de cada um deles ficou registado na pintura e isto poderia explicar a diversidade de versões pictóricas da mesma cena.
O mesmo sucede com frequência na nossa experiência quotidiana quando alguém nos descreve algo que outra pessoa nos contara de forma totalmente diferente, ou quando lemos dois artigos de jornal acerca do mesmo acontecimento. Naquilo que é trivial e corriqueiro como na arte descobrimos a mesma pluralidade de visões e versões, escritas, desenhadas ou relatadas.
No âmbito do pensamento de Nelson Goodman todas as versões, concepções e visões, como as quatro pinturas da mesma paisagem, são versões-de-mundos. Se pensarmos nas diferentes visões dos jovens pintores podemos dizer que cada um deles individualizou e elegeu
56 AI, pp.55-8
35
diferentemente os objectos da mesma paisagem e, nesse sentido, podemos dizer que cada pintura construiu uma versão diferente da natureza.57 Apesar de ser inútil considerar uma realidade ou um
único mundo independente e exterior às versões que lhe correspondem, uma vez que não podemos experimentar e conhecer todas as propriedades dos objectos, temos a possibilidade de os descrever, representar, classificar e organizar segundo a nossa necessidade e com os meios ao nosso alcance. Os instrumentos de que dispômos para o fazer são os sons, as palavras, as linhas e as cores ou quaisquer outros símbolos que temos à mão na vida diária. Goodman diz-nos que, sem estes instrumentos, não teríamos um mundo, pelo menos seria algo de absolutamente informe, intocável e inacessível.58
Se não podemos “fazer mundos” a partir dos objectos e da matéria do mundo, que são produto dessas construções, como o fazemos e a partir de quê? 59 De acordo com Goodman, a partir de outros mundos, de outras versões que já conhecemos. Construir mundos é reconstruir, o fazer é sempre um refazer.60
As versões-de-mundo são entendidas como sistemas de símbolos61 que resultam da classificação e organização do seu domínio, o seu campo de referentes, i.e., dos objectos escolhidos e referidos do mundo. As características das diferentes versões não dependem das coisas ou do tipo de coisas que existem nesse campo, mas sim das categorias e dos critérios que decidimos, motivados pelos nossos interesses e pelos objectivos que marcámos.
As ideias que temos aflorado constituem o que é designado como a concepção construtivista e pluralista62 do pensamento de Nelson Goodman e que se encontra exposta, de forma mais intensa e concentrada, em Ways of Worldmaking. Devemos sublinhar que os aspectos epistemológicos da sua filosofia são um assunto demasiado complexo e polémico no qual não nos consideramos habilitados para entrar, tanto mais que ultrapassam o âmbito deste trabalho. No entanto, o construtivismo e pluralismo, que constituem uma opção epistemológico-metafísica fundamental em Goodman, são decisivos para justificar a tese da convencionalidade na representação pictórica, como pretendemos demonstrar ao longo destas páginas.
57 “That nature imitates art is tootimid a dictum. Nature is a product of art and discourse.”, LA p.33 58 “We can have words without a world but no world without words or other symbols.”, WW, p.6 59 Em WW, pp.7-17, Goodman refere alguns processos de “fazer mundos”, nomeadamente, 1) Composição e Decomposição; 2) Pesagem; 3) Ordem; 4) Enfatismo e Exclusão; e 5) Deformação. 60 WW, p.6 e 97 61 Um sistema é um conjunto de símbolos aplicado a um conjunto de referentes, o campo de referência ou domínio. A composição de um sistema determina que elementos fazem parte do esquema e do campo de referência, e a sua estrutura determina a forma e o tipo de relação entre símbolos e referentes. Consoante as suas propriedades sintácticas e semânticas os sistemas pertencem a um dos três tipos: sistemas linguísticos, sistemas representacionais e sistemas notacionais. 62 V. Mª Carmo d’Orey, A Exemplificação na Filosofia da Arte de Nelson Goodman, 1992, pp.503-528
36
Entendemos que o pluralismo de Goodman não poderia compreender uma hierarquia de versões-de-mundos; seria o mesmo que dizer que estas seriam variantes de um mesmo e único
mundo ou que umas estavam mais próximas do mundo tal como ele é. O que seria a mesma coisa que dizer que existe apenas um mundo e que este só poderia ser passivo e imutável. As diversas versões-de-mundo podem ser correctas ou incorrectas em relação a determinado quadro de referência, mas não podem ser reconduzidas a uma versão única e singular, com o risco de ser considerada a única verdade acerca de um mundo único.63 É esse precisamente o perigo de uma interpretação literalista da representação pictórica, que pretende defender a validade única e absoluta da ‘versão’ pictórica da perspectiva acerca do espaço.
Como teremos a oportunidade de ver, Goodman opõe-se veementemente a esta ideia, mas não chega ao extremo oposto de afirmar a validade universal de toda e qualquer versão-do-mundo. Uma vez que as diferentes versões são construidas para servir diferentes objectivos, Goodman verifica a necessidade de existirem critérios de aceitabilidade. O critério da verdade é considerado insuficiente por se aplicar apenas às versões verbais na sua forma assertiva e/ou às versões literais. Para as representações não-verbais a verdade é irrelevante e não podemos falar de figuras ou predicados como sendo ou não verdadeiros. A verdade integra-se antes no critério geral que devemos adoptar, o da correcção.64 Conforme os sistemas a que se aplica, o critério de correcção assume diversas formas, sob a característica comum do ajustamento ou correcção de
ajustamento.65
Todos estes aspectos da organização do(s) mundo(s) são relativos ao problema do conhecimento. A revelação, descoberta ou invenção de novos aspectos no mundo, através das diferentes versões, produz um alargamento do campo do conhecimento. “Este crescimento no conhecimento não resulta da formação ou fixação ou crenças mas do avanço da compreensão.”66
A concepção epistemológica de Goodman é assim entendida, não como uma teoria do conhecimento, no sentido utilizado na filosofia contemporânea, mas como uma filosofia da compreensão.67 Embora a noção geral de compreensão esteja esboçada por Goodman e Elgin, em RP, não nos oferecem uma teoria completa. A compreensão é entendida como uma faculdade que
63 “We are not speaking in terms of multiple possible alternatives to a single actual world but of multiple actual worlds.”, WW, p.2 64 Este conceito é introduzido em LA sob a designação de “appropiateness”, mas desenvolvido em WW e RP sob o termo “rightness”, que traduzimos por “correcção”. 65 Tradução do inglês “rightness of fit”; “...a statement is true, and a description or representation right, for a world it fits. And a fictional version, verbal or pictorial, may if metaphorically construed fit and be right for a world. Rather than attempting to subsume descriptive and representational rightness under truth, we shall do better, I think, to subsume truth along with these under the general notion of rightness of fit.”, WW, p.132 66 idem, p.22 67 O termo “compreensão”, do inglês “understanding”, é aqui entendido quase no sentido wittgensteiniano de “now I can go on”.
37
abrange todas as nossas capacidades de investigar e inventar, o processo cognitivo através do qual construímos mundos sob todas as formas e o resultado obtido por essas construções.68
Uma das consequências fulcrais desta concepção é a abolição da dicotomia tradicional entre arte e ciência. A arte e a ciência partilham da mesma possibilidade de criar e aplicar sistemas de símbolos e, quando os sistemas se verificam correctos, ambas são actividades cognitivas que resultam na produção de conhecimento. Conhecer o mundo é então construir versões-de-mundo correctas. A frase de Constable, que serve de mote a Gombrich em AI, que “A pintura é uma ciência…da qual as pinturas são apenas experiências.”, por testarem e demonstrarem novas e diferentes versões do mundo e dos seus objectos, ilustra esta relação próxima entre a arte e a ciência.69
A diferença entre arte e ciência não pode ser definida em critérios como a universalidade e a subjectividade, o conteúdo emocional e o conteúdo congnitivo, a verdade ou a crença, como o compreendem as concepções tradicionais. Para Goodman a diferença fundamental consiste nos diferentes processos simbólicos utilizados.70 Enquanto que as versões-de-mundos na ciência são, sobretudo, versões denotativas, verbais e literais, na arte resultam, na sua maioria, de processos não literais, como a metáfora, não denotativos, como a exemplificação, e não verbais, como a representação figurativa.
1.1. A teoria simbólica da arte No ponto anterior pretendemos mostrar sumariamente que a ideia de que a arte é uma forma
de conhecimento é uma consequência da teoria epistemológica de Goodman. Aceitar o construtivismo, o pluralismo e o relativismo das obras de arte à partida não oferece dificuldades, se admitirmos que as diferentes manifestações artísticas nos transportam diferentes realidades que, como o demonstra uma visita panorâmica pelos diferentes estilos e períodos da história da arte, podem ser igualmente correctas e válidas.
É certo que a relação que estabelecemos com os produtos da arte e a que temos com os da ciência tem um carácter diferente. Podemos compreender os princípios da “Teoria da Relatividade” a partir do texto original de Einstein, de uma resumida ‘sebenta’ escolar ou pela explicação oral de
68 Cf. d’Orey, ob.cit., passim 69 LA, p.33 70 idem, pp.242-245
38
uma outra pessoa. Sem prejuízo do seu conteúdo informativo essencial, uma teoria científica pode ser apresentada por diferentes meios, enunciada em formulações verbais ou reduzida a equações
matemáticas. O mesmo não se passa com as obras de arte. Por mais rico que seja o nosso vocabulário, mais eloquente a nossa verve ou maior o nosso poder de síntese, jamais conseguiremos explicar a alguém O Milagre da Ponte do Rialto de Carpaccio, resumir em breves frases Em busca do Tempo Perdido de Proust ou descrever uma sinfonia de Mahler. As obras de arte exigem um contacto directo e pessoal para serem apreendidas na totalidade.
Mas cada obra de arte pode ter um alcançe universal tal como as teorias científicas. A diferença consiste, como dissemos, nos processos de simbolização empregues. O sentido em que devemos compreender cada obra de arte é relativo à forma e meios que utiliza para transmitir o seu tema ou assunto, para lá do seu teor informativo. A cada obra de arte corresponde um como diferente, mesmo que o que procuram transmitir seja o mesmo, como na história dos nossos quatro pintores, e que é irredutível a outra forma qualquer e insubstituível por quaisquer outros meios. 71
Mas, no âmbito da filosofia de Nelson Goodman, quando falamos de obras de arte falamos de quê? Em primeiro lugar há que distinguir o uso classificativo do uso valorizativo das noções de “arte” e “obra de arte”: o primeiro sentido de uso refere-se à classe, categoria ou família a que o objecto pertence e o segundo ao valor ou mérito artístico que é atribuido a um objecto. A investigação conduzida por Goodman acerca da natureza da arte concentra-se no uso classificativo, tanto que este filósofo não está especialmente interessado no valor particular das obras de arte. O critério de
valor para a arte é partilhado por todas as outras formas de simbolização e avaliado a partir da satisfação dos seus objectivos, que se revela sempre, e como vimos, no avanço da compreensão. Posta de parte a questão do valor que, de qualquer forma não poderia caber nos objectivos deste nosso estudo, resta agora compreender como e segundo que critérios é que classificamos os objectos como obras de arte. Sabemos que a arte é um sistema simbólico, logo, as obras de arte são os símbolos que integram esse sistema. A função simbólica é uma propriedade que está presente em todas as manifestações artísticas e que constitui por isso uma condição necessária para a arte. Este funcionamento é desempenhado pelas obras de arte, sob diversas formas, a saber, a representação, a alusão, a exemplificação, literal ou metafórica, e a expressão. 72
Para que um símbolo seja uma obra de arte tem de estar a funcionar esteticamente, i.e., tem de ser um símbolo estético. Mas o que é que dota um símbolo da capacidade de ser um símbolo estético?
71 Embora utilizando outros exemplos, nestes parágrafos seguimos de perto o texto de MªCarmo d’Orey, ob.cit., p.558. 72 WW, p.66-67
39
Se, para Goodman, as propriedades dos símbolos são contingentes, relativas e dependem da estrutura dos sistemas em que se integram, e o símbolo estético não pode ser definido em termos
de quaisquer características internas e imutáveis. O estatuto de uma obra de arte é também contingente e depende do seu funcionamento simbólico particular, o funcionamento estético. Um qualquer objecto vulgar, como o demonstraram os “ready-made” de Marcel Duchamp, podem estar a funcionar esteticamente, donde a noção de objecto estético se funde e confunde com a de obra de arte. A questão que colocámos reformula-se então, não em termos de quais as características específicas dos símbolos ou objectos estéticos, mas de quais as características específicas desse funcionamento tão particular.
A estas características Goodman chama sintomas do estético,73 entendidas não como condições necessárias e suficientes para a experiência estética nem como critérios de excelência,74 mas como sinais que indiciam, sem no entanto obrigarem, a probabilidade do estético.75 Estas características são a densidade sintáctica, a densidade semântica, a saturação relativa, a exemplificação e a referência múltipla e complexa. Não nos interessa neste momento explorar estes aspectos que, oportuna e pontualmente, terão de ser considerados neste texto..
Apesar dos sintomas não constituirem condições necessárias nem suficientes, no seu conjunto ou individualmente, para que haja funcionamento estético, partilhamos da opinião particular de Mª Carmo d’Orey que considera a exemplificação como uma condição necessária (mas não suficiente) para que um objecto esteja a funcionar como obra de arte, se bem que não para que seja
uma obra de arte. É importante esta distinção entre funcionar e ser uma obra de arte: um objecto funciona esteticamente quando exibe todos ou alguns dos sintomas mas, quando esse é o seu funcionamento normal e estável, dizemos que é uma obra de arte. O que é interessante questionar é quando é que um objecto está a funcionar esteticamente. 76
É o que se passa no caso dos “ready-made” e dos “objects trouvés”. Imaginemos que um bocado de madeira, um destroço à deriva, é encontrado à beira-mar por um artista e levado para uma galeria de arte onde é exibido na sua exposição, sob um título qualquer. Quando termina a exposição o pedaço de madeira é devolvido à praia onde fora encontrado. Enquanto esteve na galeria este objecto funcionou como objecto estético, mas abandonado na areia perdeu esse
73 O termo “sintoma” é geralmente utilizado na linguagem médica e permite fazer o diagnóstico de um doente. As condições do uso deste termo são úteis para compreender o sentido empregue por Goodman para o domínio do estético: um indivíduo pode manifestar determinados sintomas sem no entanto sofrer da doença correspondente, tal como pode estar realmente doente sem que se verifiquem alguns dos sintomas típicos. Para melhor compreender esta noção em Goodman v. LA, p.252-255. 74 Os sintomas servem para caracterizar um símbolo como estético, mas não como esteticamente bom, i.e., não constituem critérios de valor estético, v. idem, p.255. 75 WW, p.68 76 Cf. idem, p.69-70
40
funcionamento especial. Em suma, o funcionamento estético deste objecto foi transitório e efémero. Mas se, por hipótese, tivesse sido adquirido por um museu ou um colecionador continuaria a
funcionar esteticamente. É o que se passa com o famoso urinol de Duchamp, conhecido como A
Fonte. Como com estes objectos, o estatuto de uma linha como letra manuscrita, como um mapa
esquemático, como registo de um sismógrafo ou como desenho depende do seu funcionamento simbólico. E é considerado como obra de arte desde que funcione como símbolo estético, podendo funcionar esteticamente umas vezes e outras não.77 Esta situação reporta-se aos aspectos que distinguem a representação pictórica da representação diagramática que mais adiante veremos. Mas, e uma vez que o nosso estudo diz respeito à representação pictórica, importa desde já referir os motivos pelos quais a representação não constitui um sintoma do estético, sendo preterida em favor da exemplificação.
Partimos mais uma vez do exemplo oferecido por Carmo d’Orey:78 considerando as fotografias do bombardeamento da vila de Guernica publicadas nos jornais e o famoso quadro de Picasso nestas inspirado, verificamos que ambas denotam o mesmo acontecimento e partilham alguns aspectos formais, como a ausência de cor. No entanto, servem objectivos diferentes e fornecem informações diversas acerca daquilo que denotam. Se modificássemos as dimensões e as tonalidades das fotografias em nada alteraríamos o seu conteúdo, mas o mesmo não aconteceria com o quadro Guernica. Não seria mais aquele que conhecemos mas sim já uma outra pintura, com
outras propriedades simbólicas e estéticas. As fotografias apenas possuem as propriedades que denotam o seu assunto, enquanto que a pintura, além de denotar o seu tema, exemplifica todos os aspectos plásticos e formais que possui e proporciona-nos uma visão crítica, emocional e psicológica, sobre aquele acontecimento.
É necessário apresentar em breves traços as duas formas básicas de referência que temos vindo a mencionar, consideradas por Goodman e que são a denotação e a exemplificação, embora mais adiante estas mereçam especial atenção. A denotação é a aplicação de um símbolo (palavra, figura, gesto ou som) a um objecto, e a exemplificação é quando um objecto a funcionar como símbolo refere as propriedades que possui.79
O que importa nas fotografias é o que é representado, enquanto que na pintura é não só o que é representado mas, e muitas vezes sobretudo, o como é representado. É a exemplificação que permite neste caso distinguir uma pintura artística de uma fotografia. Como iremos ver mais à frente,
77 Cf. Catherine Elgin, “Goodman, Nelson”, em Cooper, ob.cit., pp.175-177 78 V. d’Orey, ob.cit., p.216-7 79 Símbolo e referência são introduzidos como termos primitivos não definidos.
41
as obras de arte, pelo menos as pinturas figurativas, acumulam a representação figurativa com a exemplificação e a expressão.80 Mas nem todas as representações, figurativas ou não,
exemplificam ou exprimem e são obras de arte. Por este motivo Goodman não considera a representação como um sintoma do estético, apesar de esta não ser necessariamente e sempre não estética. 81 Considerámos importante a clarificação deste aspecto neste momento, apesar de a caracterização dos conceitos de exemplificação e expressão e a forma como se relacionam com a representação, por contraste com a denotação, serem abordados mais cuidadosamente no capítulo dedicado à representação.
Uma das vantagens da teoria simbólica da arte de Goodman é que não é subjectivista. Embora um objecto possa funcionar ou não esteticamente conforme as circunstâncias e ser uma obra de arte para algumas pessoas e não para outras, isso não depende do estado emocional ou psicológico do sujeito, como o pretendiam os teóricos da atitude estética e da experiência estética. O que um objecto simboliza e como o simboliza depende das suas propriedades e é relativo ao contexto em que se integra; é uma obra de arte se estiver a funcionar como símbolo estético dentro do sistema simbólico que é a arte.
1.2. Palavras e Figuras A grande obra de Nelson Goodman sobre a teoria dos símbolos é LA e o próprio título parece
sugerir que a linguagem fornece o modelo para todos os sistemas simbólicos, até mesmo os pictóricos. Recordemos que o próprio Gombrich em AI defendeu com intensidade a possibilidade de uma linguagem da representação pictórica. Mais adiante veremos que não é esse exactamente o objectivo de Goodman, apesar de reconhecer o contributo daqueles filósofos que são considerados como a primeira e segunda geração de semióticos e da teoria simbólica neo-Kantiana82 - Peirce, Cassirer, Morris e Langer - em LA evita deliberadamente expôr sua divergência com estes autores com o argumento de que tal o distrairia do seu principal propósito de construir uma teoria geral dos símbolos.
A relação entre as diversas teorias da simbolização é complexa e a sua análise não está compreendida nos objectivos deste trabalho. Devemos, no entanto, considerar brevemente o
80 A expressão está compreendida dentro da exemplificação, sendo uma forma de exemplificação metafórica. 81 Cf. LA, p.254 e MM, p. 136 82 Cf. W.J.T Mitchell, Iconology-Image.Text.Ideology, 1988, pp.53-74
42
sistema de C.S. Peirce, autor cuja influência é notória no pensamento de Nelson Goodman, na qual os signos se podem classificar segundo três tipos: ícone, símbolo e índice. O ícone,
tradicionalmente contrário ao signo verbal, é definido por Peirce como um qualquer signo que, em virtude de uma relação de semelhança, pode representar um determinado objecto. O ícone define-se assim por semelhança ou analogia (o que inclui todas as imagens das pinturas aos mapas e diagramas), o símbolo por convenção (como as palavras e outros signos arbitrários), e o índice por uma relação causal ou existencial (uma pegada de um animal, um sinal de fumo, por exemplo).83 Ora, como Goodman veio demonstrar em LA, o princípio da semelhança não constitui condição necessária nem suficiente para qualquer tipo de representação, quer esta seja pictórica, icónica ou outra, pelo que a triologia de Peirce não fornece uma base sólida para a edificação da sua própria teoria dos símbolos e a diferenciação entre sistemas linguísticos e sistemas representacionais que, neste momento, nos interessa abordar.
A redução proposta por Goodman de todos os símbolos a convenções referenciais vem eliminar as diferenças essenciais entre os diferentes tipos de signos tal como foram estabelecidas por Peirce. As imagens, sejam elas pinturas ou fotografias, tal como as palavras e o textos, têm de ser lidas como um código convencionado. Esta ideia, longe de ser redutora e simplista, permitiu assinalar diferenças subtis e precisas entre diferentes tipos de símbolos, possibilitando classificar e distinguir com rigor as pinturas dos mapas, as iluminuras dos gráficos, as imagens dos textos, as palavras das figuras.
Em LA, no entanto, a distinção entre a linguagem e a representação é concluída apenas no último capítulo, depois de se ter levantado este problema no final do primeiro capítulo dedicado a refutar as diversas teorias da representação pictórica. Após percorrer aquilo que o próprio Goodman chamou um “caminho improvável” avança com uma resposta directa a esta questão:
“Os sistemas não-linguísticos diferem das linguagens, as representações figurativas das descrições, o representacional do verbal, as pinturas dos poemas, primariamente por falta de diferenciação - de facto, pela densidade (e consequente ausência total de articulação) - do sistema simbólico.”84 Numa primeira leitura o enunciado apresentado parece algo negativo, mas a análise dos seus
argumentos esclarece-nos acerca da noção de densidade e das vantagens desta interpretação.
83 V. Charles S. Peirce, “The Icon, Index an Symbol”, (1932), 1975, pp.115-135 84 LA, p.226
43
Vejamos o exemplo apresentado por Goodman de um termómetro graduado e de um outro não-graduado, que ilustra com eficácia a diferença entre densidade e diferenciação ou articulação.85
Num termómetro graduado a posição do mercúrio tem leitura em determinadas marcas da escala estabelecida. Por muito minuciosa que seja a graduação, quando o mercúrio se situa entre dois pontos distintos da escala essa variação é irrelevante e fazemos uma leitura arredondada por defeito ou excesso. Pelo contrário, num termómetro não-graduado, como não dispomos das marcas de uma escala, a mais ínfima variação do mercúrio é significativa para a nossa leitura. Não é assim possível fazer uma diferenciação limitada e única entre os valores atingidos pelo mercúrio, uma vez que cada um dos pontos duma escala não-graduada é relevante e relativo, fornecendo uma indicação diferente acerca da temperatura atingida.
O exemplo doméstico dos termómetros aplica-se a esta questão, no sentido em que os sistemas linguísticos funcionam como um termómetro graduado e a interpretação das imagens é de certo modo idêntica à leitura de um termómetro não-graduado.
Os sistemas linguísticos são sistemas simbólicos diferenciados ou articulados, no que respeita ao esquema, que funciona por descontinuidades e vazios como um termómetro graduado. O alfabeto, por exemplo, é constituído por um número finito de caracteres e cada um deles garante a equivalência de todas as inscrições. O funcionamento do sistema depende da sua capacidade de diferenciação e da sua transferibilidade, que garantem o reconhecimento e a leitura das suas marcas, independentemente das variações de grafia ou de contexto. Entre a letra “a” e a letra “b”
não existe nenhum carácter intermédio, qualquer equívoco ou confusão gráfica tende a ser ignorada. O facto de as letras poderem ser escritas em diferentes tipos, diferentes dimensões e grafias, manualmente ou impressas, é totalmente irrelevante para o funcionamento do sistema. A linguagem verbal emprega um conjunto de símbolos que são disjuntos, constituído por lacunas ou ausências sem significado, enquanto que os sistemas representacionais são sintáctica e semanticamente contínuos.
Numa pintura ou desenho, pelo contrário, cada marca86, cada uma das variações de cor e textura, cada diferença de espessura de uma linha, a maior ou menor densidade de pigmento, a mais subtil modificação nas manchas do suporte, pode estar carregada de potencialidade simbólica. Num sistema sintáctica e semanticamente denso, a que pertencem as imagens, ao contrário da linguagem, e também de um termómetro graduado, nenhuma marca pode ser isolada como única e
85 A distinção entre densidade e diferenciação é estabelecida por Goodman com base nalgumas outras diferenças, entre as quais o contraste entre sistemas analógicos e digitais, que não desenvolveremos aqui. Para este assunto v. LA, p. 159 e RP, pp.121-131. 86 Entendemos por marca qualquer sinal - gesto, som, grafismo, etc - que produzimos ou percepcionamos.
44
distinta, da qual é feita uma única leitura. Este depende antes das relações com todas as outras marcas num campo denso e contínuo.
Consideremos assim o seguinte exemplo: nos manuscritos medievais as letras maiúsculas capitais eram normalmente destacadas por ilustrações complexas - as iluminuras. Fazendo uma leitura verbal do texto estas letras funcionam apenas como caracteres diferenciados do alfabeto, articuladas no conjunto do texto ou, diremos antes, dentro do sistema linguístico em que se integram. Se, por outro lado, as considerarmos como iluminuras, passam a funcionar dentro de um sistema não-linguístico em que tanto o desenho da letra, como a cor, a aplicação dos dourados, os elementos decorativos e compositivos importam como aspectos relevantes de significação. A mesma marca surge como símbolo de um sistema sintacticamente articulado e semanticamente denso, quer como símbolo de um sistema sintáctica e semanticamente denso. O que não é possivel é que uma mesma marca seja interpretada simultaneamente como uma letra e uma figura, como símbolo linguístico ao mesmo tempo que como símbolo pictórico. O mesmo se passa com a inclusão de partes de textos e fragmentos de jornal nas colagens utilizadas pelos cubistas, que estudaremos na parte final deste trabalho.
Um esquema87 como o da pintura é denso porque as suas marcas não se classificam em caracteres discriminadamente distintos entre si. Goodman chama-lhe completamente denso quando a introdução de um qualquer outro carácter88 não consegue destruir essa densidade.89 As artes plásticas em geral têm esquemas completamente densos, ao contrário dos esquemas diferenciados
ou articulados, como os da literatura e da música de notação tradicional.90 Em suma, para Goodman, a abordagem dos sistemas simbólicos parte da compreensão das
suas diferenças constitutivas. A diferença entre o linguístico e o representacional é sintáctica e não semântica. A linha divisória entre palavras e figuras, textos e imagens, é traçada pela história do uso das diferentes marcas simbólicas, tal como os seus significados. Como consequência do seu construtivismo e convencionalismo radical, Goodman sustenta que as palavras como as figuras são convencionais, e a diferença reside no tipo de convenção, no tipo de aspectos funcionais que emprega num determinado contexto.
87 A palavra “esquema”, do inglês “scheme”, refere um conjunto organizado de símbolos que pertencem a um sistema simbólico. 88 O termo “carácter”, do inglês “character”, designa um símbolo enquanto elemento de um esquema. Um carácter é uma classe de uma ou mais marcas individuais que se equivalem dentro desse esquema. 89 LA, p.136 90 O termo “notação”, do inglês “notation”, designa tanto o esquema articulado, no qual as características constitutivas e contingentes dos símbolos são distintas entre si, como o sistema, ou campo de referência articulado, no qual os referentes também são distintos. Os sistemas como as linguagens naturais têm esquemas notacionais mas não são sistemas notacionais, ao contrário da música que é um sistema notacional. Goodman dedica uma parte considerável de LA à análise dos sistemas notacionais, com particular incidência no caso da música que, por critérios de economia, não compreendemos no nosso estudo.
45
Como estivemos a ver, um qualquer símbolo não determina, em virtude da sua estrutura interna ou de uma qualquer propriedade essencial, o modo como deve ser interpretado. A forma
como o interpretamos decorre do sistema simbólico em presença e é fundamentalmente uma questão de convenção, hábito, escolha e necessidade.
Não obstante devemo-nos deter naquilo que foi o objectivo central deste capítulo, i.e., distinguir em breves traços os sistemas representacionais dos sistemas linguísticos e qual o funcionamento dos símbolos que compreendem. As palavras e as figuras distinguem-se assim na base da articulação versus densidade sintáctica. Vimos que a densidade sintáctica é característica dos sistemas não-linguísticos ou representacionais, embora estes partilhem a característica da densidade semântica com a descrição e a expressão artísticas.
Importa-nos saber que os símbolos pictóricos, ao contrário dos símbolos linguísticos pertencem a esquemas densos e não-disjuntos pelo que exigem agora um continuado estudo acerca das suas características e de como se diferenciam dos outros símbolos não-linguísticos. Assim, no próximo capítulo temos como um dos objectivos a distinção, dentro do universo das figuras, as pinturas artísticas dos diagramas, com base no contraste entre saturação e atenuação. Como veremos, é a característica da relativa saturação sintáctica que permite distinguir os vários tipos de sistemas representacionais, nomeadamente os pictóricos dos diagramáticos.91
2. Quando é a representação?
91 Lembramos que a densidade sintáctica, a densidade semântica e a saturação sintáctica que podem caracterizar o funcionamento simbólico dos sistemas, distinguindo e relacionando os sistemas linguísticos e os sistemas representacionais, constituem três dos sintomas do estético. Também a exemplificação, o mais importante dos sintomas estabelecidos por Goodman, desempenha um papel na caracterização da descrição verbal artística. Com a literatura, e aquilo que a distingue da descrição verbal não artística como, por exemplo, os artigos jornalísticos ou as cartas comerciais, é que importa não somente aquilo que é descrito como a forma como o é dito. Enquanto obras de arte, pinturas e textos manifestam o sintoma comum da exemplificação.V. Supra, p.41-43
46
Até agora dedicámo-nos a observar aquilo que distingue os sistemas linguísticos dos
sistemas representacionais e, embora a clarificação destas diferenças nos forneça alguns meios para circunscrever o nosso problema, não atingimos ainda aquilo que é a natureza específica da representação pictórica. Se, até este momento nos temos referido à representação em geral, sobretudo à relação entre sistemas representacionais e os sistemas linguísticos, no âmbito deste trabalho importa-nos a representação pictórica entendida como um caso particular da representação em geral.92 Embora os sistemas pictóricos sejam, por assim dizer, um sub-sistema dos sistemas representacionais, logo partilhando com estes algumas das suas características fundamentais, nomeadamente aquilo que os distingue dos sistemas linguísticos, funcionam simbolicamente de modo diverso.93
Mantemos ainda a incidência do nosso discurso naquilo que distingue os sistemas pictóricos dos linguísticos, porque importa referir que a relação entre ambos também se estabelece num sentido positivo e a analogia entre a representação pictórica e a descrição verbal é tão possível quanto útil.94 Mas aqui temos um sentido mais estrito de representação pictórica que é a representação figurativa, que surge com muita frequência nas chamadas artes visuais. Para este trabalho e a partir deste momento consideraremos a representação figurativa e elegemos consequentemente como exemplo a pintura figurativa.95 As representações figurativas integram-se nos sistemas pictóricos, mas estes não abarcam exclusivamente as representações figurativas.
Apesar de, como vimos, um sistema representacional se distinguir de um sistema linguístico pela característica da densidade sintáctica, nem todos os símbolos sintacticamente densos que o 92 Talvez não seja por demais esclarecer o que entendemos por representação em geral e representação pictórica, uma vez que estes termos e os seus derivados são usados de diversas formas. Alguns autores, como sublinha Goodman (LA, p.4, n.1) usam “representação” como termo genérico para aquilo que ele próprio chama de “simbolização” ou “referência”. Assim, a representação em geral pode compreender um vasto leque de modos de simbolização ou referência como a mímica, a cartografia, os registos gráficos clínicos, os projectos de engenharia civil, a fotografia, as imagens digitalizadas, a gravura ou as projecções geométricas, que se definem, segundo Goodman, por oposição aos sistemas linguísticos e não-representacionais. 93 Um outro instrumento que permite compreender a especificidade da representação pictórica dentro do sistema da representação em geral, e que também se aplica à diferença entre a densidade e a diferenciação para, respectivamente, os sistemas representacionais e os sistemas linguísticos, é a distinção entre símbolos autográficos e alográficos. As representações pictóricas, as pinturas por exemplo, são por excelência símbolos autográficos, porque é relevante se se trata de um original ou de uma cópia ou reprodução mecânica, resultantes da marca autoral, inscrição de autenticidade, e da história da sua produção. Pelo contrário, no caso de um mapa de estradas, ou do registo de um electrocardiograma, estes aspectos são completamente irrelevantes. Também no caso de uma peça literária, o facto de dispormos de uma impressão em livro ou de uma cópia manuscrita é indiferente e irrisório para a compreensão do texto, a não ser que esteja em questão a autoria da obra. A pintura e a escultura, como tradicionalmente as conhecemos, não podem ser sistemas alográficos. No entanto, se considerarmos o caso, ainda controverso, da arte digital ou informática, esta identidade da obra pode ser modificada. Esta alteração prende-se fundamentalmente com a possibilidade de introduzir a notacionalidade em esquemas densos como os dos sistemas pictóricos, mas as implicações desta questão, apesar de pertinentes e actuais, não nos podem ocupar aqui. 94 Como sublinha Goodman no ponto “Depiction and Description” do primeiro capítulo de LA, pp.40-44
47
integram, i.e., nem todas as figuras, são símbolos pictóricos. Os mapas, tabelas, gráficos e diagramas são por vezes sintacticamente densos mas atenuados, termo escolhido por Goodman
por oposição a “saturado” que caracteriza as representações pictóricas, em que muito mais subtis aspectos e marcas são relevantes para a interpretação. Comparada com um termómetro não-graduado, ou um diagrama, uma pintura é densa uma vez que muito mais das suas propriedades têm de se ter em conta.
No capítulo I de LA, Goodman expõe precisamente as diferenças entre palavras e figuras e avança com uma primeira caracterização de representação, que revela a conclusão que ambas são formas de denotação. Esta ideia afirma o carácter convencional das palavras e das figuras, e a representação é economicamente definida como a denotação através de um símbolo pictórico. Esta caracterização é, no entanto, insuficiente e só depois de analisar as características dos sistemas
simbólicos é que Goodman leva a cabo a caracterização definitiva de representação, feita com base nas propriedades do símbolo e nas propriedades dos sistemas, que referimos de forma resumida nos parágrafos acima.
No primeiro ponto do capítulo VI de LA, Nelson Goodman reconduz-nos assim à questão deixada em aberto no final do primeiro capítulo, de qual a diferença fundamental entre a representação em geral e a descrição verbal, para afirmar pouco depois que “Nada é intrinsecamente uma representação; o status de uma representação é relativo ao sistema simbólico.”96 Compreendemos portanto que a natureza da representação não pode ser definida com
base em quaisquer propriedades intrínsecas e que o seu estatuto enquanto representação é conferido pelo sistema em que se integra.97 O nosso problema reformula-se então em termos de qual a natureza dos sistemas representacionais, que dota os símbolos que compreende da capacidade de funcionarem como representações. Goodman resume os sistemas representacionais às condições de densidade, de saturação e serem providos de denotata e, consequentemente, os símbolos enquanto representação.98
Em suma, e devemos a frisar, a representação figurativa e a descrição partilham dum processo idêntico de organizar o mundo, sob a condição da denotação do objecto, e que ambas dependem do hábito e do contexto cultural.
95 Esta escolha resulta não apenas de um conhecimento e gosto pessoais, como da sua pertinência para o problema proposto para esta dissertação. 96 LA, p.226 97 Por este motivo tomámos a liberdade de chamar a este nosso capítulo “Quando é a representação?”, por oposição à questão “O que é...”, aludindo à famosa proposta de Nelson Goodman de reformulação do problema tradicional da Estética de substituição de “O que é a arte?” por “Quando é a arte?”. 98 “A system is representational only insofar as it is dense; and a symbol is a representation only if it belongs to a system dense throughout or to a dense part of a partially dense system. Such a symbol may be a representation even if it denotes nothing at all.”, LA, p.226
48
“A aplicação e classificação de uma etiqueta é relativa a um sistema; e existem incontáveis sistemas alternativos de representação e descrição. Estes sistemas são produtos da estipulação e do hábito em proporções variáveis.”99 Tanto a representação figurativa como a descrição ao denotarem participam na construção
do mundo, uma vez que, classificam e elegem através de etiquetas, pictóricas ou verbais.100 Apesar destes aspectos comuns, a representação figurativa tem um funcionamento cujos
contornos nem sempre se podem definir e avaliar facilmente. Goodman chama a atenção para o facto de a denotação através de uma figura nem sempre resultar numa representação figurativa. Podemos dizer que os objectos naturais de certa forma representam como quando reconhecemos formas nos nós da madeira, ou figuras de animais nas nuvens. Mas quando o pintor Andrea Mantegna representa um rosto numa nuvem, no quadro O Triunfo da Virtude (fig.3), encontramo-nos no domínio particular da representação pictórica. É certo que a representação pictórica é um sistema representacional mas nem todos os sistemas representacionais são sistemas pictóricos, tal
como as nuvens podem representar mas não são símbolos pictóricos. Do mesmo modo, as pinturas pertencem aos sistemas pictóricos mas não são necessariamente representações, como nem todas as representações são pinturas.101
Torna-se agora necessária uma abordagem mais cuidada acerca de quais as condições necessárias para que uma figura, entendida como etiqueta pictórica, possa funcionar como representação, e que dizem respeito às propriedades do símbolo. Desde a primeira página do primeiro capítulo de LA que Nelson Goodman considera que o problema da representação constitui uma dificuldade para a elaboração de uma teoria estética unificada, porque se encontra com frequência nalgumas formas artísticas, como a pintura, e raramente noutras, como a música. Por outro lado, a representação pictórica, constitui um problema para a construção de uma teoria geral dos símbolos. Esta resistência àquilo que é o objectivo fundamental de Goodman com o texto de LA resulta, em parte, da falta de clarificação da relação entre a representação pictórica e a descrição verbal, que abordámos anteriormente.
O autor propõe-se então fazer a análise, do ponto de vista filosófico, do funcionamento dos símbolos, dentro e fora do domínio artístico, para compreender a natureza da representação.
Goodman dirige primeiro a sua argumentação à refutação da teoria da representação figurativa com base no princípio da semelhança, que é o ponto de vista mais ingénuo, segundo ele 99 idem, p.40 100 A palavra “etiqueta”, do inglês “label”, designa qualquer símbolo verbal, gestual, pictórico, etc, que esteja a referir por denotação; v. idem, p.30-1 e p.40
49
próprio, acerca deste problema. Esta teoria pode resumir-se a um enunciado simples: “A representa B se e só se A se assemelha suficientemente a B”. Esta formulação implicaria que a representação
fosse reflexa e simétrica. Mas a representação, objecta Goodman, ao contrário da semelhança, não é reflexa, uma vez que um objecto assemelha-se a si próprio mas raramente se representa. E também não é simétrica porque A pode representar B, mas tal não obriga que B represente A. Uma figura pode representar o Marquês de Pombal, por exemplo, mas o Marquês não representa essa mesma figura.102 Considere-se então uma possível reformulação do enunciado inicial em termos de: Se A é uma figura então A representa B se A se assemelhar suficientemente a B. No entanto, se tivermos, por exemplo, a pintura do Castelo de Marlborough, de John Constable, verificamos que esta se assemelha mais a qualquer outra pintura do que ao próprio castelo, mas representa este castelo e não uma pintura. Logo daqui se conclui que a semelhança em nenhum grau constitui uma condição necessária ou suficiente para a representação. 103
Afastada a hipótese do princípio de semelhança, do que é que depende a representação, sob que condição é que uma figura representa um objecto? Ao que Goodman responde: a denotação, uma relação de referência particular entre uma figura e o objecto e que é completamente independente da semelhança.104 A partir da afirmação desta tese fundamental, e fundamental também para o nosso tema de estudo porque, por um lado, é consequência do ponto de vista convencionalista e, por outro, aponta o dedo à visão algo literalista de Gombrich quanto à representação, Goodman coloca o problema específico da representação pictórica enquanto um tipo
especial de denotação, reavaliando a estratégia a adoptar. Se a relação entre uma figura e o que esta representa é entendida enquanto relação entre um predicado e o seu referente, temos que compreender então quais as características particulares deste tipo de relação de referência.
Mas, por enquanto, vamo-nos deter um pouco na refutação de Goodman de um outro ponto de vista tradicional acerca do problema da representação figurativa, o da teoria mimética ou teoria
da cópia,105 e que nos permite avançar um pouco mais na compreensão das suas próprias ideias. Esta teoria parte da pretensão que podemos copiar o mundo e os seus objectos tal como são e que uma representação é tanto mais fiel quando mais se parecer com o que objecto é. A cópia do objecto deverá, tal como o prescreve esta teoria, ser realizada em condições idealmente neutras e 101 “To represent a picture must function as a pictorial symbol; that is, function in a system such that what is denoted depends solely upon the pictorial properties of the symbol.”, idem, 41-2. Para mais precisões em torno do uso dos conceitos envolvidos consulte-se Carmo d’Orey, ob.cit., pp. 59-61 102 V. LA, p.3-4 103 Os argumentos aqui apresentados contra o princípio da semelhança constituem o primeiro dos sete pontos ou objecções contra a similaridade expostos em “Seven Strictures on Similarity”, PP, pp.437-446 104 Goodman, na nota 3, p.5, aponta que a distinção de denotação das outras formas de referência será apresentada no capítulo II, “The Sound of Pictures”, em LA, pp.45-98
50
‘assépticas’ através do olhar normal e inocente dum observador. Goodman expõe duas objecções lapidares a esta possibilidade.
Em primeiro lugar, um objecto é constituído por uma grande variedade e quantidade de aspectos. Um homem é um complexo de células, um amigo, um músico, entre muitas outras coisas, e se “todos são modos que o objecto é, então nenhum é o modo que o objecto é.” Não é possível copiar a totalidade de um objecto e, mesmo que o fosse, o resultado não seria uma cópia fiel. Em segundo lugar, não existe um olhar inocente e neutro, tal como se recusa o princípio do dado elementar. O nosso olhar, tal como o demonstrou Gombrich, é condicionado e instruído culturalmente, moldado pela necessidade e preconceito. A visão é um instrumento activo porque “Selecciona, rejeita, organiza, descrimina, associa, classifica, analisa, constrói.”106 Aqui Goodman afirma a sua concordância com a demonstração conclusiva e evidente de E.H. Gombrich acerca da relatividade da visão e da representação, mas veremos que as ideias do historiador não estão tão longe das teorias que Goodman tem vindo a repudiar. No entanto, deixaremos as implicações desta referência, bem como a análise da questão que motiva a divergência entre os dois autores, levantada também em LA, para uma discussão alargada na Parte III desta dissertação.
A representação de um objecto depende do modo condicionado como o vemos ou concebemos, por isso a representação resulta sempre, não de copiar um objecto, mas da construção de uma figura que refira esse objecto segundo uma interpretação, de entre muitas interpretações alternativas. Quando uma figura representa um objecto tem em conta alguns
aspectos e não outros. A teoria mimética da representação é assim refutada e os seus fundamentos destituídos de validade.107 Como não podemos conhecer inequívoca e absolutamente o mundo e os seus objectos e na impossibilidade de uma representação conter a totalidade de um objecto, em toda a sua extensão e complexidade, semelhante pretensão está condenada desde o início. 108
Até aqui temos vindo a considerar a situação em que se estabelece uma relação bipolar - a figura A refere o objecto B - são os casos de denotação única ou singular. As teses apresentadas aplicam-se igualmente ao caso da denotação múltipla em que uma figura refere um grupo ou classe
105 Goodman chama-lhe, de facto, “copy theory”, mas consideramos que pode também ser designada por teoria mimética, que obedece aos mesmo princípios e remonta à tradição platónica. 106 LA, p.6-8 107 No breve ponto intitulado “Sculpture”, Goodman volta a abordar esta teoria, a respeito do caso particular da escultura, para a refutar com base nos mesmos argumentos que apresentou para a representação pictórica, i.e., a arbitrariedade dos aspectos a representar, dentro da enorme variedade de experiências. A duplicação numa forma tridimensional de um momento fixo de determinado objecto ou pessoa não é a garantia para a representação. O conhecimento que temos desse objecto ou pessoa depende não apenas dos seus aspectos físicos externos, mas também das nossas experiências e conhecimentos previamente adquiridos. 108 Gostaríamos de sublinhar, da leitura deste ponto, a referência que Goodman faz ao pensamento de Kant, que julgamos remeter para a “Estética Transcendental” expressa na Crítica da Razão Pura. Esta posição kantiana traduz-se na frase avançada contra o mito do olhar inocente e do dado elementar: “The inocent eye is blind and the virgin mind is empty.”, LA, p.8
51
de objectos como, por exemplo, as figuras dos dicionários. Mas temos de atender a um caso particular da denotação que surge com enorme frequência nas representações pictóricas em geral.
No séc. XIX, o pintor Gustave Courbet recusou a encomenda de uma obra em que teria de pintar um anjo com o argumento de que não o sabia fazer porque nunca tinha visto nenhum. Mas os pintores medievais, que não utilizavam modelos ao vivo, não hesitaram em representar complexas hierarquias de anjos com diferentes fisionomias, porque partiam da herança de estereótipos pictóricos e de uma panóplia de inscrições e atributos distintivos.109 A história das representações artísticas, tanto pictóricas como literárias, existe povoada de anjos e seres celestiais, fadas e demónios, bestas e monstros mitológicos, que desde sempre preencheram o nosso imaginário. Estas criaturas de ficção são-nos tão familiares que, tal como os pintores medievais, não hesitaríamos se as tivessemos de desenhar ou descrever embora, como Courbet, nunca as tenhamos visto de facto.
As figuras fictícias não denotam nada, porque o objecto que referem ou denotam não existe, têm o que Goodman define como denotação de extensão nula.110 Quando temos uma figura de um anjo, de um unicórnio ou de Pickwick, para manter os exemplos de Goodman, embora as possamos distinguir entre si, estas não representam nada uma vez que o referente não existe. Para resolver esta ambiguidade que se reflecte nas formas do nosso discurso, Goodman propõe que, para o caso das representações fictícias, digamos antes “figura-de-unicórnio” ou “figura-de-Pickwick”, designação esta que nos permite classificar as figuras segundo este tipo sem, no entanto,
considerar que denotam algo. Muitas formas do nosso discurso são precisamente, e por exemplo, descrições-de-homem como “um homem gordo”, “Pickwick”, ou “Marquês de Pombal” mas nem todas descrevem um homem e algumas não denotam nada nem ninguém. No entanto, Goodman considera que seria difícil definir quais as condições exactas em que uma representação é uma figura-de-x, embora na prática possamos organizar as figuras em classes de figuras-de-homem, figuras-de-unicórnio, representações figuras-de-Pickwick, etc.
A identificação de uma figura com denotação nula não depende do conhecimento prévio e factual do seu referente que, neste caso, não existe, para se verificar. Sabemos reconhecer uma figura-de-unicórnio sem nunca ter visto um unicórnio e, muitas vezes, é por termos a experiência de várias figuras-de-unicórnio que compreendemos a palavra “unicórnio”, tal como os pintores, e não apenas os medievais, conheceram por herança imensas e diversas figuras de anjos.111
109 Exemplo retirado de Richard Woodfield, “Ressemblance”, em Cooper, ob.cit., pp.369-372 110 O problema da representação fictícia é tratado no ponto “Fictions” do capítulo 1 de LA, pp.21-26 111 Os fundamentos aqui contidos ilustram o modo como se opera a extensão dos nossos conceitos, e aplica-se ainda genericamente à relação entre linguagem verbal e representação pictórica.“Understanding a term is not a precondition, and may often be a result, of learning how to apply the term and its compounds.”, LA, p.25
52
A formulação da tese que uma “figura tem de denotar um homem para o representar, mas não precisa denotar algo para ser uma figura-de-homem”112 surge como um refinamento ou
clarificação da tese, anteriormente enunciada, de que a denotação é a condição necessária para a representação. Incidentalmente fornece também um argumento contra a teoria da semelhança: se uma representação tem denotação nula, como é o caso da representação fictícia, não temos qualquer possibilidade de avaliar qual o grau de semelhança entre esta e a coisa representada, o referente. Encontramos também aqui um argumento contra a teoria da cópia: como podemos copiar o mais fielmente possível algo que não podemos observar pois não tem existência?113
Goodman prossegue o seu discurso com o objectivo de clarificar e distinguir com precisão alguns conceitos envolvidos no problema da representação. No ponto “Representation-as” faz a distinção entre os dois sentido de uso da locução ”representação-como” . Um primeiro sentido é o uso descritivo desta locução, que se refere a uma figura representar um indivíduo ou cena num determinado período de tempo como, por exemplo, uma representação do Marquês de Pombal como quando era criança ou como o reconstrutor de Lisboa. O segundo uso diz respeito aos casos em que temos, por exemplo, uma representação do adulto Winston Churchill como uma criança. Este uso de “representação-como” é distinto, embora relacionado, com a representação em geral.
Como o uso comum da linguagem confunde os casos de representação e de representação-
como, Goodman considera aqui as formas do nosso discurso acerca da representação pictórica, propondo uma classificação operativa que nos permita compreender, distinguir e organizar o
universo das figuras pictóricas. É frequente dizermos que uma figura representa fulano-de-tal como se o denotasse quando queremos dizer de facto que se trata de uma figura-de-fulano-tal. Noutros casos, quando dizemos que Pickwick, numa determinada pintura, é representado como palhaço não podemos dizer que se trata de uma figura-de-palhaço representando Pickwick, uma vez que Pickwick não existe. Antes, esta figura pertence “...a uma estrita e determinada classe de figuras que podem ser descritas como figura-de-Pickwick-como-palhaço.”114
A representação figurativa implica a classificação de objectos e ao fazê-lo passa por sua vez a pertencer a uma determinada classe de objectos sob determinada etiqueta. Esta classificação das etiquetas pictóricas, as figuras neste caso, não depende daquilo que estas por sua vez classificam. Tal como na linguagem verbal os objectos são classificados como “mesa” ou “cadeira”, também na
112 ibidem 113 O mesmo sucede com os casos de figuras de denotação indeterminada. Estas devem ser consideradas como representações de denotação nula, uma vez que não se pode estabelecer se denotam ou não algo. Por denotação indeterminada entendem-se os casos como o da gravura Paisagem com Caçador, de Rembrandt, referido por Goodman. Como desconhecemos se a personagem representada existiu ou não e, mesmo que tenha existido, já não a podemos conhecer e observar, não podemos avaliar o seu grau de semelhança; v. LA, p.26 114 idem, p.30
53
representação figurativa o são pelas figuras que os representam. As descrições são classificadas como “descrição-de-mesa” e “descrição-de-Pickwick” e as figuras podem ser “figura-de-mesa” e
“figura-de-Pickwick”. Mais uma vez Goodman retoma o problema da relação entre representação pictórica e linguagem verbal para, em conclusão, as subsumir à partilha de duas questões fundamentais: o que é que uma figura representa, ou uma descrição descreve, e que de que tipo de representação, ou descrição, se trata.115
Mas deixemos de lado o problema da descrição verbal para nos concentrarmos nas questões
que nos dizem directamente respeito, relativas à representação pictórica e às suas etiquetas, fazendo as perguntas que Goodman nos recomenda: perante uma determinada figura o que é esta representa e que tipo de representação é que é?
Para uma figura representar um objecto é evidentemente necessário que seja um símbolo que refira esse objecto. A relação de referência estabelecida no caso da representação figurativa é a denotação. A denotação pictórica é portanto uma forma de referência, mas que não resume a representação pictórica. As figuras podem referir de diferentes modos: umas referem um objecto denotando-o, como um retrato refere uma pessoa, ou uma natureza-morta refere uma composição de objectos. Além disso, no caso destas pinturas, também referem as propriedades que possuem, como as cores, padrões, formas e texturas, ou seja, referem por exemplificação.
A pintura figurativa denota o seu tema exemplificando ao mesmo tempo os elementos
plásticos e formais que possui. O quadro Papa Inocêncio X, de Diego Velásquez (fig.4), denota o seu retratado e exemplifica literalmente os aspectos compositivos, cromáticos e texturais que exibe. Poderíamos ainda dizer que este retrato exprime severidade, autoridade e frieza, isto é, que exemplifica metaforicamente estas qualidades. E verificamos também que esta pintura alude ou refere indirectamente outros retratos por Velásquez e outras obras cujo tema é o clero, como a série dos bispos de Francis Bacon (v.fig.5), e vice-versa, devemos acrescentar.116
Em suma, as figuras podem referir directamente, por denotação, e indirectamente, por alusão, e referir via exemplificação literal e exemplificação metafórica, a expressão.117 A maior parte das obras de arte de tradição ocidental acumulam estas diferentes formas através de intrincadas cadeias de referência, mais ou menos complexas, por denotação e exemplificação. Mas, sobretudo
115 “Thus with a picture as with any other label, there are always two questions: what it represents (or describes) and the sort of representation (or description) it is. The first question asks what objects, if any, it applies to as a label; and the second asks which among certain labels apply to it. In representing. a picture at once picks out a class of objects and belongs to a certain class or classes of pictures.”, idem, p.31 116 A variação sobre um tema, frequente nas diversas formas artísticas, é uma situação de referência indirecta; v. RP, pp.66-82 117 v. “Searching and Showing”, LA, pp.232-241
54
a partir da segunda década do séc. XX, surgem casos em que não coexistem todas estas relações. As obras de arte abstractas, por definição, não denotam directamente nenhum objecto ou assunto,
sendo portanto não-denotativas. Referem por exemplificação literal e metafórica e, nalguns casos, por alusão. As conhecidas pinturas de Jackson Pollock exemplificam as suas propriedades plásticas, exprimindo ritmo e movimento caótico, e aludem à caligrafia, aos “doodles”118 e às experiências pictóricas infantis.
No entanto, e apesar do objectivo do nosso trabalho não compreender a abordagem exaustiva destes outros modos de referência, não podemos deixar de nos deparar com um problema relativo aos tipos de denotação. As figuras fictícias, como os anjos, não têm denotata tal como as pinturas abstractas. Poderíamos daqui concluir que a representação fictícia é não-denotativa, logo abstracta, e que as suas figuras referem um anjo, por exemplo, por exemplificação literal e/ou metafórica.119
Acontece que as representações fictícias, ao contrário da pintura abstracta, embora com denotação nula são símbolos denotativos do mesmo tipo sintáctico que as figuras com denotação única e múltipla. Uma pintura não precisa de denotar para ser classificada como uma representação, mas precisa de ser um símbolo denotativo. A pintura abstracta não sendo um símbolo denotativo não representa. “A representação e a descrição, como vimos, são denotativas enquanto que a exemplificação e a expressão vão na direcção oposta à denotação.”120
Emerge de um olhar envolvente às ideias de Goodman, que temos vindo a expor de forma
sumária, a conclusão de que tanto a representação, como a descrição, a exemplificação e a expressão, não podem ser operações passivas. Enquanto modos de referência estas classificam, elegem, caracterizam e organizam os objectos do mundo à nossa volta e estas actividades exigem processos activos e selectivos. Estes modos de referência, tal como os próprios objectos, dependem e participam da organização destes segundo critérios de classificação aplicados através de instrumentos que são as etiquetas, verbais e pictóricas, i.e., símbolos a funcionarem denotativamente na descrição e na representação, e as amostras,121 i.e., símbolos a funcionarem exemplificativamente no caso da exemplificação e da expressão.
118 Termo sem equivalente em português e que significa rabiscos ou automatismos gráficos. 119 No entanto, as figuras dos anjos são figuras humanas, masculinas e femininas, vestidas e adornadas com acessórios específicos, com aro e duas asas, assim como um unicórnio é um cavalo comum com um único corno de cabra na testa - ambos resultam de colagens ou sobreposições de objectos, animais e pessoas. O mesmo se passa com a maior parte das figuras mitológicas e fantásticas e, sendo assim, estamos perante casos de representação-como. Uma representação de um anjo poderia então ser considerada como uma figura-de-anjo-como-mulher e um unicórnio como figura-de-unicórnio-como-cavalo-com-um-corno. 120 LA, p.233 121 Tradução do inglês “sample”.
55
Somos incapazes de conceber os objectos fora do nosso sistema de organização, se bem que estejamos habituados e familiarizados com muitas e diferentes classificações segundo diversos
tipos de etiquetas. O uso de um critério, qualquer que este seja, implica também uma preferência por determinado(s) aspecto(s) dum objecto ou conjunto de objectos e um novo critério segundo preferências menos usuais revela sempre uma inovação. Uma selecção inédita de determinados aspectos, atributos de um ou mais objectos, ou a classificação de aspectos familiares sob novos tipos de etiquetas, ou associações pouco usuais de etiquetas comuns, resultam em representações ou descrições inovadoras que ampliam e diversificam a nossa organização do mundo.
Tinhamos visto que Goodman evoca o célebre dito do pintor John Constable, a partir de Gombrich, porque as representações pictóricas são afinal experiências que testam e demonstram novas e diferentes classificações e organizações do mundo e dos seus objectos. A representação figurativa é portanto o resultado de uma operação não somente activa e selectiva, mas também inventiva.
Esta consequência extrema da argumentação de Goodman afirma absolutamente o carácter convencional da representação em geral, sendo aqui a convenção entendida como um critério familiar e instituído, por oposição a um critério inovador, i.e., menos usual ou familiar. Se não podemos falar de tipos, classificações e organizações genuinamente ‘naturais’ então não podemos considerar representações mais ou menos ‘naturais’, mas sim mais ou menos habituais.
56
3. Realismo É frequente ouvirmos dizer, quando se fala de uma pintura ou de um desenho, que estes são
muito realistas, que representam determinada cena com grande naturalismo ou com muita fidelidade ou veracidade. Mas o que é que nos leva a aplicar estes termos à caracterização de uma pintura, como podemos classificar e comparar representações pictóricas figurativas com base em critérios de realismo?
Vamos agora passar em revista as teorias mais comuns acerca do problema do realismo, que Goodman começa por considerar como uma questão de somenos importância, mas que o obriga a esclarecer e refinar alguns aspectos do problema da representação pictórica em geral. Tendo por objectivo final a afirmação do carácter relativo e condicionado do realismo na representação, o autor dedica-se então a refutar estas teorias que se baseiam na capacidade de ilusão, ou na quantidade
de informação, e ainda, no grau de fidelidade. A teoria do realismo na representação baseada na ilusão prescreve que o grau de realismo
numa representação é directamente proporcional à probabilidade de confusão entre uma representação e aquilo que representa. Esta teoria surge como um progresso em relação à teoria
mimética da representação porque implica uma relação próxima entre uma figura e o objecto que representa, não enquanto cópia ou duplicado, mas por gerarem uma resposta idêntica no percipiente, sob as condições de observação adequadas. Assim sendo constitui também um progresso porque permite explicar os casos de representação fictícia.
Apesar destas vantagens imediatas e aparentes, esta teoria não pode ser aceite como válida. Em primeiro lugar, temos uma objecção de tipo lógico: “Se a probabilidade de confusão for 1, não temos representação - temos identidade.”122 Em segundo lugar colocam-se objecções relativamente às condições compreendidas na demonstração desta teoria: se a capacidade de iludir depende das condições de observação, então mesmo uma figura pouco realista pode confundir o observador se tiver uma encenação apropriada. Por outro lado, até mesmo o trompe l’oeil mais bem conseguido,
122 LA, p.33
57
sob condições vulgares de exposição - uma pintura de girassóis colocada num campo repleto de girassóis pode confundir-nos, mas a mesmo pintura pendurada na parede de um museu oferece-se-
nos primeiro como objecto-quadro. Reconhecer uma pintura como uma representação inviabiliza desde logo a possibilidade de ilusão. Assim, na prática, raramente ocorre uma ilusão completa, pelo contrário reconhecemos as figuras como objectos distintos que denotam outros objectos.
Refutada a teoria do realismo com base na ilusão, Goodman apresenta a teoria baseada no critério de quantidade de informação: uma representação é tanto mais realista quanto maior a quantidade de informação pertinente fornecer acerca do objecto representado. No entanto, se considerarmos duas pinturas, uma dita realista que utilize as cores e perspectiva normais, e outra idêntica mas cujas cores foram substituídas pelas suas complementares e a perspectiva invertida, contêm exactamente a mesma quantidade de informação apesar de, no segundo caso, a interpretação não ser imediata e não a considerarmos desde logo como realista. A tese negativa de que o conteúdo informativo não é critério de realismo contraria sumariamente a validade da teoria baseada na informação.
A utilização por parte de Goodman do argumento da perspectiva no exemplo das duas pinturas leva-nos para o capítulo final desta Parte e mais além, para a discussão alargada acerca desta questão na parte final deste trabalho. De resto, a refutação da teoria da fidelidade, que passamos a expõr, também importa para o nosso assunto.
Na teoria da fidelidade como critério de realismo, a fidelidade é entendida como informação
verdadeira ou correcta fornecida pela representação acerca do objecto. No caso das duas pinturas anteriormente referidas, ambas podem ser consideradas correctas, fieis e que fornecem as mesmas informações verdadeiras acerca do objecto representado mas, no entanto, diríamos que a primeira é mais realista que a segunda. Tal como Gombrich nos diz que a pintura original de Wivenhoe Park é mais realista que uma cópia desse quadro feita por uma criança,123 também diríamos que uma maçã vermelha pintada por Matisse é menos realista do que uma maçã vermelha pintada por Van Eyck, apesar de serem ambas igualmente fiéis quanto à forma e à cor da maçã. A fidelidade de uma figura refere-se à concordância entre as propriedades que esta descreve e às que o objecto representado de facto possui e em nenhuma medida constitui uma condição suficiente para o realismo na representação.
Da argumentação até aqui conduzida conclui-se que, tanto a quantidade de informação como a fidelidade ao objecto, não constituem critério ou condição de realismo. Se consideramos uma pintura mais realista do que outra é porque estamos mais familiarizados com o sistema de
58
representação utilizado. Para Goodman, “O realismo é relativo, determinado pelo sistema de representação standard para uma dada cultura ou pessoa num determinado período de tempo.”124
Os diferentes sistemas de representação são produto de diferentes épocas e contextos culturais, como o demostram os exemplos retirados da História da Arte e funcionam como quadros de referência colectivos e individuais. Normalmente associamos o termo “realismo” à pintura figurativa tradicional europeia ou ocidental, mas isso não quer dizer que sejam estas as pinturas realistas, simplesmente é esse o quadro de referência presente, como os frescos egípcios e a pintura japonesa do séc.XVIII resultam também de diferentes contextos e a sua leitura depende do conhecimento do(s) seu(s) modo(s) de representação. Os caminhos de Goodman e Gombrich separam-se aqui e não mais adiante quando discordam acerca da representação pictórica do espaço, porque atravessa todas as palavras de Gombrich a recusa implícita desta interpretação de realismo. Aliás, para nós, os seus precursos apenas se tocaram aquando do problema da percepção visual e a propósito do mito do olho inocente.
Ao contrário de Gombrich que, sem dúvida, defende em parte os argumentos a favor da ilusão, da quantidade de informação e da fidelidade, apoiados pela condição de familiaridade como os objectos representados, Goodman sustenta a ideia de que a interpretação de uma qualquer representação exige a familiaridade com o sistema convencional que presidiu à sua realização. O grau de realismo de uma determinada representação só pode então ser avaliado em relação ao quadro de referência disponível, i.e., em relação ao sistema de representação em vigor nesse
momento. Assim, o realismo “...depende da relação entre o sistema de representação empregue numa determinada figura e o sistema de representação em vigor.”125
No entanto, a semelhança e a capacidade de iludir podem servir como instrumentos de medida do grau de realismo mas não no sentido de se assemelharem ou confundirem com o objecto representado. A aplicação do princípio de semelhança, tal como a possibilidade de ilusão, como critérios de realismo na representação resultam da verificação da concordância entre o sistema de representação presente numa determinada figura e o sistema de representação que conhecemos e que temos como referência.126
Em suma, o grau de realismo ou literalismo de uma determinada representação depende de quão estabelecido e estereotipado é o sistema de representação utilizado, ou do grau de
123 “Granted, as I have tried to show in the first chapter, that Constable’s Wivenhoe Park is not a mere transcript of nature but a transposition of light into paint, it still remains true that it is a closer rendering of the motif than is that of the child.”, AI, p.252 124 LA, p.37 125 idem, p.38 126 “Ressemblance and deceptiveness, far from being constant and independent sources and criteria of representational practice are in some degree products of it.”, idem, p.39
59
familiaridade do percipiente com esse sistema de representação. Para que uma representação seja considerada como realista não é necessário que seja produto da imitação nem que produza uma
ilusão nem resulta ainda do seu conteúdo informativo, mas de quão inculcado no percipiente está o sistema representacional em presença. A representação resulta da escolha, a fidelidade depende da informação e o realismo depende do hábito.
Em LA, Goodman refere ainda que podem ocorrer rapidamente mudanças ou substituição do standard de representação, em virtude de surgir uma descoberta ou invenção, como sucedeu com o advento da perspectiva artificial no Renascimento italiano. Mas é no texto de WW que este autor desenvolve um pouco mais esta questão ao referir um segundo uso do termo “realismo”, para além daquele que depende da habituação ou familiaridade.
Vimos que uma representação figurativa é realista na medida em que é correcta e conforme aos princípios do sistema de representação em vigor.127 Ora sucede que, por vezes, uma representação irrealista sob o nosso sistema de representação pode representar correctamente sob um outro sistema. A obra de um artista pode a dada altura introduzir um novo modo de representação cuja força e criatividade atingiu um nível de revelação. Ouvimos então, por vezes, dizer que a sua obra adquiriu um ‘novo realismo’. 128
Seja como for, nos dois sentidos de uso, o realismo é entendido como forma de correcção como ajustamento. Para a pintura figurativa, o realismo decorrente do hábito resulta do ajustamento
entre os métodos de representação empregues numa determinada pintura e o sistema de
representação com que estamos familiarizados. Quando surge uma inovação esta revela-se como um ajustamento entre uma nova maneira de representar e aquilo que se procura realizar e que os processos habituais não permitiam atingir.
A esta noção do uso de realismo como revelação é posteriormente acrescentado um terceiro sentido de uso de realismo como assunto.129 O Jardim das Delícias de Bosch representa segundo um modo suficientemente tradicional, cenas e figuras imaginárias, i.e., irrealistas ou fantásticas. Um retrato de um homem pintado por De Kooning ou por Francis Bacon, pelo contrário, utiliza modos de representação menos tradicionais para representar um tema realista. O terceiro sentido de uso de realismo diz respeito ao assunto da representação mas, alerta Goodman, as obras que são irrealistas neste sentido não se podem subsumir às obras de carácter fictício. No caso da pintura, os quadros da “série azul” ou dos saltimbancos de Picasso não descrevem ninguém, se entendidos
127 O problema da correcção na representação, que Goodman introduz ao abordar as questões da verdade e da fidelidade na representação, verbal e não-verbal, é amplamente discutido em WW. 128 “What we have here, in representation under a right system strange to us, is realism in the sense not of habituation but of revelation.”, WW, p.131 129 V. “Three Types of Realism”, MM , pp.126-130
60
literalmente, mas interpretados metaforicamente referem a melancolia e alheamento de muitos de nós.
Para o problema do realismo, mesmo a propósito dos três sentidos de aplicação do termo, importa abordar as questões colocadas por um modo de representação mecânico que só aparentemente nos desviam das questões fundamentais do nosso trabalho. Desde finais do séc.XIX, com a invenção da fotografia, esta forma de captação da realidade instalou-se como paradigma de realismo, como sublinha Goodman.130 Uma representação figurativa de um objecto passou a ser, pelo menos no sentido comum, tanto mais realista quanto mais se aproximar daquilo que seria uma fotografia a cores desse mesmo objecto. A pintura hiperrealista norte-americana explorou exaustivamente estes aspectos ao utilizar a própria prova fotográfica como modelo e objecto de representação. Mas constituirá de facto a fotografia um garante de fidelidade, será que a máquina fotográfica nos fornece a mais rigorosa e realista visão de como é mundo?
Não nos interessa alargar muito esta discussão, mas há um episódio divertido que parece confirmar as ideias de Goodman. Na realização de brochuras para ajudar os apreciadores de cogumelos a distinguir as espécies comestíveis, verificou-se um maior número de casos de intoxicação alimentar nos utilizadores dos guias ilustrados com fotografias. Podemos explicar este resultado porque enquanto que a fotografia regista um cogumelo em particular com todas as características e pormenores daquele cogumelo, um desenho simples aguarelado representa um cogumelo-tipo que sintetiza as características comuns da sua espécie. Em relação à capacidade de
ilusão, à fidelidade ou à quantidade de informação não hesitaríamos em dizer que as fotografias ofereceriam mais confiança, precisamente por serem, segundo esses critérios, mais realistas. No entanto, os desenhos revelam-se mais eficazes para cumprir esta função ao permitirem reconhecer com mais facilidade os cogumelos desejados.131
Nelson Goodman cita também um texto de Melville J. Herskovits em que este refere a incapacidade de indivíduos, pertencentes a tribos que desconheciam a fotografia, reconhecerem imagens fotográficas de casas, pessoas e paisagens que lhes eram familiares.132 Este argumento conduz-nos para a possibilidade da interpretação da imagem fotográfica ser dependente do hábito e, se bem que Goodman não extenda até aqui as suas conclusões, para afirmar o carácter convencional da representação fotográfica. Por outro lado, em PP, Goodman introduz a questão da distorção na fotografia - quando vemos uma imagem de um homem fotografado de baixo, com os pés em primeiro plano, isso não corresponde fielmente a como esse homem realmente é. De facto,
130 V. “The Way the World is to be Seen”, PP, pp.27-29 131 Este caso vem descrito em Philippe Comar, La Perspective en jeu, 1992, p.87 132 V. LA, p.15, n.15, e também Infra, p.78-80
61
a forma como interpretamos este tipo de distorções corresponde a um alargamento da nossa experiência visual, tal como sucede com o contacto com formas de representação pictórica
inovadoras ou menos familiares. Mais uma vez nos deparamos com o sentido de uso de realismo como revelação para o caso da distorção fotográfica.
Nenhuma forma de representação, nem mesmo a fotografia, pode pretender ver e traduzir o mundo tal como este é. Enfim, “ …não podemos descobrir muito sobre o modo como o mundo é por perguntarmos qual é o melhor ou mais fiel ou qual o mais realista modo de o ver e representar. Porque os modos de ver e representar são muitos e variados;”.133
A história das figurações artísticas transporta-nos diferentes visões do mundo, não só porque destacam propriedades e aspectos dos temas e objectos que representam, como porque nos transmitem indirectamente exemplos que se aplicam a outras coisas, alargando o nosso conhecimento. A pintura figurativa, que aqui nos interessa, tem certamente esta virtude mas não a de transmitir uma única realidade e as coisas como elas são. Existem tantas pinturas e figuras como modos de pintar e representar, cada uma transportando-nos uma diferente forma de ver e de fazer o mundo. “O realismo, como a realidade, é múltiplo e evanescente e nenhuma justificação lhe serve.”134
133 PP, p.29 134 MM, p.130
62
4. Perspectiva
Em A História Universal da Infâmia, Jorge Luis Borges imagina um império onde os
cartógrafos extraordinariamente minuciosos faziam um mapa que tinha o formato desse império e coincidia com este ponto por ponto. Um mapa com esta desmesura, que reproduzisse toda a complexidade do território, não teria qualquer utilidade e ninguém conseguiria estabelecer um itinerário. As mudanças de escala de representação são do ofício do cartógrafo e do maquetista e exigem transformações geométricas possíveis em teoria mas que, na prática, colocam vários problemas. É pouco provável que Gulliver tivesse encontrado, fora das páginas de um livro, gigantes e liliputianos. Ao modificarmos a escala das coisas, modificamos também noções como a densidade e o Tempo que, à primeira vista, parecem distintas do problema da dimensão. Por este e outros motivos, um mapa, como uma pintura, não podem possuir as qualidades nem obedecer às leis do espaço em que existimos. Uma pintura é um mundo e as suas regras são ditadas pela sua natureza.
Um mapa tal como imaginado por Borges seria superlativamente realista segundo os critérios
que Goodman repudia. Não é possível conceber maior detalhe, rigor e fidelidade na informação fornecida por este mapa e faria as delícias daqueles que defendem o mimetismo da representação. Contudo não seria sequer um mapa mas sim um território duplicado, uma réplica absoluta, a demonstração de que 1 + 1 afinal são 1. Não existe nem nunca existiu semelhante mapa, mas sabemos que as representações pictóricas, em tempos, pretenderam atingir a fidelidade, a veracidade, a quantidade de informação, em suma, este grau superlativo de realismo.
A perspectiva artificial, tal como foi entendida no Renascimento, servia uma concepção pictórica que procurava fazer coincidir o espaço real tridimensional com o plano do quadro, à imagem de uma janela através da qual se podia ver um fragmento do mundo. Mais do que uma simples receita de atelier, o uso da perspectiva reflecte uma nova concepção do mundo e, como Goodman não se esqueçe de referir, resultou de facto num novo realismo no sentido de revelação.
63
Apesar de em LA Goodman referir o problema da perspectiva como um argumento pontual, interessa-nos compreendê-la no contexto geral da sua teoria. Como consequência do seu ponto de
vista construtivista e convencionalista, a perspectiva é compreendida como um dos muitos sistemas possíveis de representação, logo tão realista, literal ou fiel como qualquer outro. A sua importância para a arte ocidental resulta do facto de ser este um sistema de representação ainda em vigor desde o Renascimento, e que participa do nosso quadro de referência. Mesmo a fotografia aplica princípios e apresenta o mesmo tipo de limitações presentes na perspectiva artificial, como a monocularidade, a profundidade de campo e o efeito de paralaxe.
Se a perspectiva não constituí nenhum critério absoluto ou independente de fidelidade e o grau de realismo é independente do grau de fidelidade da representação, podemos concluir que a perspectiva não constitui uma condição suficiente ou necessária para o realismo. Ou seja, uma representação em perspectiva não é forçosamente realista e uma pintura considerada como realista não utiliza necessariamente a perspectiva. Estamos de certo modo habituados a classificar como realistas as representações figurativas construídas segundo as leis da perspectiva em virtude do sistema de representação pictórica de tradição ocidental de que actualmente dispomos.
Mas porque é que a perspectiva artificial serviu como garantia de fidelidade na representação pictórica do espaço para a tradição artística ocidental? A justificação de que uma representação pictórica de um objecto construída segundo as regras que decorrem dos princípios da geometria da óptica, sob determinadas condições, emite um padrão de raios luminosos idêntico ao emitido pelo
próprio objecto e de que esta identidade constitui um critério de fidelidade na representação, é sustentada por muitos autores. No Renascimento os artistas já não julgavam, como Euclides, que os olhos lançavam raios que atingiam os objectos, mas acreditavam serem receptores do mundo visível através dos olhos que, para o tratadista Filarete, atraem a imagem dos objectos para o intelecto como um íman atraí a limalha de ferro.
Entre estes autores que defendem esta correspondência entre a visão e a geometria da perspectiva, conta-se Ernest Gombrich que ridiculariza a ideia que “a perspectiva é meramente uma convenção” para afirmar que a perspectiva pretende aproximar o objecto da sua imagem e vice-versa. Também James J. Gibson discorda da ideia da convencionalidade da perspectiva e que é por imperativo de necessidade que os artistas recorrem à perspectiva geométrica.135 No último parágrafo do ponto “Imitation” de LA , Goodman exprimia precisamente a sua discordância com Ernest Gombrich em particular, acerca da questão da convencionalidade da perspectiva, e desenvolveremos esta querela na Parte III deste nosso estudo.
135 Cf. LA, p.10-11 e MM, pp.9-14, onde Goodman se dedica a discutir as teses de Gibson.
64
Fruto das experiências dos dispositivos como a camera obscura e a tavoleta de Brunelleschi, desde o séc. XV que a teoria subjacente às regras da perspectiva artificial compreende
determinadas condições de observação sob as quais o feixe de raios luminosos emitidos por uma representação figurativa de um objecto, construída segundo uma perspectiva correcta, é idêntico ao dos raios emitidos pelo próprio objecto.136 Esta exigência teórica da perspectiva obriga a que o espectador adopte o ponto de vista fixo e monocular que presidiu à construção do quadro. Apenas sob esta condição a identidade no padrão dos raios luminosos deve constituir a identidade de aparência do objecto e resultar na fidelidade da representação.
As objecções que Goodman coloca a esta posição referem-se, em primeiro lugar, às condições exteriores de observação exigidas. Sem estas condições excepcionais, numa encenação particular e com um observador imóvel, com apenas um olho também imóvel, a identidade do padrão de raios luminosos não se verifica, logo não fornece nenhum critério de fidelidade.137
Em segundo lugar, Goodman questiona o principal fundamento interno da perspectiva geométrica, demonstrando que, mesmo as representações pictóricas conformes às suas regras estritas não respeitam completamente os princípios da geometria da óptica. Apenas a assunção de que a perspectiva pictórica obedece às regras da geometria da óptica tem conferido plausibilidade ao argumento de que, respeitando-se as regras específicas, sob as condições referidas, se obtem uma concordância dos raios luminosos emitidos pela representação e pela cena representada. Mas, para Goodman, este fundamento é absolutamente errado.
Vejamos então porquê: pelas ‘leis da geometria’ tanto uma linha férrea, como os postes telefónicos ao longo desta, deveriam ser representados em direcções convergentes. No entanto, numa representação pictórica segundo as regras da perspectiva apenas as linhas dos carris de um comboio são desenhadas em convergência, mantendo-se o paralelismo na representação dos postes. As máquinas fotográficas que, como referimos no capítulo precedente, produzem um efeito semelhante podem ser adaptadas a objectivas especiais, cujas lentes permitem corrigir esta suposta distorção, de modo a que nas fotografias as linhas verticais se mantenham paralelas. “As regras da perspectiva pictórica seguem as leis da óptica tanto quando o fariam as regras para desenhar os trilhos do comboio paralelos e os postes convergindo.”138
A figura representada na página 18 de LA (fig.6), apresenta esquematicamente um observador olhando a fachada de uma torre no topo de um edifício, em que a alteração da posição
136 Esta teoria, conhecida por Teoria do Registo Directo e subscrita, entre outros, por J.Gibson, fundamenta-se na posição tomada quanto à percepção em geral de que o espectador é passivo em relação à informação sensorial que recebe. 137 “That with clever enough stagemanaging we can wring out of a picture drawn in perspective light rays that match those we can wring out of the object represented is na odd and futile argument for the fidelity of perspective.”, LA, p.13 138 LA, p.16
65
e/ou distância do plano de representação, colocado entre o observador e a fachada, produziria uma figura incorrecta, caso não fossem respeitadas as condições excepcionais de observação. “Com o
olho e a figura na posição normal, o feixe de raios luminosos enviado ao olhar pela representação pictórica desenhada segundo uma perspectiva standard é muito diferente do feixe enviado pela fachada.”139
Goodman refuta assim o principal argumento da perspectiva artificial com base nos princípios da geometria da óptica, tal como o fizera com a pretensão de fidelidade, afirmando que “o comportamento da luz não sanciona quer a forma usual quer qualquer outra forma de interpretar o espaço; e a perspectiva não fornece nenhum standard absoluto ou independente de fidelidade.”140
Os exemplos apresentados na argumentação de Goodman ilustram situações comuns da prática artística que, como tal, no âmbito da sua teoria, apresentam figuras segundo uma construção do mundo que lhes serve e que é correcta, mas que é uma opção possivel entre muitas outras. No entanto, as suas considerações acerca destes casos baseiam-se numa interpretação duvidosa ou, pelo menos, são expostas de forma pouco clara, acerca das regras da perspectiva. Perdoe-nos o leitor se reservamos estas questões de pormenor para a parte final deste texto que, de resto, não chegam a abalar o edifício teórico de Goodman.
As objecções de Goodman aos fundamentos da perspectiva concorrem não somente para refutar a sua pretensão da fidelidade e as suas regras internas, como para afirmar a sua natureza convencional. Goodman defende esta opinião com base no argumento da familiaridade. A aparente
e relativa fidelidade de uma figura realizada segundo as regras da perspectiva depende da habilidade do artista e de outros variados factores, entre os quais os hábitos de ver e representar imbuídos no observador. A perspectiva depende então da familiaridade com o sistema convencional de representação e a capacidade para interpretar representações figurativas segundo as suas regras tem de ser adquirida.
Se considerarmos um indivíduo oriental ou oriundo de uma cultura pictoricamente inocente este tem de aprender a interpretar uma representação pictórica em perspectiva, com cujas regras não estava familiarizado. Também um indivíduo, como qualquer um de nós, cujas referências visuais e artísticas estejam condicionadas e habituadas ao sistema de representação tradicional ocidental, deve aprender a ver de modo a ser capaz de interpretar uma imagem ou pintura produzida sob qualquer outro sistema. Nós, que nascemos no líquido amniótico da cultura visual ocidental, aínda vemos através do olho ciclópico da perspectiva. Mas lembremos que a condição
139 idem, p.19 140 ibidem
66
prepotente desse olho único, fixo e imóvel, que Goodman com fundamento desdenha, deu ao espectador o lugar previlegiado para quem toda a cena pictórica se constrói.
Quando Van Eyck, no bordo do espelho côncavo no fundo do quadro O Retrato dos Arnolfini, inscreve “Johannes de eyck fuit hic” - “Jan Van Eyck esteve aqui” - reenvindica, mais do que a autoria da pintura como será comum doravante, a presença do autor como testemunha da cena. O espelho como um olho no centro da composição marca o lugar de onde o espectador pode contemplar o quadro e dizer, como o pintor, que esteve lá.
68
“Though their particulars are those
That each particular artist knows,
Unique events that once took place
Within a unique time and space, In the new field they occupy
The unique serves to typify,
Becomes, though still particular, An algebraic formula,
An abstract model of events
Derived from dead experiments,
And each life must itself decide To what and how it be applied.”
W. H. Auden, “The New Year Letter, 1940”
A ideia, reconhecida por Gombrich e Goodman, de que é preciso aprender a ver revela-se
muito mais rica e esclarecedora do que a antiga hipótese segundo a qual a realidade estável e uniforme é registada por um sistema receptor passivo, de modo que aquilo que é visto é idêntico para todas as pessoas e fornece uma referência universal. Ambos os autores assentam no facto de que a percepção visual decorre de um processo complexo e activo, condicionado e informado
culturalmente. Se a nossa percepção se limitasse à informação fornecida pela luz, como pretendiam os
antigos pensadores e também teóricos como o psicólogo J. Gibson, sem inferirmos inconscientemente sobre esta, interpretariamos uma imagem de duas figuras humanas distanciadas entre si como a de duas pessoas no mesmo plano, mas de dimensões diferentes ou, como diz Winner, “um elefante à distância pareceria menor que uma pessoa próxima.”141 Esta mesma autora compara e relaciona os pontos de vista de Ernst Gombrich e Nelson Goodman, designando as ideias do primeiro de Teoria Construtivista e do segundo de Construtivista- 141 v. Winner, ob.cit., p.90
69
Convencionalista, querendo com isto dizer, se bem que de forma pouco desenvolvida, que os dois autores partem do princípio de que a representação pictórica tal como a percepção visual resulta
de um processo activo e participado. Vimos, em Gombrich, que a percepção das imagens é empiricamente guiada pela experiência, conhecimento e expectativas prévias, logo, as figuras não se assemelham objectivamente com o que representam, antes essa semelhança que os observadores experimentam é imposta. Goodman parte deste fundamento, para acrescentar a ideia de que na representação pictórica só a familiaridade com as convenções utilizadas possibilita uma interpretação correcta.
Em suma, e recordemos aquilo que foi dito nas Partes I e II deste trabalho, acerca dos pontos de vista de, respectivamente, Ernst Gombrich e Nelson Goodman, Winner conclui que “…enquanto que a teoria construtivista clássica considera que compreendemos as imagens pelo que sabemos acerca dos objectos representados, o ponto de vista convencionalista considera que o fazemos porque conhecemos outras imagens.”142
Não podemos também esquecer que tanto a formação académica como os objectivos teóricos dos dois autores são distintos. Enquanto Gombrich se estende, por exemplo, na revisão das teorias em torno dos fenómenos da percepção visual e do funcionamento da visão humana, Goodman raramente os considera na sua argumentação, excepto em WW, onde diz, a propósito e com alguma ironia, suspeitar que “o sistema visual, enquanto se diverte a fazer o mundo servi-lo, tem um gozo incidental em frustrar a nossa busca de uma teoria.”143 Este filósofo nem tão pouco está preocupado
em distinguir a visão da representação - se ambas são relativas aos sistemas simbólicos e aos esquemas conceptuais, e igualmente dependentes do hábito, a construção dos objectos na representação pictórica corresponde de certo modo à construção dos objectos na percepção visual.
Devemos salientar os traços fundamentais do pensamento de Nelson Goodman, que o
distinguem do de Ernst Gombrich, e cujas consequências determinam a principal diferença entre os dois autores relativamente ao nosso problema.
Nelson Goodman, ao considerar que construimos versões-de-mundos através de sistemas simbólicos define lapidarmente a natureza convencional de toda a representação. Dizemos toda a representação porque esta ideia compreende, e só pode compreender, todas as formas de
142 idem, p.95 143 Cf. “A Puzzle about Perception”, WW, p.79 e ss; neste texto, Goodman começa por constatar os limites da visão e a relação desta com as expectativas e o conhecimento que lhes está associado. Propõe-se abordar alguns casos em que vemos o que não está diante de nós, como é o caso do ‘fenómeno phi’ ou percepção do movimento aparente, que lhe colocam alguns problemas teóricos intrigantes. No entanto, e apesar de abordar áreas científicas do nosso interesse, este texto não parece contribuir em muito para o nosso trabalho, com excepção de uns quantos argumentos apresentados pontual e implicitamente contra a ideia do olhar inocente.
70
representação que não são mais que versões-do-mundo, diferentes porque servem diferentes funções e são condicionadas por contextos culturais distintos. Julgar uma determinada forma de
representação pictórica como melhor, mais eficaz ou fiel para simbolizar o mundo, seria o mesmo que previlegiar uma versão-de-mundo em relação a outras versões existentes ou possíveis porque se aproxima mais do mundo tal como ele é. Ora, se não podemos considerar o mundo como uma entidade estável e passivamente disponível, cuja existência é exterior às formas do nosso discurso e representação, não podemos avaliar por princípio quão próxima é uma versão. Logicamente, Goodman não poderia eleger em absoluto determinadas formas de representar pictoricamente o espaço porque este, como as demais coisas do mundo, é um produto da nossa construção. É importante lembrar neste momento que a concepção construtivista e pluralista de Goodman não pode ser entendida como uma espécie de libertino “vale-tudo”, e que nem todas as construções são admissíveis sob a exigência de correcção. Mas, se entendesse a perspectiva como a única construção exacta e rigorosa para representar o espaço que percepcionamos Nelson Goodman teria dado um tiro no seu próprio pé, ou poderiamos dizer que a sua teoria tinha pés de barro. Aberta essa excepção, seriamos forçados a admitir que, para este filósofo, algumas convenções são melhores do que outras ou, por absurdo, que as convenções são mais ou menos convencionais. Estranhamente, é isto que Gombrich parece pensar.
Senão vejamos: tal como Goodman, Ernst Gombrich recusa a ideia de um mundo passivo e imutável ao alcance dos nossos sentidos abertos em estado puro, afirmando a natureza
condicionada e culturalmente instruída do nosso aparelho perceptivo e conceptual. Pontualmente, ao longo do texto de AI, por entre avisos e contradições, vai dando pistas e argumentos que corroboram uma interpretação da representação pictórica como fundamentalmente convencional. Mais tarde, no texto de IE recalcitra e dá-se como culpado por anteriormente ter insistido na possibilidade de uma linguagem da representação pictórica e desprezado a teoria mimética da representação.144
Mesmo em AI, Gombrich, certo de que o mundo não se pode parecer com nenhuma representação pictórica, contida no seu suporte bidimensional, admite que algumas figuras planas realmente se parecem com o mundo.145 E quais são então estas representações que se podem gabar de ter conseguido aproximar do mundo? Para o historiador não são certamente aquelas feitas por uma criança quando copia a pintura de Constable ou as que dominam a imaginação de um idoso japonês ignorante acerca das leis da perspectiva, mas talvez a pintura original de Wivenhoe Park e as figuras representadas segundo a perspectiva. Então, e apesar de Gombrich ter defendido
144 V. E.H., Gombrich, “Image and Code: Scope and Limits of Conventionalism in Pictorial Representation”, (1978), em IE, 1986, pp.278-297 145 “Not, be it said, because the world really looks like a flat picture, but because some flat pictures really look like the world.”, AI, p.278
71
eloquentemente a ideia de que o olhar inocente é cego, devemos admitir que ele considera que alguns olhos são mais inocentes ou cegos do que outros.
Mas seria percipitado da nossa parte acentuar as contradições do pensamento de Ernst Gombrich. Sem dúvida que estas nos causam alguma perplexidade mas o contributo deste autor para sublinhar o papel do espectador, a natureza condicionada da percepção visual e os aspectos convencionais da representação, é inquestionável. É na interpretação do problema da perspectiva artificial que o ponto de vista de Gombrich apresenta uma maior vulnerabilidade, como denunciou Goodman. A pretensão que o nosso olhar previlegia determinados modos de representação reverte a favor da ideia de que a percepção visual, ao invés de ser condicionada pelo hábito, interesses e expectativas do percipiente como Gombrich frequentemente defende, pode ser aberta como uma porta com a chave mestra do ilusionismo pictórico.146 Gombrich, em parte, redime-se desta incongruência ao tratar a perspectiva como um processo flexível de esquema e correcção pelo qual a representação pictórica é testada, como uma hipótese científica, contra a experiência da visão.
A visão, concordam Gombrich e Goodman e nunca é demais repetir, é um produto da experiência cultural e compreende também a experiência de fazer e ver imagens. O confronto que Gombrich propõe entre o mundo e as representações pictóricas deste, mediado pela nossa visão, só poderia constituir um teste válido se dispusessemos de uma realidade pré-construida, nua e crua, mas esta já vem vestida e preparada com os diversos trajes e modos de representação, o que nos leva de volta a Nelson Goodman.
Esta apresentação sumária e comparativa poderia, alterada a ordem de entrada dos parágrafos no presente texto, resultar numa síntese conclusiva, mas interessou-nos sobretudo sublinhar as questões centrais da argumentação destes autores chamando deste modo a atenção para a fractura decisiva e inconciliável entre os dois pontos de vista. No entanto, tendo em conta o domínio estrito e específico do nosso tema devemos examinar com mais detalhe as questões mais finas que se nos colocam.
Nos próximos capítulos seguiremos a estratégia implícita e dispersa ao longo dos textos de Gombrich e Goodman acerca do problema da representação pictórica do espaço. Assim sendo vamos, em primeiro lugar, dirigir-nos ao fundamento externo da perspectiva artificial enquanto método fiel e rigoroso de representação realista ou naturalista na pintura figurativa; e, em segundo lugar, ao fundamento interno da perspectiva que arroga possuir leis exactas e rigorosas e se pretende equivaler ao funcionamento da visão humana e corresponder aos princípios da geometria da óptica.
146 “…[Gombrich] ignores his own warning that ’our’ senses are windows through which a purposive and acculturated imagination is looking, not a door that springs open to one master key.”, in Mitchell, ob.cit., p.37
72
1. A pintura figurativa
No âmbito do pensamento de Nelson Goodman os mundos construídos na arte, quer estes
sejam segundo o sistema de representação pictórica renascentista ou cubista, são tão válidos e reais como os mundos construídos no campo da ciência. Os diferentes sistemas pictóricos apenas elegem diferentes sistematizações dos objectos, segundo as suas cores ou texturas ou propriedades formais, através de diferentes conjugações de pontos ou linhas ou manchas. A consequência fundamental desta posição, e que se aplica ao problema que estudamos, é que nenhum sistema, qualquer que este seja, pode ser considerado como o mais essencial ou básico, embora possa ser mais ou menos correcto, sendo que o sistema de representação renascentista como o cubista, ou outro, são irredutíveis em si e incompatíveis entre eles.
A pintura figurativa, independentemente do sistema de representação pictórica utilizado, é aquela que refere directamente um qualquer objecto, pessoa ou assunto. Em Goodman, e seguindo a síntese realizada por Carmo d’Orey,147 as obras de arte figurativas, ao porem em evidência determinadas propriedades dos objectos representados, fornecem-nos conhecimento directo sobre estes. Também o fazem indirectamente ao tratar esse objecto como exemplo de propriedades, permitindo-nos associar e distinguir este de outros objectos e associando os seus referentes com outras etiquetas, e através destas etiquetas, com outros referentes. Não esqueçamos que as obras de arte figurativas nunca são meramente denotativas e funcionam também por exemplificação literal e metafórica. Em Goodman, o papel cognitivo da pintura figurativa resulta do facto de uma figura, ao funcionar como exemplo ou amostra, nos revelar determinadas propriedades que podemos estender e explorar para além do domínio estrito da representação.148 Gombrich segue um caminho semelhante quando, em AI, refere que o conhecimento da pintura de Van Gogh não só nos evoca e
147 V. ob.cit., p.595 148 “Assim, ao ser uma versão-de-mundo, uma o.a. figurativa não só nos apresenta uma visão nova dos objectos representados como uma visão nova das coisas em geral”, idem, p.597
73
ilumina determinados aspectos das paisagens, como passamos a ser capazes de reconhecer nas paisagens reais as propriedades que o pintor enfatizou.149
Sabemos que para o funcionamento simbólico estético de uma pintura figurativa é eventualmente mais importante, à luz da teoria de Goodman, o que esta exemplifica e exprime do que aquilo que representa, apelando ao leitor para que recorde o que dissemos na Parte II deste trabalho. No entanto, para nós, é mais importante concentrarmo-nos agora na sua função representativa.
Como já foi dito, as pinturas figurativas são normalmente classificadas como realistas ou naturalistas quando nos apresentam supostamente as coisas como elas são ou como as vemos. Em LA, Nelson Goodman refuta as explicações tradicionais do realismo na pintura figurativa considerando que este não é distinto da representação comum nem independente da convenção. De facto, Goodman e Gombrich estão de acordo quanto ao carácter culturalmente relativo e variável do realismo pictórico. Ou estavam de acordo até Gombrich ter criticado em IE o absoluto relativismo de Goodman em relação ao problema do realismo que o leva a dizer que uma pintura egípcia pode ser tão realista como uma de tradição académica oitocentista. O ataque cerrado no discurso de Gombrich ao ponto de vista convencionalista é cortado por Goodman numa resposta em carta, parcialmente publicada numa nota a esse texto, onde este simpaticamente diminui a importância da divergência entre ambos e diz “não negar que o realismo na representação tem algo a haver com a semelhança, mas apenas instar que uma afecta a outra e nenhuma segue standards únicos ou
absolutos.”150 Mas, se observarmos bem quando, em AI , Gombrich defende uma interpretação do realismo,
e de resto de toda a arte, baseado na ilusão relativizada pelo contexto, formação cultural e expectativas do percipiente, Goodman já não o acompanhava. A sua recusa desta justificação prende-se com as condições artificiais de observação exigidas e com uma objecção de princípio. No âmbito da teoria de Goodman se consideramos mais realista uma pintura a vermelho de uma maçã vermelha do que uma a verde da mesma maçã é porque estamos habituados ao uso convencionado da tinta vermelha para representar objectos vermelhos, mas a convenção poderia ser outra como, por exemplo, o uso da cor complementar.151
O que acabamos de dizer refere-se ao conteúdo informativo de uma representação que para Goodman não é uma qualidade intrínseca mas depende do conhecimento das convenções
149 V. Supra p.22-3 150 Goodman citado por Gombrich, IE, p.284 151 Alguns autores como Flint Schier defendem, contra Goodman, que não é necessário estar familiarizado com as convenções pictóricas uma vez que qualquer indivíduo capaz de reconhecer a cor vermelho nos objectos está ipso facto habilitado para reconhecer esses objectos representados com essa cor.V. Diana Raffman, “Perception”, in Cooper, ob.cit., p.320
74
utilizadas. Gombrich, pelo contrário, defende que a objectividade na representação pode ser medida comparando a informação fornecida por uma determinada figura com a verificada no objecto que
representa, e em PP, na recensão crítica a Art & Illusion, Goodman confronta-o com o mesmo tipo de objecções que colocara em LA para a justificação do realismo pictórico com base na quantidade de informação.152 É particularmente perspicaz a observação que Goodman faz de que o argumento da informação não é satisfatório e pode fazer perigar o ponto de vista de Gombrich que, de tão preocupado em afastar a hipótese de teoria da correspondência, se perde “na teoria da coerência”. Goodman manifesta-se também intrigado com a renitência de Gombrich em considerar a perspectiva como uma convenção, tanto mais que esta não transmite mais informação do que uma representação em cuja construção não intervenham as suas regras ou que estas tenham sido invertidas.153 Depois, na carta publicada na nota a IE, Goodman mantém a recusa quanto ao carácter inato da percepção da perspectiva, descrente do argumento de Gombrich de que esta serve particularmente bem a construção e interpretação da representação figurativa realista, mais ainda que a representação pictórica de acordo com as leis da perspectiva “restaura o sentimento de realidade”.154
O problema da representação do espaço, de que nos ocupamos, constitui precisamente o corolário de toda a discussão acerca da representação realista. A perspectiva artificial desde o Renascimento foi entendida e divulgada como o mais fiel e rigoroso método de representação realista do mundo e, se bem que actualmente assim não o pensamos em absoluto, as questões
implicadas continuam a não ter uma resposta simples e incontroversa. As principais teorias disponíveis acerca do problema, que foram já referidas pontualmente ao longo deste trabalho, resultam de posições distintas quanto ao funcionamento da percepção visual. Vimos também que Gombrich e Goodman partilham o ponto de vista dito construtivista, segundo o qual o espectador complementa a informação sensorial recebida, mas que divergem quando às motivações deste. Se, para Gombrich, a percepção da profundidade pictórica tem por base o mecanismo de projecção guiado pelos conhecimentos prévios do espectador acerca dos objectos representados, para Goodman esta justifica-se pelos conhecimentos que o espectador tem das convenções utilizadas para representar os objectos. O cerne da divergência entre os dois autores é, de facto, o papel e importância da convenção na representação em geral e mais concretamente na representação pictórica do espaço.
152 v. “Review of Gombrich’s Art and Illusion”, em PP, pp.141-6. Para rever as objecções de Goodman ao argumento da quantidade de informação para o realismo pictórico, consulte-se na Parte II deste trabalho as pp 58-60. 153 “…I think Gombrich fails to resolve a central dilemma. Having exorcised the devil of the correspondence theory of representation, he is adrift no the deep blue sea of the coherence theory; and the informational-equivalence testis not a heavy enough anchor.”, PP, p.145 154 Gombrich, IE, p.19 e 284
75
Goodman defende a absoluta convencionalidade da perspectiva pictórica, por um lado refutando os argumentos a favor da fidelidade da perspectiva, por outro apresentando o argumento
da familiaridade. As objecções que coloca à ideia de que a perspectiva possa oferecer uma representação fiel da realidade referem-se, em primeiro lugar, às condições excepcionais de observação exigidas. Sem uma encenação particular e com um observador móvel a perspectiva não pode fornecer nenhum critério de fidelidade. De resto, as condições de observação raramente são as mesmas para a figura e o objecto, e mesmo quando isso acontece tanto as nossas experiências visuais anteriores como outro tipo de informação podem significar uma grande diferença no que vemos. A aparente e relativa fidelidade de uma figura realizada segundo as regras da perspectiva depende da habilidade do artista e de outros variados factores, entre os quais os hábitos de ver e representar imbuídos no observador.155
Em LA também as referências feitas em nota a dados antropológicos oferecem um conjunto de argumentos positivos adicionais reforçando o seu ponto de vista. Outros dados experimentais na área da antropologia apresentam resultados no mesmo sentido, mas estão longe de ser conclusivos.
Recentemente, uma equipa de antropólogos descobriu uma população pictoricamente inocente, que nunca produziu ou contactou com nenhum tipo de representações visuais.156 É dificil imaginar o que é crescer sem imagens. As imagens desempenham um papel integral na forma como comunicamos, aprendemos e, mais genericamente, na forma como representamos o mundo.
Na nossa cultura somos inundados de imagens e vivemos numa época em que já foi experimentada uma avassaladora variedade de modos e estilos de representação visual. A nossa sofisticação visual e pictórica é, assim, um obstáculo impedindo o acesso às respostas para o problema de quais os conhecimentos necessários para a identificação da representação numa dada imagem. A suposta inocência deste povo constitui portanto uma base fértil para investigações acerca dos requisitos mínimos para o reconhecimento pictórico. Foi mostrado a esta tribo, os Me’en, da Etiópia, uma série de fotografias e desenhos representativos de animais que lhes eram familiares e, em geral, a interpretação destas foi bem sucedida. Essa identificação não foi porém imediata e, curiosamente, primeiro reconheciam as partes distintas do corpo dos animais e só depois o todo representado. Podemos por agora concluir que, a familiaridade com a coisa representada é um requisito para a identificação das imagens, mas não podemos concluir que 155 LA, p.14 156 Esta experiência é descrita por Jesse Prinz, em “ Toward a Cognitive Theory of Pictorial Representation “, Chicago Philosophy Project, Chicago, http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/philos.html
76
exista o reconhecimento da imagem ou representação enquanto objecto. Os Me’en, como outros povos pictoricamente inocentes, não possuem as palavras “imagem”, “desenho”, “representação”,
ou termos equivalentes no seu vocabulário. Depois foram-lhes mostradas imagens de cenas de caça em paisagens que lhes eram familiares, com indicações simples de profundidade como a redução da escala dos objectos e a sobreposição parcial e foram incapazes de identificar estas figuras. Sabemos que a profundidade é estereotipicamente percepcionada de diversas formas - pode ser vista observando linhas paralelas convergindo, ou detectando objectos sobrepostos, pode ser sugerida na forma como as cores e as texturas se esbatem à distância ou pela distribuição do peso compositivo. Muitas vezes estes aspectos funcionam em conjunto, mas nalgumas sociedades previlegia-se um sobre os outros. Este facto, para alguns autores como Edward T. Hall e R.L. Gregory, é geralmente influenciado pelo tipo de ambiente e paisagem onde se vive e a incapacidade de decifrar a profundidade pictórica reside nas diferenças culturais e ecológicas.157
Esta experiência, como outras do mesmo tipo, revelou que algumas fotografias e desenhos são identificadas pelos povos inocentes pictoricamente, pelo que deveriamos concluir que algumas destas fotografias se parecem ou são mais semelhantes aos seus objectos do que outras, o que parece absurdo. No entanto, sabemos que algumas fotografias tiradas de ângulos particularmente extremos parecem imagens inverosímeis, mesmo para indivíduos habituados às reproduções fotográficas.158 No caso dos desenhos a conclusão de que alguns são mais eficazes do que outros não parece tão descabida, mas resta compreender porquê. Como se explica então que os Me’en
reconheçam, com algum esforço é certo, as figuras dos animais mas não as representações das cenas de caça nas paisagens onde habitam? E será que reconhecem de facto a semelhança numas figuras e não noutras?
Há uma objecção pragmática às conclusões que se possam extraír deste tipo de experiências: devemos compreender que algo é uma imagem, e não sabemos se os Me’en o compreendem, para podermos reconhecer o que ela representa. Temos de saber que F é uma figura para concluir que F é uma representação de um objecto O, o que não é o mesmo que identificar F com O. É necessário que exista a experiência de uma figura pelo observador para se tornar consciente a ideia do objecto dessa figura. Experimentar F como representação de O, implica a ideia de O como efeito directo de experimentar F. Por reconhecimento entendemos este mínimo e vago modo de associação.
157 cf. Edward T. Hall, A Dimensão Oculta, e R.L. Gregory, ob.cit. 158 Em IE, Gombrich refere o exemplo de uma experiência antropológica idêntica para objectar contra o convencionalismo: “At any rate it appears that learning to read an ordinary photograph is very unlike learning to master an arbitrary code.”, p.282-3
77
Mais ainda, o facto de nesta experiência terem sido utilizados desenhos realizados segundo modos de representação ocidentais não permite concluir que estes indivíduos sejam
absolutamente incapazes de interpretar a profundidade pictórica. O que parece ser possível concluir, e que reforça a posição de Goodman pelo menos em relação ao problema da representação do espaço, é que alguns aspectos da representação figurativa sejam convencionais. As comuns indicações de profundidade utilizadas na representação pictórica ocidental - sobreposição, escala relativa e, óbviamente, a perspectiva geométrica - pertencem a esta categoria, o que explicaria o facto de os Me’en não a reconhecerem. Mas se esta experiência, nas suas condições forçosamente limitadas, permite afirmar a convencionalidade da representação pictórica do espaço, levanta algumas dúvidas quanto à convencionalidade de toda a representação. Nem o ponto de vista de Goodman nem o de Gombrich permitem explicar porque é que algumas das figuras são identificadas e outras não. O argumento de Gombrich da familiaridade com a coisa representada não é suficiente, uma vez que os Me’en conheciam bem as paisagens e cenas que lhes foram apresentadas em desenhos. O argumento de Goodman de familiaridade com as convenções utilizadas na representação é válido para explicar a incapacidade de interpretação das figuras de paisagens, mas não permite explicar o reconhecimento das figuras simples de animais.
O pintor Renè Magritte ao pintar o famoso quadro Ceci n’est-ce pas une pipe deu forma e cor às interrogações levantadas quer nos textos de Gombrich e Goodman, quer na experiência
antropológica com os Me’en. Nesta obra, Magritte aponta o seu pincel contra a teoria mimética da representação, dizendo-nos que a sua pintura, tradicionalmente realista quando às técnicas formais e plásticas de representação, é apenas uma pintura e que há uma distância essencial entre figura e objecto.
78
Sabemos que Goodman fundamenta a representação figurativa na denotação e que um determinado sistema de representação pictórica consiste num conjunto de regras relacionando os
símbolos pictóricos com a denotata, ie., como o objecto da representação. Ora estas regras podem ser convenções de ordem técnica, como as da perspectiva linear ou dos modos de aplicação dos medium, ou iconográfica, como as utilizadas nas alegorias e temas religiosos. Uma das críticas feitas a Goodman, tal como a Gombrich, é a de que estes autores não distinguem os tipos de regras técnicas internas que presidem à organização da superfície pictórica das convenções iconográficas que relacionam determinadas marcas ou atributos visuais com os seus referentes.159 Não é claro que a identificação de uma figura dependa sempre do conhecimento prévio destas regras como o caso da identificação dos animais pelos Me’en. E, como nos mostra ironicamente Magritte não é por conhecermos um cachimbo que a sua figura é um cachimbo.
Mas devemos acrescentar, em favor da posição de Goodman, que o facto de as técnicas tradicionais ocidentais de representação transportarem um conjunto de convenções pictóricas explica que uma figura de cachimbo possa referir um cachimbo, apesar da ironia de Magritte. O facto de tanto as regras da perspectiva geométrica como os preceitos para a sua aplicação na pintura em particular e na arte em geral, mas também noutras formas de representação visual, terem sido transmitidas e utilizadas por várias gerações de artistas e arquitectos comprova o seu carácter convencional. A transmissão destes conhecimentos por meio de diversos manuais e tratados, como Gombrich tão bem analisou, confirma o carácter normativo da perspectiva que
permitiu a sua divulgação e assegurou a continuidade das suas convenções. De facto, o próprio desenvolvimento da pintura a partir dos finais do séc.XIX consistiu em
parte na ruptura deliberada com estas convenções, o que vem demonstrar a existência efectiva destas. Mas estas obras vieram também evidenciar a necessidade de aprender a interpretar as representações pictóricas fora do sistema da perspectiva, firmemente enraizado na tradição ocidental. Tal como um indivíduo oriental ou oriundo de uma cultura pictoricamente inocente tem de aprender a interpretar uma representação pictórica em perspectiva, com cujas regras não estava familiarizado, também um indivíduo, cujas referências visuais e artísticas estejam condicionadas e habituadas a este sistema de representação, deve aprender de modo a ser capaz de interpretar uma imagem ou pintura produzida sob qualquer outro sistema.
Sabemos que para Goodman a perspectiva é apenas um dos sistemas possíveis de organização, pictórica neste caso, tão válido e natural como qualquer outro. No sentido
159 “One of the fundamental errors in Goodman’s theory of depiction is the idea that the manufacture of pictures depends directly (in the case of pictures which have an external subject) and indirectly (in the case of pictures which do not) on rules of this kind. Another is the idea that we could not identify the subject of a picture (in either case) if we did not know these rules.”, John Hyman, “Language and Pictorial Art”, in Cooper, ob.cit., p.266
79
goodmaniano de invenção ou revelação a introdução da perspectiva artificial na representação pictórica resultou num novo grau de realismo.
O que fica por explicar, embora Goodman não se preocupe com esta questão que, de resto, não pertence ao domínio dos filósofos, é porque que é que o sistema de representação da perspectiva se afirmou progressivamente como dominante na tradição artística ocidental. Quais são as características que levaram à preferência, neste contexto, pela perspectiva artificial, em detrimento de outros sistemas de representação? E porque é que noutras tradições artísticas, como a oriental por exemplo, o mesmo não se verificou?
Em AI, Gombrich dirige-se a estes problemas considerando, como Wollflin, que nem tudo é possível em todos os períodos. “A arte nunca está livre de convenções” e estas convenções é que permitem ao historiador de arte não só datar uma determinada obra de arte como classificá-la como pertencente a determinado estilo artístico.160 O desejo de produzir representações convincentes pode ter motivado o abandono ou introdução de convenções e as modificações dos modos de representação em determinados períodos, como é o caso da pintura cerâmica grega. Goodman apoia esta posição principalmente devido à sua concepção cognitivista da função dos símbolos, que a torna por princípio transitória e dependente das circunstâncias. O que é eficaz numa época pode não o ser noutra, e assim se explica porque não somos hoje em dia capazes de interpretar uma alegoria pictórica como o faziam no séc. XVIII ou os baixos relevos de um tímpano românico.
Como Gombrich disse, e Goodman apoia-o, as diferenças de estilo na representação pictórica e as modificações nos estilos e modos de representação ao longo do tempo não podem ser explicadas com base nas diferenças de capacidade visual, dextreza manual ou virtuosismo técnico.161 As diferenças que observamos nas obras de arte resultam das diferentes experiências pictóricas a partir das tradições artísticas herdadas, mais do que da observação directa da natureza e é a partir das diversas tentativas de modificar e expandir as convenções dominantes, pelo processo definido por Gombrich como esquema e correcção, que os artistas vão construindo o seu vocabulário.162
Uma vez aqui chegados temos de nos deter. As várias e fascinantes questões que podem ser levantadas a propósito da história da representação pictórica estão muito para além dos objectivos do nosso estudo. Não pretendemos compreender o porquê das mudanças nos sistemas
160 AI, p.246. Já vimos que Gombrich é renitente e contraditório quanto ao papel da convenção na arte, e parece-nos aqui inoportuno e excessivo insistir nesse ponto. 161 V.PP, p.142 162 v. “The Analysis of Vision in Art“, AI, pp. 246-278. “What an opportunity, we may infer, to test tradition and improve upon it. It is examples such as these which explain the gradual nature of artistic changes, for variations can be controlled and checked only against a set of invariants.”, p.273
80
pictóricos de representação mas iluminar um pouco a forma como funciona um destes muitos sistemas.
Nesse sentido interessa-nos estudar um caso particular da pintura figurativa, o do Cubismo, em que os artistas exploraram o uso de sistemas representacionais que subvertem as regras habituais de representação e cujas obras não produzem representações efectivas ou verosímeis nem resultam em ilusões convincentes. As representações pictóricas nalguns períodos e culturas, como o demonstrou Gombrich, destinaram-se a outras funções que não apenas a efectivamente representativa e os diferentes sistemas pictóricos serviram estes objectivos.
81
2. O exemplo do Cubismo
À primeira vista pode parecer estranho que tenhamos incluido um sub-capítulo dedicado à
pintura cubista dentro do capítulo acerca da pintura figurativa, mas pensamos que é pertinente para o nosso tema. Se, por um lado, não podemos dizer que se trata de pinturas realistas, no sentido comum do termo, são representações figurativas uma vez que referem directamente ou denotam objectos e pessoas. Por outro lado, como veremos os pintores cubistas introduziram uma nova
concepção do espaço pictórico, recuperando esquemas de construção de tradição medieval e exótica e subvertendo as regras de representação tradicional ocidental da profundidade. Por estes motivos a pintura cubista oferece-nos uma excelente oportunidade para exercitarmos os pontos de vista de Gombrich e Goodman em relação ao problema da representação pictórica do espaço.
O Cubismo foi sem dúvida um movimento inédito na arte e com consequências inalienáveis para o rumo da pintura moderna, apesar de ter tido uma existência relativamente curta e ter sido participado por um número reduzido de artistas. O seu aparecimento resulta, no entanto, dum conjunto de circunstâncias que desafiaram as ideias instituidas acerca da pintura desde os finais do sec.XIX. A descoberta da fotografia e o consequente incremento dos meios de reprodução mecânica, que permitiu a disponibilidade e o acesso a imagens e representações de outros períodos e culturas e o desenvolvimento de novas teorias da visão, influenciaram inevitavelmente os pintores a questionarem a natureza e as técnicas de representação tradicionais.163 Desde o início do sec.XX que os artistas se afastaram progressivamente da pintura como meio para representar assuntos para questionarem a natureza da própria representação figurativa.
Neste contexto, se olharmos retrospectivamente, o Cubismo surge como um movimento aparentemente acrítico e hermético, Os seus temas predilectos - o retrato e a natureza-morta - da chamada pintura de cavalete, muitas vezes considerada um género menor, de forma nenhuma
163 Note-se que a fotografia foi, nos seus primórdios, entendida como um meio absolutamente fiel e objectivo de reproduzir a natureza e serviu na perfeição os argumentos que justificam a pintura e a percepção visual com base na óptica e na fisiologia da visão. Ao mesmo tempo, as novas teorias da visão como a de Helmholtz vieram questionar precisamente a validade dum registo óptico da luz em relação à nossa experiência efectiva do mundo visível. V. John Willats, Art and Representation - New Principles in the Analysis of Pictures, 1997, pp.271-272
82
colidem com a tradição pictórica ocidental. No entanto, e talvez por manter a figuração na representação, o Cubismo pode explorar uma nova linguagem pictórica, libertando-se da imagem
retiniana, dos modos de representação tradicionais e impondo inovações técnicas e compositivas sem precedentes. A pintura cubista exigiu para si própria transformações em paralelo com as que a modernização provocou na sociedade em geral, e nesse sentido foi absolutamente moderna.
A designação de ‘Cubismo’ não é isenta de conotações jocosas tendo origem nos comentários do público que pela primeira vez viu aquelas pinturas e os intervenientes do movimento jamais a aceitaram. Alguns dos presentes terão dito na altura que apenas viam formas geométricas e cubos. Esta impressão é bastante injustificada mas compreensível se imaginarmos a perplexidade que estas obras devem ter provocado, mesmo para um público já familiarizado com as pinturas impressionistas e pós-impressionistas. No entanto, a afirmação destes primeiros espectadores não é assim tão descabida, se acreditarmos na possibilidade de os pintores cubistas terem conhecido as recomendações feitas numa carta de Cézanne para um jovem pintor, aconselhando-o a observar a natureza em termos de esferas, cones e cilindros. Não sabemos se os cubistas partiram deste conselho, mas é inegável a influência que receberam da obra de Cézanne. Nos quadros deste artista, principalmente nas muitas naturezas-mortas que pintou, encontramos um uso criativo da perspectiva linear. As regras da perspectiva linear prescrevem que um ou mais pontos de fuga correspondam ao olhar fixo de um observador imóvel. Cézanne aplica uma técnica pioneira, que os cubistas viriam a abraçar, ao multiplicar os pontos de vista e respectivos pontos de fuga,
incongruentes entre si, sugerindo a dimensionalidade e volume dos objectos ao criar uma aparente mobilidade do observador.
Ao contemplarmos o quadro Nu sentado, de Picasso (fig.7), confrontamo-nos com um conjunto de linhas, apontando em todas as direcções, uma miríade de pontos de vista. Uma analogia possível é pensarmos neste quadro como se tivesse sido pintado, segundo todas as regras da pintura académica ocidental, num rectângulo de vidro que depois se estilhaçou. Se, ao colar os fragmentos do vidro, a sua ordem e relações originais entre as partes não tivesse sido respeitada, o resultado poderia ter sido este. De facto, e depois do nosso olhar se habituar um pouco, podemos ver algumas partes sobressaírem da pintura, ganhando relevo. Reparamos então que o nariz foi representado segundo um ponto de vista diferente daquele sob o qual vemos o braço, que por sua vez é diferente do ângulo em que vemos o ombro. O princípio construtivo é o mesmo que observámos em Cézanne, mas levado a um extremo de multiplicação. Neste quadro, como noutros quadros cubistas, o olhar do observador é assim constantemente desviado, posto sob tensão, conduzido através das contradições perspécticas, de modo a que nunca possa repousar numa interpretação imediata. Enquanto aceitarmos participar neste sofisticado jogo visual, o nosso olhar
83
manter-se-á ocupado a encontrar e resolver as ambiguidades formais através das quais os cubistas construíram a representação de um objecto sólido e tangível.
Mas os efeitos ambíguos e as contradições exploradas pelos cubistas não são inéditos na arte, como apontou Gombrich, e existem desde a Antiguidade, sobretudo como dispositivos decorativos. O exemplo já referido de alguns mosaicos romanos que utilizando padrões que impedem a fixação do olhar, criando um efeito caleidoscópico. Também nas pinturas tumulares egípcias as figuras são representadas segundo múltiplos pontos de vista, evitando a sugestão de profundidade, ao que hoje se sabe, mais por imperativos do dogma artístico do que por ignorância ou incompetência técnica.
Se observarmos os rostos das figuras de Les Demoiselles d’Avignon, o famoso quadro de Picasso considerado como a primeira obra cubista, é extraordinária a semelhança com os rostos das máscaras tribais africanas e também os seus olhos nos lembram os das figuras egípcias. É fácil compreender o fascínio que estes objectos exerceram numa geração de artistas que procurava novas soluções plásticas, por oposição à estagnação das manifestações artísticas de tradição ocidental. Estas tão diferentes obras de arte ‘primitiva’ pareciam possuir aquilo que agora os artistas procuravam - uma forte expressividade conseguida através duma estrutura clara e de grande simplicidade técnica.
Não sabemos se Picasso deliberadamente copiou as característcas formais destas obras, mas podemos especular acerca do facto de as pinturas cubistas, como a escultura africana e a
pintura egípcia, se basearem em modelos mentais dos objectos e não no desejo de ‘copiarem’ aquilo que vêm. Queremos com isto dizer que todas estas manifestações se baseiam em representações categoriais de um determinado conceito ou classe de objectos reunidas na nossa memória. É certo que estas representações dependem do hábito e isso é mais do que evidente no exemplo da pintura egípcia onde as convenções persistem durante mais de 3 mil anos. Mas podemos considerar como válida a hipótese de que é a partir de um esquema ou modelo, como pensou Gombrich, moldado por factores conjunturais, quaisquer que estes sejam, que estas representações se constróem. Chamamos a atenção para os argumentos de Gombrich apresentados na Parte I deste texto que se referem à formação do vocabulário pictórico.
Todos nós sabemos que, quando tentamos reconstruir de memória um objecto ou rosto que conhecemos muito bem, o que conseguimos ‘visualizar’ são imagens fugidias de partes isoladas de algo que sabemos uno. O somatório destas imagens de memórias, feitas de experiência visual e táctil, poderia resultar numa espécie de pintura cubista. Apesar disso, quando nos pedem para desenhar uma chávena ou um cão, estamos aptos a produzir uma única imagem. Mais ainda, se pedirmos a um grupo de várias pessoas para representarem uma chávena podemos deparar-nos
84
com diferentes capacidades de desenho, mas a maioria destes representações é semelhante entre si (v.fig.8) O tipo de chávena representado como que corresponde ao mesmo protótipo, mas o que é
mais interessante é que todas as pessoas escolhem o mesmo ponto de vista da ‘sua’ chávena, com uma perspectiva idêntica. Lembremos ainda o caso dos desenhos de uma casa que referimos na Parte I deste trabalho.
Estes dados experimentais confirmam a predominância das formas canónicas ou categoriais como representativas da memória. Todos nós temos acumulado incontáveis experiências visuais, como provavelmente vimos centenas de chávenas e casas diferentes, mas não as memorizámos a todas. A nossa memória baseia-se no armazenamento dos aspectos importantes de uma classe de objectos, que reunimos sob uma espécie de imagem mental que serve como um tipo ou modelo. O mesmo se passa com a linguagem verbal, quando reunimos sob a mesma palavra, ou etiqueta verbal, um conjunto variado de objectos que pertencem a uma mesma família. Os aspectos mais frequentemente experimentados dum objecto são assim armazenados e reconstruídos como uma abstracção que é a forma categorial.164
As pinturas cubistas transbordam de formas básicas ou categoriais, representadas de modo pouco usual. Mas, e por muito que a representação pareça fragmentada e incoerente, continuamos a percepcionar o objecto representado. O princípio construtivo da pintura cubista conduz para aquilo que tem sido descoberto acerca do modo como processamos a informação visual. O modo pluralista como pintaram uma garrafa, uma mesa ou um violino, não impede que estes sejam reconhecidos. A
memória que um indivíduo tem de um violino pode ser mais ou menos precisa e subtil do que um violino na memória de um outro indivíduo mas, e nos seus aspectos mais básicos e elementares, não diferirão muito entre si. O que os cubistas realmente nos vieram demonstrar foi o facto de sermos capazes de reconhecer figuras familiares, mesmo sob completas modificações e subversões das técnicas de representação, das cores, contornos e formas dessas figuras. Se estes dados confirmam a condição para o reconhecimento da representação, apresentada por Gombrich e Goodman, de familiaridade com os objectos representados, deixam-nos algumas reservas quando a um dos argumentos expressos por Goodman.
Este filósofo propunha como critério de realismo na representação figurativa a familiaridade com as convenções utilizadas ou, melhor dizendo, a proximidade entre o sistema de representação empregue numa determinada pintura e o sistema de representação dominante na cultura da época. Sabemos que as pinturas cubistas não foram consideradas na altura como realistas, nem actualmente o seriam, pelo que as condições propostas por Goodman são plenamente válidas. Mais
85
ainda, realismo aplica-se à pintura cubista no sentido de revelação e assunto, como facilmente concluímos a partir daquilo que temos vindo a expor acerca deste movimento. Mas como pode
Goodman explicar que os objectos representados nestas pinturas sejam reconhecidos por um público que não estava familiarizado com as convenções pictóricas utilizadas?
É precisamente este autor que confronta em LA o critério de realismo baseado na quantidade de informação e, em PP, o ponto de vista de Gombrich com base em idêntica justificação, com o argumento que duas pinturas do mesmo objecto, sendo que numa as regras de representação pictórica tradicional foram invertidas, pode fornecer a mesma quantidade de informação acerca do objecto representado e ser tão realista quanto a outra pintura que respeite essas regras. Ora, as pinturas cubistas estão para a pintura de tradição ocidental como a primeira pintura está para a segunda, e assim Goodman continua a marcar pontos. Só que este acrescenta que a primeira pintura, ao contrário da segunda, precisa de ser correctamente interpretada, isto é, temos que possuir a chave para decifrar as convenções presentes e as regras que presidem à sua construção. E será então possivel que os primeiros apreciadores do Cubismo dispusessem dessa chave? Surpreendentemente a resposta é sim uma vez que as pinturas cubistas apresentaram, se bem que de forma inédita, modos e técnicas de representação que já eram conhecidas e utilizadas muito tempo antes, como demonstraremos daqui em diante. Além disso, lembramos que nesse periodo as pessoas já tinham visto as obras de Cézanne, as pinturas impressionistas e as estampas japonesas, as esculturas africanas e muitas outras reproduções fotográficas.
Por exemplo, um dos recursos frequentes na pintura cubista, a par daqueles que temos vindo a apontar, é o descolamento entre uma silhueta e o seu contorno linear, que nos provoca a impressão de estarmos a ver duas figuras sobrepostas e não apenas uma. A sobreposição de figuras é precisamente uma das mais simples chaves de representação da profundidade, presente nas pinturas rupestres de Lascaux e nos murais egípcios, mas que os pintores cubistas misturaram com modos de representação contraditórios entre si. O objectivo não seria o de anular completamente a profundidade, uma vez que a maioria das técnicas conhecidas para o fazer estão presentes, embora em deliberada competição. Tratava-se sim de chamar a atenção para o plano da pintura, como Maurice Denis poucos anos antes recomendara aos pintores Nabis: “Lembrem-se que uma pintura, antes de ser um cavalo de batalha, uma mulher nua, ou alguma anedota, é essencialmente uma superfície plana coberta de tinta com um determinado arranjo.”165
164 No artigo “Pictures in the mind?”(1990), Nelson Goodman questiona a ideia da existência de imagens mentais, mas não nos interessa aqui explorar este problema. v. Barlow, H., Blakemore, C.,Weston-Smith, M., (eds.), Images and Understanding, 1991, pp.358-364 165 citado por Gombrich, AI, p. 236
86
Se o objectivo era então o de reter o olhar na superfície da pintura, levando-o a deambular por aquilo que era especificamente plástico e formal, a representação da profundidade era
incompatível com tal propósito. Os dispositivos técnicos conhecidos para sugerir a tridimensionalidade num plano, em vez de serem um empecilho, em vez de serem abandonados, foram engenhosamente utilizados pelos pintores cubistas para obter um efeito diametralmente oposto. Como veremos a seguir, estes feitiços ilusionistas viraram-se contra o feiticeiro, driblando e baralhando os olhos do observador que um dia se enfeitiçou pela Santíssima Trindade de Masaccio (fig.9). 166
Nas pinturas cubistas podemos encontrar a maioria das técnicas conhecidas de planificar uma pintura, por oposição às técnicas ilusionistas de representar a profundidade numa superfície bidimensional, de modo a manter o olhar do observador no suporte pintado. Seguiremos então a taxinomia proposta por Willats.167
Em primeiro lugar, no sistema das marcas pictóricas, temos um conjunto de sinais que concorrem para reforçar a bidimensionalidade da pintura, como i) a evidência das marcas do pincel e a sua dimensão; ii) a factura, termo utilizado pelos historiadores de arte para descrever a evidência da execução de uma pintura, no que se refere à manualidade do artista; e iii) a uniformidade da textura.168
Em segundo lugar, e no que se refere aos sistemas de desenho, são conhecidas as técnicas de representação geométrica da tridimensionalidade como a perspectiva linear, e as projecções
ortogonal, oblíqua, isométrica e axonométrica. Sabemos que a perspectiva linear foi e tem sido a mais importante técnica de representação da profundidade que os pintores cubistas evitaram, mas não absolutamente. Algumas pinturas cubistas utilizam as projecções axonométricas, a perspectiva linear invertida, ou técnicas mistas de representação que competem e se contrariam entre si. Em todos estes casos, apesar de algumas partes da pintura parecerem sugerir fortemente a tridimensionalidade, o observador não consegue encontrar sentido no espaço como um todo coerente, sendo frustradas as expectativas de ilusão de profundidade da cena.
Alguns autores, entre o quais Willats, consideram que a pintura Cubista, além de misturar e/ou inverter as regras de diferentes sistemas de representação, se baseia nos princípios da Geometria topológica. Os desenhos infantis, as caricaturas, os diagramas esquemáticos como os desenhos de circuitos eléctricos ou os diagramas do metropolitano, pertencem a este tipo de
166 Este fresco (c. 1427) pintado na igreja de Santa Maria Novella em Florença, representando um nicho com 6 figuras, é considerado como a mais antiga pintura existente realizada de acordo com os princípios da perspectiva, segundo o esquema linear e matemático desenvolvido por Brunelleschi e Alberti. 167 John Willats, ob.cit., 394 pp. 168 A variação e gradação texturais informam-nos da orientação, forma e distância da superfície dum objecto, logo da sua tridimensionalidade; v. Supra, p.30
87
conhecimento do espaço que se baseia nas propriedades mais elementares deste, a partir das relações do sujeito com a envolvente espacial através do tacto e da propriocepção, identificando o
limite como clausura e determinando relações de posição, separação, ordem e sequência. Uma criança desenha uma mesa com o tampo visto de cima e as quatro pernas de frente, e
um cubo com as suas faces quadradas; é difícil que uma criança compreenda que se representa um cubo com as faces como losangos distorcidos quando ela ‘sabe’ que são quadradas, tal como ‘sabe’ que a mesa tem um tampo rectangular e quatro pernas iguais, embora nunca a veja realmente assim. Na pintura cubista, por motivos que obviamente não são ingénuos, procurou-se recuperar esta “visão interior dos objectos”, uma espécie de realismo intelectual.169
Outra das técnicas de representação pictórica da profundidade, frequente na pintura tradicional, sobretudo de paisagem, é a perspectiva atmosférica, que prescreve que, à medida que os objectos se distanciam do observador, as diferenças tonais se vão atenuando, que as cores se tornem mais frias e menos saturadas e que percam progressivamente a nitidez dos contornos. A pintura cubista aboliu este tipo de regras perspécticas, e muitas vezes inverteu os seus princípios. No quadro Pequeno-Almoço de Juan Gris (fig.10), as cores mais quentes estão na parte superior da pintura e podem-se observar partes a vermelho onde seria de esperar a maior profundidade. Aqui a inversão das leis atmosféricas é combinada com a perspectiva linear invertida, evidente nas arestas divergentes das formas rectangulares impostas a uma composição subjacente em projecção axonométrica.
A perspectiva invertida, como o próprio nome indica, inverte a relação entre o observador e o objecto de representação presente na perspectiva linear. Os raios são projectados como que em direcção a um observador que se encontra do lado oposto ao plano do quadro e, em relação ao espectador dessa representação as linhas ortogonais divergem. A ideia renascentista de um espectador egocêntrico para quem uma eloquente cena pictórica se constroi com o previlégio de se colocar no olhar do artista é totalmente subvertida pelo uso deste tipo de perspectiva que parece abrir as figuras em direcção ao espectador.
169 Esta questão foi colocada dum ponto de vista curioso e interessante por Daniel-Henry Kahnweiler. Kahnweiler era amigo pessoal de Braque e Picasso e foi o marchant dos pintores cubistas até ter sido declarado como inimigo estrangeiro quando eclodiu a 1ª Guerra Mundial, sendo expulso e a sua colecção confiscada. Refugiou-se na Suiça, onde se dedicou a produzir um trabalho teórico pioneiro acerca do Cubismo, influenciado pelas suas leituras filosóficas, em particular de Kant. Em resumo, para este autor, os Cubistas produziram uma síntese do objecto através dos princípios do esquematismo kantiano e partiram duma ideia comum à ‘Estética Transcendental’ expressa na Crítica da Razão Pura, i.e., a ideia de que os objectos não são acessíveis ao nosso conhecimento, têm uma existência per si que transcende a mera aparência, e de que estamos condicionados a priori ao Tempo e ao Espaço, conceitos caros e centrais para o Cubismo. Também O. Chédin em Sur l’Esthétique de Kant et la Théorie Critique de la Representation ensaia uma abordagem semelhante ao associar o movimento cubista com o fim da ‘aparência’ kantiana. Mas os pintores cubistas têm por objectivo ir além desta aparência, como se acreditassem que as suas investigações formais incidem sobre o objecto-em-si. Ora, se quisermos, como estes dois autores, tornar extensíveis até aqui as teses kantianas, temos de aceitar que tal objectivo está condenado desde o início. Sem dúvida que este problema é vasto e poderia ser objecto de uma outra investigação, mas infelizmente não de uma já demasiado extensa nota de rodapé.
88
Do mesmo modo, o recurso às figuras em silhueta ou em contorno linear produz uma impressão quase, senão completamente, nula de profundidade. Na pintura ilusionista ocidental, nas
fotografias, nas imagens televisivas, etc, cada ponto da superfície da imagem representa uma parte da luz emitida pela cena real. Mas, contrariamente, nas pinturas cubistas, como nas pinturas chinesas, nos mosaicos bizantinos e nas iluminuras, é comum a introdução de textos ou partes de textos partilhando a superfície pictórica. No caso cubista, estas porções impressas ou inscritas são bidimensionais e geralmente não têm qualquer função denotativa, apresentando-se como parte da cena representada, chamando a atenção para a superfície plana da imagem pictórica. No referido quadro de Gris, uma das formas rectangulares resulta dum recorte de jornal colado na tela, um dos processos técnicos mais inovadores introduzidos na arte moderna pelo Cubismo.
Este tipo de surpresas e incongruências características da pintura cubista, como a inclusão de textos, que sabemos ser comum a outras formas artísticas, e a inclusão de objectos reais através das colagens e da assemblage,170 bem como a utilização de sistemas de representação inconsistentes entre si, a que já fizemos referência neste texto, destruíram a ilusão, esmagando a imagem pictórica sobre a superfície dos quadros, afirmando a pintura essencialmente como um conjunto de marcas, formas e cores e não como um vislumbre do mundo. Foi o Cubismo que primeiro insistiu numa pintura como um sistema de representação baseado exclusivamente em dispositivos pictóricos, que não dependessem de estímulos externos nem estivessem imbuídos de uma finalidade exterior ao domínio pictórico, e que pudessem ser manipulados como símbolos de
uma linguagem específica do pensamento visual.
170 Colagem de objectos tridimensionais
89
3. A seta no olho171: visão e leis da perspectiva
Os três sistemas de desenho mais conhecidos - a perspectiva, a projecção oblíqua e a
projecção ortogonal - pertencem a uma família de sistemas conhecida como sistemas de projecção, e podem ser estudados independentemente do assunto, estilo artístico ou função para que são utilizados. Estes sistemas constituem a base de construção das relações espaciais entre objectos na maioria das representações pictóricas conhecidas. Actualmente os dois últimos sistemas são empregues sobretudo nos desenhos de engenharia e arquitectura, mas surgem em diferentes períodos e noutras culturas como base da concepção espacial nas representações artísticas, até ao advento da perspectiva, e são comuns nas pinturas chinesas, nos ícones ortodoxos, na pintura medieval e mesmo nas vistas pictóricas oitocentistas. Há que considerar aínda a perspectiva invertida e a perspectiva naïf que, não sendo sistemas muito comuns, eram frequentemente utilizados na pintura cubista bem como na pintura russa e bizantina.172
Desde que a perspectiva artificial foi estabelecida no princípio do Renascimento, que os primeiros escritos teóricos sobre arte a descreveram como a projecção das linhas ou raios da cena para o observador que, interseptando o plano designado de plano do quadro, formavam uma figura, do mesmo modo que a luz reflectida pelos objectos forma a imagem na película da câmara fotográfica. Esta ideia perpetua a tradição de que as representações figurativas derivam mais ou menos directamente da imagem retiniana, e que a geometria destas imagens corresponde à geometria da secção cruzada da luz que o olhar recebe. A invenção da máquina fotográfica, chamada na época “o lápis da Natureza”, como um meio mecânico de capturar e reproduzir esta geometria naturalmente veio reforçar esta tradição, e a fidelidade na representação pictórica passou a ser avaliada em termos de grau de realismo fotográfico.
171 Esta expressão tem origem num detalhe do fresco de Andrea Mantegna, Archeiros atirando a S. Cristovão, 1451-5, representando um homem numa janela atingido por uma seta no olho e que é considerada, por diversos autores, como uma metáfora para a arte da perspectiva e uma alusão aos escritos de Alberti. 172 Apesar de no caso destas pinturas estarem presentes os mesmos sistemas de desenho, importa sublinhar que a sua função cultural era radicalmente diferente. Enquanto os cubistas pretendiam, por razões de ordem estética, chamar a atenção sobre o plano do quadro, os pintores ortodoxos utilizaram estes sistemas de modo a evitar e contornar, ao que se supõe, os perigos latentes da idolatria rejeitada pela sua doutrina.
90
O antepassado da moderna máquina fotográfica foi a camera obscura cujo funcionamento corresponde aos princípios elementares da perspectiva. Este aparelho rudimentar consiste numa
simples caixa com um único orifício, com ou sem lente, e parece ter sido utilizado na construção das pinturas de Vermeer (v. figs.11 e 12). Martin Kemp em The Science of Art considera a hipótese de o próprio espaço, um quarto fechado, onde as pinturas foram realizadas ter sido utilizado como camera obscura.173 É certo que este dispositivo como as actuais máquinas fotográficas funcionam por efeito da luz mas será que os nossos olhos funcionam do mesmo modo? Também a perspectiva pode ser descrita em termos de projecção de luz numa superfície plana e podemos obter fotografias cuja geometria se assemelha à das figuras produzidas segundo este sistema de representação. Mas o nosso mecanismo visual é incapaz de fixar directamente uma cena como se de uma fotografia se tratasse, mesmo sob as rígidas condições de observação através de um orifício por causa do movimento ocular. Como Goodman aponta, a observação apenas com um só olho desprovido de mobilidade impede uma visão normal e “O olho fixo é quase tão cego como o olho inocente.”174 Este autor, ao contrário de Gombrich, afirma peremptoriamente que o argumento de que a perspectiva pictórica obedece às regras da geometria da óptica é totalmente falso.
De facto, e só podemos concordar que sob as condições normais de observação, vemos com dois olhos móveis, i.e., temos visão estereoscópica, podemos movimentar a cabeça e o corpo, e complementamos a informação visual com outras informações sensoriais e com o nosso conhecimento prévio, como Gombrich tão bem o demonstrou. De qualquer modo consideramos a
possibilidade de produzir figuras plausíveis em perspectiva avaliando com os nossos olhos a posição dos pontos e linhas dum objecto no espaço, sob um determinado e estrito ponto de vista, e representando estas posições por linhas e pontos correspondentes na superfície pictórica. Mas esta possibilidade não decorre do facto de as regras geométricas da perspectiva serem concordantes com o mecanismo da visão, e resultarem da geometria da óptica, nem os princípios da camera
obscura e da máquina fotográfica servem de argumento para justificar esta pretensão. Um outro problema da explicação puramente óptica da representação é que não se aplica à infinidade de pinturas cuja geometria não obedece aos seus princípios, excepto por uma qualquer interpretação arrogante baseada na ignorância e falta de capacidade dos artistas. Os desenhos das crianças, os mosaicos bizantinos e a pintura cubista, por exemplo, não podem ser interpretados como aberrações pictóricas e dificilmente são justificáveis em termos de imagem retiniana.
173 Pode o leitor divertir-se, num dia especialmente ensolarado, a verificar esta possibilidade fechando-se num quarto escuro e deixando entrar apenas um pouco de luz pelas portadas entreabertas, de modo a projectar na parede oposta à janela a cena que se passa no exterior. 174 LA, pp.12-13
91
De facto, é altamente questionável que as representações construídas segundo os sistemas de projecção e que resultam em vistas possíveis e convincentes dos objectos correspondam ao que
realmente experimentamos visualmente desses objectos, como Goodman aponta. Um dos argumentos que desafia esta possibilidade é o fenómeno da constância perceptual. O próprio Gombrich refere este fenómeno sem no entanto o confrontar de forma incisiva com o problema da correspondência entre a perspectiva pictórica e a comum experiência visual. Aquilo que os psicólogos designaram de ‘constância da forma’ refere-se à tendência que temos para vermos os lados aparentes de um objecto como a sua forma verdadeira, independentemente do ângulo de visão, tal como a tendência para ver um objecto na sua verdadeira dimensão independentemente da distância designada de ‘constância da dimensão’, vem reforçar o papel atribuído ao espectador, mas em nada indica que a percepção da profundidade pictórica seja idêntica à percepção do espaço físico, como pretende Gombrich. Pelo contrário, como muitas vezes experimentamos quando tiramos fotografias ficamos surpreendidos com os resultados após a revelação em papel - aquilo que, num determinado local, nos parecia grandioso e envolvente surge como que diminuido e tristemente desinteressante na impressão fotográfica. Também os resultados obtidos em aulas de desenho à vista revela que os alunos tendem a representar no papel um determinado modelo, uma composição de sólidos geométricos por exemplo, com dimensões maiores do que as factualmente observáveis.175
A primeira descrição de uma construção resultando numa representação em verdadeira perspectiva linear ou artificial foi dada por Alberti no seu Della pittura em 1436 e chamou-lhe “construzione legittima”. Na fig.13 temos duas construções semelhantes à de Alberti mostrando que os pontos distantes representados no plano do quadro correspondem a intersecção dos raios de luz projectados com este plano dos vértices dos mosaicos até ao observador. Esta construção pretendia substituir a anterior regra que prescrevia que, por exemplo, na representação de um pavimento cada mosaico sucessivo deveria ser reduzido em um terço da sua dimensão. Esta regra resultava numa representação em que as linhas ortogonais convergiam, mas não para um único e coerente ponto de fuga. As pinturas do proto-Renascimento como as de Giotto utilizam este tipo de perspectiva dita naïf.
Gombrich considera que o desenvolvimento da perspectiva se deveu ao descontentamento do público com as anteriores soluções pictóricas, se bem que não compreendamos como se 175 A autora desta dissertação pôde, por diversas vezes, verificar estes resultados na sua práctica como docente da disciplina de Desenho, em diferentes níveis de escolaridade. Os alunos só conseguiam compreender esta diferença de dimensão quando aplicavam um método clássico do desenho à vista e que segue os princípios da perspectiva linear:
92
demonstra esta hipótese, e às exigências da arte narrativa, como já tinha sucedido no desenvolvimento da pintura grega. A inconsistência espacial da pintura primitiva teria então
acendido o desejo de produzir construções pictóricas convincentes, recorrendo aos conhecimentos acerca da visão e aos princípios da geometria euclidiana.176
O arquitecto florentino Filippo Brunelleschi criou um dispositivo (fig.14) que demonstraria empiricamente o que em teoria começava a ser enunciado: que se poderia saber qual o aspecto de um qualquer objecto quando visto de um qualquer ponto de vista fixo no espaço. Diz-se também que Brunelleschi demonstrou os princípios da projecção central da perspectiva tendo representado o Baptistério como este se vê da porta da catedral florentina Santa Maria dei Fiore através de uma rede ai colocada. Este processo foi adoptado por muitos pintores, entre os quais Leonardo, e ficou conhecido numa espécie de versão práctica e portátil: o perspectógrafo (v.fig.15). Trata-se de uma esquadria ou moldura com uma rede quadriculada que se coloca paralelamente ao objecto que se pretende desenhar, e perpendicular ao plano de representação onde se inscreveu uma quadricula correspondente. O desenhador deve então olhar para o seu modelo com apenas um olho fixo, através de cada unidade da quadrícula, que transcreverá no suporte de representação. Se se mover ou desviar a informação contida em cada uma destas unidades modifica-se e o resultado será uma figura distorcida.
Para Gombrich, sem estas bizarras situações, estes processos demonstram factos simples da visão e produzem figuras verosímeis “conformes aos nossos padrões de verdade”.177 Pensamos
que esta formulação de Gombrich é pouco rigorosa uma vez que, em AI, tinha afirmado que as representações, ao contrário das afirmações verbais, não são verdadeiras nem falsas, indo ao encontro da opinião de Goodman.178
Em IE, Gombrich critica o “convencionalismo extremo” de Goodman afirmando que este não considera nenhuma diferença genérica entre as representações pictóricas e os mapas. Ora como vimos anteriormente no nosso trabalho esta interpretação não é correcta uma vez que, pelo contrário, Goodman nos oferece uma fina e precisa caracterização das diferenças entre os dois tipos de imagens. O ponto criticado por Gombrich refere-se exactamente à perspectiva na representação pictórica que, por oposição aos mapas, não é convencional nem requer nenhuma chave para a sua leitura. Mesmo no caso dos mapas, Gombrich afirma que estes nem sempre utilizam códigos totalmente arbitrários, recorrendo a dispositivos mnemónicos que nos evocam
esticando um braço ao nível dos olhos e, fechando um dos olhos, com auxílio de um lápis preso na mão para servir de escala avaliar as dimensões relativas dos objectos. 176 V. IE, p.190-191 e p.225 177 idem, pp.256-258 178 V. Supra, p.27
93
semelhanças de configuração, e “metáforas sinestésicas” como a atribuição de cores frias ou quentes a zonas correspondentes nos mapas climatéricos.179
A convenção na cartografia surge por conveniência operativa e as modificações que têm surgido nos mapas em diversas épocas ilustram a dificuldade de escolha entre os diferentes sistemas de representação possíveis. A perspectiva, por outro lado, é a “ferramenta necessária” para o que Gombrich chama “princípio testemunha ocular” para registar com precisão, como a fotografia o faria, o que se vê de um determinado ponto de vista, insistindo no seu desacordo com Goodman.180 Deduz-se desta argumentação que o que Gombrich pretende dizer é que a representação nos mapas é em parte arbitrária e resulta da escolha entre sistemas alternativos enquanto que a perspectiva é o único e rigoroso sistema de representação. O ponto de vista convencionalista pretenderia então que o ponto de vista fixo e monocular da representação perspéctica nos oferecesse a informação de uma visão móvel e multifacetada como a dos mapas. Mas os argumentos de Gombrich não nos parecem válidos e contradizem aquilo que ele próprio afirmara anteriormente a propósito da percepção do espaço físico e pictórico. Seria desnecessário apresentar de novo as objecções ao argumento da fotografia e ao argumento da visão, mas insistiremos um pouco mais neste último ponto.
Gombrich diz-nos que a perspectiva representa precisamente, e sublinhamos precisamente, a imagem que uma pessoa tem dum determinado ponto de vista. Vimos que este sistema nos oferece uma visão rígida, estática e monocular do espaço em muito diferente daquela que normalmente
experimentamos. Fruto dos movimentos oculares, da mobilidade corporal e da visão estereoscópica o que vemos realmente, na medida em que o podemos saber, é uma imagem irregular, nítida no centro e a curta distância e desfocada na periferia e distância, como se os contornos do nosso campo visual fossem delapidados (v.fig.16). Todos sabemos que muitas vezes nos apercebemos de objectos e pessoas nos limites exteriores do nosso campo visual sem os estarmos de facto a ver, como também vemos a ponta do nosso nariz, as maçãs do rosto e as pestanas. Estes fenómenos ocorrem porque os nossos olhos possuem três tipos de visão, a da fóvea, a da mácula e a visão periférica, para diferentes objectivos e cujo funcionamento é complementar mas não simultâneo. A referência a estas funções visuais distintas interessa-nos apenas na medida em que nos conduzem ao fenómeno da distorção periférica da perspectiva abordado por Gombrich em AI e retomado mais tarde em IE a propósito do paradoxo das colunas (v.fig.17).181
179 IE, p.280 180 idem, p.281 181 v. AI, pp. 215-218 e IE, pp.210-211
94
Este problema foi levantado por Piero della Francesca e Leonardo da Vinci e para Gombrich constitui “a excepção que confirma a regra” ou regras que a perspectiva postula. É-nos difícil
compreender como pode Gombrich chegar a esta conclusão, e ficamos preplexos com a sua explicação de que este paradoxo resulta de “a projecção geométrica por vezes nos tomar de surpresa.”182 Apesar de Gombrich admitir que este problema o confundiu inicialmente, acaba por basear o facto de, numa representação perspéctica, numa fila de colunas vista de frente as colunas laterais ficarem mais largas do que as frontais, ao contrário do que a teoria da perspectiva faria prever, na dificuldade do observador em interpretar a projecção da forma recedendo em profundidade. A distorção lateral resultante dos limites da visão foveal é aqui convocada mas Gombrich afasta a hipótese do sistema curvilíneo da perspectiva, baseado na curvatura da retina, dizendo-nos com alguma graça que nunca vemos as nossas próprias retinas, ou veriamos um mundo curvo, duplicado e de pernas para o ar.
Em IE, Gombrich regressa ao paradoxo das colunas insistindo que não pode ser usado como argumento contra a regra da perspectiva que postula o isomorfismo dos planos paralelos ao plano do quadro. Até certo ponto estamos de acordo com Gombrich mas, neste momento, é necessário que examinemos com mais detalhe as implicações deste problema que resulta do fenómeno que dá pelo nome de distorção periférica.
A explicação genérica para este fenómeno é que a secção oblíqua duma pirâmide ou cone, que pode ser o cone visual, é maior do que a sua secção perpendicular. Gombrich propõe outra
explicação e apresenta-a substituíndo as colunas do esquema de Leonardo por pilares de secção quadrada. Mas a demonstração de Gombrich esqueçe que os pilares e as colunas são desiguais entre si e não podem ser comparáveis em termos da largura projectada dos seus perfis oblíquos. A variação da largura dos objectos demonstrada por Gombrich conforme o ponto de vista é frontal ou a três quartos aplica-se tanto a pilares como edifícios regulares, mas não a colunas e esferas. De facto, a distorção periférica aplica-se indiferentemente a todos os objectos e, ao invés de ser uma excepção à regra, é efectivamente uma característica essencial da perspectiva linear. Dentro do cone visual verifica-se, na projecção central, o isomorfismo das linhas que pertencem aos planos paralelos ao plano do quadro e, se bem que existam sempre ligeiras distorções nos limites desse cone, estas são negligenciáveis.183 Em suma, o paradoxo das colunas apenas isola o fenómeno da
182 AI, p.215 183 A perspectiva linear é um caso particular da projecção central em que o eixo de projecção passa pelo vértice do cone visual, o ponto do observador, e é perpendicular ao plano do quadro. A perspectiva obedece a esta condição de ortogonalidade, tal como na projecção de diapositivos, por exemplo, é necessário que o feixe luminoso seja perpendicular ao plano de projecção. O ângulo horizontal do cone visual no qual o quoeficiente de distorção na perspectiva é negligenciável varia consoante a interpretação de diferentes geómetras, mas situa-se sensivelmente entre os 20 e os 40º, e nesse limite considera-se a perspectiva normal por oposição à perspectiva exagerada onde se verifica a distorção periférica. Cf. Michael Kubovy, The Psychology of Perspective and Renaissance Art, pp.104-110
95
distorção periférica na sua forma mais pura e se não é a excepção à regra da perspectiva, como diz Gombrich, também não infirma a sua validade.
Se bem que não desejássemos entrar em demasiadas considerações do âmbito específico da Geometria, é nestas subtis e restritas questões técnicas que reside a falha na argumentação de Gombrich. Se, em virtude da distorção periférica, todas as figuras em perspectiva são mais ou menos distorcidas, a relação entre os objectos da nossa visão e os objectos da perspectiva não pode ser considerada do ponto de vista equitativo e literalista de Gombrich. Este autor fundamenta aínda esta correspondência no fenómeno da anamorfose visual, mas mais uma vez nos parece equivocado.184
As anamorfoses são perspectivas concebidas de pontos de vista deliberadamente extremos e oblíquos que só podem ser lidas com um dos olhos e dum ponto de vista certo e, embora este argumento seja em teoria atraente é experimentalmente duvidoso. Como Goodman sublinhou o olho fixo e único é uma condição absolutamente extraordinária, e o conhecimento actual acerca da neurofisiologia da visão assim o parece confirmar.185 Mas consideremos então as seguintes situações: A - um olhar anamórfico vê a representação de uma elipse horizontal como um círculo, enquanto que B - um olhar de um ponto de vista frontal a vê como uma elipse horizontal, mas C - um círculo visto anamorficamente surge como uma elipse vertical. Ver uma elipse sob as condições da situação A, um círculo sob as condições de B e nas condições de C, é impossível. Como Norman Turner apontou, a “legibilidade de uma representação em perspectiva de pontos de vista que não o
‘correcto’ (…) não podem ser explicadas por uma teoria literalista da visão, uma anamorfose da mente.” 186
Este autor vai um pouco mais longe acusando Gombrich de hermetismo. Os objectos usados por Gombrich na sua argumentação são configurações relativas em virtude das leis da projecção geométrica, i.e., as portas, os pilares quadrados e as moedas com que este lida são apenas artefactos da perspectiva linear. Ao comparar e relacionar um artefacto perspéctico com outro da mesma natureza, Gombrich deixa realmente de fora a relação entre as coisas e as suas representações em perspectiva. De certo modo, devolve-se a Gombrich a crítica que ele antes fizera aos convencionalistas de confundirem modelos relacionais com objectos físicos, uma vez que ele também confunde as coisas com as suas representações com base numa apenas aparente correspondência literal.
184 Acerca do problema da anamorfose visual veja-se em Gombrich, AI, p.213 e IE, p.191 e 211-212. 185 “Resulta que os movimentos sacádicos dos olhos são essenciais à visão. É possivel fixar a imagem na retina de modo que, sempre que o olho se move, a imagem se desloque com ele e, por conseguinte, se mantenha fixada na retina. Quando a imagem está opticamente estabilizada, a visão dissipa-se após alguns segundos;”, Gregory, ob.cit., p.58 186 Norman Turner, “Some questions about E.H. Gombrich on Perspective”, em Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1992, p.143
96
A nossa objecção fundamental ao ponto de vista de Gombrich é a de que este não se limita a considerar os objectos e as suas representações em perspectiva como estando simbolicamente em
seu lugar apenas no que diz respeito a algumas das suas características e sob as condições estipuladas de projecção, como Goodman e Panofsky o fazem, mas pretende que sejam experimentalmente idênticas.
E, se pensarmos bem, quando é que a pintura se limitou às regras da perspectiva e ao vértice prepotente do olhar fixo do observador? Os próprios mestres do Renascimento assumiram a condição de que as suas obras seriam vistas por um olhar normal, e não por aquele exigido pela projecção geométrica ou pelo olhar anamórfico. No quadro A Última Ceia, Leonardo utiliza um ponto de vista demasiado alto para o observador ocupar e, em A Escola de Atenas, Rafael representa o espaço arquitectónico segundo a perspectiva de projecção central mas os grupos de pessoas têm diferentes centros secundários de projecção. As anamorfoses, por outro lado, são bastante raras na pintura, apesar da famosa anamorfose do quadro Os Embaixadores de Holbein, e eram construídas geralmente com auxílio da camera obscura ou de máquinas perspécticas.
Michael Kubovy oferece-nos uma excelente caracterização do uso da perspectiva pelos pintores renascentistas com o objectivo de afirmar que estes aceitaram a primazia da percepção e da intuição, empregando com parcimónia as regras da projecção central sobretudo na representação dos cenários arquitectónicos.187 Isto é explicável porque a representação perspéctica de sólidos como as esferas e colunas causa dificuldades à aplicação ortodoxa das regras deste tipo
de projecção, como é evidente no paradoxo das colunas, mas também na representação de figuras humanas e animais. No entanto, Kubovy avança com uma outra explicação: poucas são as pinturas renascentistas concebidas de acordo com o ponto de vista do observador exterior, i.e., em que o centro de projecção coincide com o eixo prependicular do observador ao quadro. Pelo contrário, como Carlo Pedretti demonstrou com a análise de A Última Ceia de Leonardo188 e que Kubovy aplica ao fresco Santiago conduzido para a Execução de Andrea Mantegna, os pintores deliberadamente criaram discrepâncias entre o ponto de vista normal do quadro e o utilizado na construção perspéctica pictórica, de modo a produzir uma experiência espiritual no observador despojando-o da sua posição física no espaço.189
A perspectiva serviu determinados objectivos espirituais da pintura renascentista, do mesmo modo que permitiu concentrar a atenção do observador no cerne da narrativa pictórica, como
187 Kubovy, ob.cit., passim 188 Cf. Carlo Pedretti, Léonard de Vinci Architecte, pp.286-289 189 Kubovy sublinha que este efeito teria um óbvio interesse religioso, concordante com a função da pintura no Renascimento, mas ia também ao encontro do espírito do neoplatonismo cujo conceito de contemplação compreendia a separação entre os olhos do corpo e os olhos da mente. V. ob.cit. p.159ss
97
sucede na Nossa Senhora com Menino de Piero della Francesca em que o ponto de fuga coincide com o olho esquerdo da Nossa Senhora, e reforçar a composição e estrutura interna da cena
representada como no caso de A Flagelação do mesmo pintor. Certamente concordamos que o uso da perspectiva constituíu um fabuloso recurso para os mestres do Renascimento para os quais o domínio das suas regras, longe de implicarem um sistema inflexível, abriu novas possibilidades pictóricas, cénicas e dramáticas.
Kubovy pretende com o seu texto enfatizar estes aspectos do papel da perspectiva na pintura, para afirmar a tese de que este sistema de representação foi o único meio de obter esse efeito espiritual no observador. Estranhamente, apesar dos ataques que este autor dirige à interpretação da perspectiva pictórica de Panofsky e, sobretudo, de Rudolf Arnheim, Herbert Read e Nelson Goodman acusando-os de “mimetophobia, o medo mórbido da escravidão imitadora”,190 Kubovy faz depender o poder dos efeitos produzidos pela perspectiva da familiaridade do observador com este método.191 Ora esta condição contradiz as objecções de Kubovy ao convencionalismo de Goodman, tocando de perto as ideias deste filósofo. Embora não possamos aceitar o carácter geral das suas críticas, partilhamos da opinião de Kubovy no que diz respeito a alguns pontos vulneráveis da argumentação de Nelson Goodman.
Consideremos então o diagrama que Goodman apresenta (v.fig.6) que ilustra um problema de representação de uma fachada situada acima do nível do observador, numa situação tal que a linha central de visão do observador é oblíqua ao plano da fachada e perpendicular ao plano de
repesentação. Goodman ensaia alterações quanto à posição do observador e quanto à posição e orientação do plano da pintura relativamente ao plano da fachada, procurando demonstrar que o feixe de raios luminosos enviado pela fachada corresponde ao feixe enviado ao observador pela representação pictórica da fachada segundo a perspectiva. Em primeiro lugar, e apesar de Goodman considerar rara essa hipótese, é possível colocar o plano de representação acima do nível dos olhos como Mantegna fez na pintura do fresco acima referido. Em segundo lugar, Goodman esquece uma quarta possibilidade de interpretar o diagrama, modificando a relação entre o observador, o plano do quadro e a fachada, que é colocar o plano do quadro perpendicular à direcção do eixo (linha a-f do diagrama) entre o observador e o centro do plano da fachada. Construíndo assim a representação, quando se recolocasse o plano da pintura paralelo ao plano da fachada e perpendicular ao eixo normal de obsevação (linha a-g do diagrama) obter-se-ia também a pretendida relação de correspondência.
190 idem, p.122 191 “I claim that, for viewers familiar with perspective, powerful effects can be achieved by creating discrepancies between the natural direction of the viewer’s line of sight and the line of sight implicit in the perspective of the painting…”, idem, p.158, sublinhado nosso.
98
No entanto, se nos limitarmos às condições normais de observação temos de concordar com Goodman que não se verifica a correspondência entre o feixe de luz da fachada e o da sua
representação pictórica. Tínhamos constatado antes que as leis da perspectiva nem sempre são concordantes com a geometria da projecção central e que a práctica do desenho em perspectiva desafia os seus enunciados teóricos, tanto no caso da distorção periférica, compensada com a restrição do ângulo de visão, como na representação de sólidos de revolução e da figura humana. Não pretendemos defender a literalidade da representação perspéctica nem infirmar as teses fundamentais de Goodman, mas somente questionar algumas das suas afirmações que nos parecem resultar, neste caso da fachada, duma interpretação incorrecta das leis da perspectiva.
Num outro exemplo Goodman dirige-se contra o fundamento de que a perspectiva pictórica obedece às leis da geometria da óptica, afirmando que apenas “esta assunção confere alguma plausibilidade ao argumento da perspectiva; mas esta assunção é simplesmente falsa.”. Até aqui não podiamos estar mais de acordo e ao longo deste texto temos dado inúmeros argumentos que sustentam a objecção de Goodman. Mas Goodman continua:
“Pelas regras pictóricas, os carris do comboio afastando-se do olhar são desenhados a convergir, mas os postes telefónicos (ou os limites de uma fachada) afastando-se para cima do olhar são desenhados como paralelos. Pelas ‘leis da geometria’ os postes deviam também ser desenhados a convergir.”192 Goodman, no mesmo parágrafo, refere explicitamente as regras pictóricas e as leis da
geometria, ou seja, refere leis e regras diferentes que, embora relacionadas, não são equivalentes e não é claro o sentido em que as usa. Será que Goodman quando fala em “regras pictóricas” está a falar das leis da perspectiva? Vimos que a teoria da perspectiva compreende, por um lado, um conjunto de postulados geométricos e matemáticos que só em parte se apoiam na geometria da óptica e, por outro lado, um conjunto de regras geométricas prácticas empregues no desenho ou representação da perspectiva linear. Vimos também que nem sempre a prática do desenho em perspectiva coincide com os seus enunciados teóricos. Quando Goodman diz que “pelas ‘leis da geometria’ os postes deviam também desenhados a convergir.” não é claro para nós se ele se refere às leis da geometria da óptica, às leis geométricas da perspectiva ou às regras do desenho em perspectiva.
Presumimos que Goodman se refere ou à lei da geometria da óptica segundo a qual o ângulo
de visão é progressivamente menor à medida que um objecto se distancia do observador ou à lei convocada pela perspectiva segundo a qual as linhas paralelas convergem para um ponto de fuga
192 LA, p.16
99
situado na direcção do olhar do observador. De qualquer modo estas leis não são uma e a mesma coisa e nenhuma constitui a base da perspectiva linear. É certo que as regras da geometria da
projecção central obrigam à convergência das linhas paralelas entre si e prependiculares ou oblíquas ao plano de representação, mas o mesmo não se aplica para as linhas paralelas ao mesmo plano. Pelo princípio do homotetia dos planos paralelos, a projecção geométrica de duas linhas paralelas ao plano do quadro, como dois postes verticais ou os limites verticais de uma fachada, resulta na representação de duas linhas igualmente paralelas entre si.
Mesmo se atentarmos ao facto que Goodman pretende com este exemplo dos postes e carris infirmar o fundamento óptico da perspectiva, a sua interpretação é mais uma vez equívoca. Uma das condições da perspectiva é que o ponto de fuga está ‘pendurado’ no olhar do observador: se o eixo de visão é prependicular ao plano de representação e paralelo aos carris então as linhas convergiam na direcção do ponto de fuga, que está na intersecção deste eixo com a linha do horizonte situada ao nível dos olhos do observador. No entanto, não deixa de ser possivel que o observador se coloque de tal modo que nem os carris nem os postes sejam paralelos ao seu eixo visual e, nesse caso, ambos deveriam convergir em projecção.
Admitimos também que Goodman esteja a considerar os conhecimentos científicos e experimentais acerca da óptica e da visão humana, aos quais temos feito frequentemente referência, por oposição àqueles que serviram de base à teoria da perspectiva. Não sabemos se a falta de clareza na argumentação de Goodman resulta de uma interpretação incorrecta da
perspectiva ou apenas de uma certa confusão acerca dos conceitos envolvidos. São certamente questões de pormenor, infelizes para um filósofo tão preocupado com o rigor e imperdoáveis para um geómetra mas que não fazem derrubar os seus argumentos principais a favor da convencionalidade da perspectiva.
Conclusões
100
Admitimos que, no início da investigação para este trabalho, tivemos a presunção de vir a
resolver de algum modo o problema em discussão entre Gombrich e Goodman relativamente à representação pictórica do espaço e à perspectiva em particular. No entanto, uma vez aqui chegados, o que conseguimos apurar do resultado desta disputa, se é que de uma disputa se trata, é uma situação de empate. O que nos parece muito claro neste momento é que o resultado não poderia de facto ter sido outro. O que se explica, por um lado, pela diferente formação teórica dos dois autores e, por outro, pela consequente diferença entre os seus objectivos e motivações.
Nelson Goodman é um filósofo cujo carácter é pautado pelo rigor e pela lógica, e a sua proposta de uma teoria geral dos símbolos, i.e., da condução de todas as nossos modos de discurso e representação a formas de simbolização convencionadas, não poderia admitir quaisquer excepções. A natureza construtivista e pluralista da sua epistemologia ou concepção do saber conduz a uma visão pluralista dos mundos que construímos, classificando e organizando segundo preferências ditadas pela necessidade, pelo hábito e pelo conhecimento, e leva-o à afirmação radical do mundo e dos seus objectos como produtos do discurso e da representação. Ernst Gombrich não chega a consequências tão extremas na sua argumentação, nem de resto esse é o seu objectivo. Como historiador de arte procura antes revisitar a história da representação pictórica, passando pelos mapas do metropolitano à pintura académica, da publicidade aos desenhos infantis, da low à high art, munido da sua erudição, da sua escrita afável e dos instrumentos fornecidos pelas
teorias da psicologia da arte e da percepção visual. O seu propósito é sobretudo o de afirmar a importância do papel do espectador na interpretação das imagens e demonstrar que este é condicionado e moldado pelas expectativas geradas pelo contexto cultural. As ambições de Gombrich são um pouco mais modestas do que as de Goodman e embora se levantem algumas hipóteses de vulto, como a possibilidade de uma linguagem da arte, não visam a elaboração de uma teoria.
Os caminhos dos dois autores encontram-se no ponto que Gombrich marca com mais força e veemência, o do lugar instruído e condicionado do espectador com base nos processos de expectativa e projecção, afirmado contra o mito do olho inocente. Mas onde o historiador se detem, hesita e contradiz, indeciso entre a natureza inata ou convencional das nossas formas de conhecimento e representação, Nelson Goodman avança afirmando-se em absoluto e peremptoriamente a favor da convencionalidade. Este filósofo oferece-nos assim um ponto de vista tão extremo quanto inédito acerca do problema da representação pictórica. De resto, devemos dizé-lo, congratulamo-nos com o facto de termos tido o previlégio de estudar dois autores que, nas suas àreas específicas, contribuíram de forma tão original e interessante para o nosso tema de estudo.
101
Acerca do problema da representação pictórica do espaço a posição de Goodman não poderia ser a de um convencionalista moderado ou relativista, sob pena de fazer perigar a sua
teoria simbólica da arte. Admitir por princípio que algumas formas de representação têm por princípio mais fundamento e são mais eficazes para traduzir a nossa visão do mundo, era considerar que o mundo não é um produto da nossa construção mas algo de imóvel e disponível do qual nos podemos aproximar mais ou menos. Mas o problema que vem colocar Goodman em confronto com Gombrich, tal como ele o anuncia em LA, é o da perspectiva linear como método
rigoroso de representar o espaço. Com efeito, a pretensão de rigor matemático e geométrico e a correspondência com a geometria da óptica sustentada pela perspectiva é refutada por Goodman com o objectivo de afirmar o carácter convencional, e dependente da familiaridade, deste modo de representação. Gombrich, de certo modo, defende igualmente a condição de familiaridade para as representações em perspectiva, considerando que estas oferecem dificuldades particulares de interpretação. No entanto, estas não lhe servem para concluir a favor da convencionalidade mas são explicáveis com base em determinados aspectos perceptivos e psicológicos do espectador. Com Ernst Gombrich os fundamentos geométricos e ópticos da perspectiva permanecem inquestionados e a sua eficácia como modo de representar o espaço físico numa superfície plana é garantida e comprovada pelo efeito produzido no espectador.
Perante esta controvérsia, verificamos que, como temos dito, os objectivos e motivações dos dois autores são fundamentalmente distintos. Nelson Goodman não faz uma abordagem
psicologista do problema e a sua argumentação, apesar de algumas imprecisões pontuais, serve uma teoria profundamente consistente. Ernst Gombrich, por outro lado, não obstante todas as contradições e inconsistências do seu discurso, consegue atingir plenamente o seu objectivo de compreender e afirmar o papel do espectador. Se não podemos concordar com muitos dos seus argumentos, no essencial sentimo-nos próximos da sua posição que, de resto, não eleva a perspectiva aos píncaros do ilusionismo virtuoso mas a mantem ao serviço de aspectos prosaicos e tangíveis do mundo e dos objectos.
A perspectiva dá à profundidade pictórica o valor temporal e extenso de um momento suspenso, uma porção do tempo e da distância. Representa a profundidade como um espaço mensurável onde as coisas e as suas figuras se organizam de acordo com convenções matemáticas e geométricas e critérios literais de representação figurativa que permitem uma investigação efectiva acerca das aparências e do modo como percepcionamos o mundo.
O pensamento de Nelson Goodman coloca as coisas num plano conceptual e metafísico que, embora teoricamente desafiante e sedutor, está fora do nosso alcançe demonstrar. Quanto ao problema da interpretação da perspectiva, a discussão entre os dois autores redunda na ancestral
102
questão entre natureza e convenção. Esta questão, que numa versão corriqueira se traduz entre o que é e o que não é inato, ocupa com sentido diversos teóricos, psicólogos, genéticistas e
antropólogos, mas para o nosso tema de estudo revela-se tão inútil quanto infrutífera. Hoje em dia a nossa experiência visual é quotidianamente contaminada por imagens da
televisão, cinema, publicidade, imprensa, através de métodos de reprodução mecânica, óptica ou digital. Apesar de tudo o que lemos e vimos, do que os psicólogos, antropólogos, filósofos ou historiadores investigaram e concluiram, da invenção e do esforço dos artistas para romper com as convenções, continuamos rodeados por imagens em que dominam as formas de representação pictórica ilusionista, baseada no uso da perspectiva, e que não mudaram muito desde o Renascimento. É certo que temos acesso a uma enorme diversidade e sofisticação de experiências visuais, o que simultaneamente enriquece e limita a capacidade de interpretação e a avaliação imparcial dos diferentes modos e técnicas de representação pictórica. O problema a que nos dedicámos mantem a sua pertinência e as dificuldades que presentemente se colocam, longe de constituirem um obstáculo intransponível, oferecem um terreno profícuo e aliciante para posteriores investigações.
106
ÍNDICE E FONTE DAS ILUSTRAÇÕES
Ilustração da capa - Paul Klee, Uncomposed Objects in Space, em R. Solso, Cognition and
the Visual Arts, p.182
Figura 1, p.15 John Constable, Wivenhoe Park, 1810, em E. Gombrich, Art & Illusion,
Estampa I (p.34)
Figura 2, p.22 Leonardo da Vinci, Folha com Estudos, c.1480, em E. Gombrich, Art &
Illusion, p.194
Figura 3, p.50 Andrea Mantegna, O Triunfo da Virtude e detalhe, 1502, em Nike Batzner,
Mantegna, col. Masters of Italian Art, Colónia, Konemann, 1998, p.97
(detalhe obtido pela autora)
Figura 4, p.55 Diego Velasquez, Papa Inocêncio X, 1650, em José Gudiol, Velasquez
1599-1660, Londres, Alpine Fine Arts Collection, 1987, p.271
Figura 5, p.56 Francis Bacon, Estudo a partir de Velasquez: Papa Inocêncio X, 1953, em
Edward Lucie-Smith, Movements in Art since 1945, p.65
Figura 6, p.67 Diagrama apresentado por Goodman em Languages of Art, p.18
Figura 7, p.85 Pablo Picasso, Nu Sentado, em R. Solso, Cognition and the Visual Arts,
p.227
Figura 8, p.87 Representações de chávenas com pires, em R. Solso, Cognition and the
Visual Arts, p.238
Figura 9, p.89 Masaccio, A Santíssima Trindade, c.1427, em R. Solso, Cognition and the
Visual Arts, p.208
Figura 10, p.90 Juan Gris, Pequeno-Almoço, 1914, em John Willats, Art and
Representation, Estampa 6
107
Figura 11, p.93 Encenação de ambiente das pinturas de Vermeer utilizando a camera
obscura, em “Vermeer, Le Maitre”, revista Paris Match, 29 Fevereiro 1996,
p.81
Figura 12, p.93 Vermeer, O Concerto, c.1665-66, em “Vermeer, Le Maitre”, revista Paris
Match, 29 Fevereiro 1996, p.83
Figura 13, p.94 Representações da “construzione legittima” de L. B. Alberti, em Philippe
Comar, La Perspective en Jeu, p.39
Figura 14, p.95 Reconstrução do dispositivo de Brunelleschi, em Jorge Sainz, El Dibujo
de Arquitectura, Nerea Ed., p.125
Figura 15, p.95 Perspectógrafos de Durer em Underweysung der Messung, 1525, em
Philippe Comar, La Perspective en Jeu, p.105
Figura 16, p.96 O que os nossos olhos vêm, em R. Solso, Cognition and the Visual Arts,
p.25
Figura 17, p.97 Representação em planta do “paradoxo das colunas” a partir de
Leonardo, em Erwin Panofsky, A Perspectiva como Forma Simbólica,
p.72
109
BIBLIOGRAFIA PRIMÁRIA1
Obras de Ernst H. Gombrich: 2
1935 recensão a J. Bodonyi, “Entstchung und Bedeutung des Goldgrunder”, Kritische Berichte
zur Kunstgeschichlichen Literatur, V
c.1936 Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart, Viena, Steyermühl
1937/38 “Goethe’s ‘Zueignung’ and Bienivieni’s ‘Amore’”, Journal of the Warburg Institute 1
1945 “Portrait Painting and Portrait Photography”, Paul Wengraf (ed.), Apropos Portrait Painting,
London
“Botticelli’s Mythologies”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 8
1948 “Icones symbolicae: the visual image in neo-Platonic thought”, Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 11
1949 “Charles Morris: Signs, language and behavior”, The Art bulletin 31
1950 The Story of Art, London, Phaidon Press (trad. Álvaro Cabral, A História da Arte, Rio de Janeiro,
Editora Guanabara, 1988*)
“The Sala dei Venti in the Palazzo dei Te”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 13
1952 “The Renaissance concept of artistic progress and its consequences”, Actas do 17º Congresso
Internacional de História da Arte, Amsterdão, publicadas em 1955
“Kunstwissenschaftt”, Das Atlantisbush der Kunst, Zurique
1953 recensão a Arnold Hauser, The Social History of Art, Art Bulletin
“Renaissance Artistic Theory and the Development of Landscape Painting”, Gazette des
Beaux-Arts, XLI, publicado em Essays in Honor of Hans Tietze
1954 “Cosi fan tutte”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 17
1 As obras consultadas, nas respectivas edições, estão assinaladas com um asterisco (*). 2 Esta bibliografia foi reunida pela autora a partir de várias fontes como o Warburg Institute of London, o Warburg Institute de Viena, a American Library Association e a Biblioteca do Congresso em Washington, aos quais teve acesso através da Internet. A lista de títulos apresentada é assim tão completa quanto possível, uma vez que não se encontrou uma outra recolha já existente e que oferecesse confiança.
110
“Visual metaphores of value in art”, Symbols and Values: an initial study; 13º Symposium
on Science, Philosophy and Religion
“Leonardo’s Grotesque Heads”, Achille Marazza (ed.), Leonardo, Saggi e ricerche, Roma
“Conseils de Léonard sur les esquisses de tableaux”, Études d’Art, Paris-Alger
“Psycho-Analysis and the History of Art”, The International Journal of Psycho-Analysis 35
recensão a André Malraux, The Voices of Silence, Burlington Magazine, Dez.
1956 Raphael’s Madonna della Sedia, Oxford, Phaidon Press
1957 “Art and Scholarship”, College Art Journal, XVII
1958 “Lessing”, Proceedings of the British Academy 43
“The Tyranny of Abstract Art”, Atlantic Monthly
1960 “The early Medici as patrons of art: a survey of primary sources”, E.F. Jacobs (ed.), Italian
Renaissance Studies
“On physiognomic perception”, Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and
Sciences, special issue: The Visual Arts
Art & Illusion: A study in the psychology of pictorial representation, Oxford, Phaidon Press, 14ª
ed.: 1995*
1961 “Renaissance and Golden Age”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 24, 3-4 1962 “Alberto Avogadro’s descriptions of the Badia of Firesole and the Villa of Careggi”, Italia
medioevale e umanística 5
1963 Meditations on a Hobby horse and other essays on the theory of art, London, Phaidon Press,
1985*
“A Grillparzer anecdote”, German and Letters 16
1964 “Fysionomi och uttryck”, Paletten 4
“Moment and Movement in Art”, conf.ª Warburg Institute, também em The Image and The Eye,
(1982), Oxford, Phaidon Press, 1986, pp.40-62*
1965 “The use of art for the study of symbols”, American Psychologist 20
“Visual Discovery through Art”, conf.ª Universidade de Austin, Texas, em The Image and the
Eye, (1982), Oxford, Phaidon Press, 1986, pp.11-39*
1966 Norm and Form, Oxford, Phaidon Press, 1985*
“The debate on primitivism in ancient rhetoric”, Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, 29
“Ritualized gesture and expression in art”, Philosophical transactions of the Royal Society of
London, Series B., Biological Sciences nº 772, também em The Image and The Eye, (1982),
Oxford, Phaidon Press, 1986, pp.40-62*
111
“Vom Wert der Kunstwissenschaft für die Symbolforschung”, Probleme der Kunstwissenschaft
2
1967 “Celebrations in Venice of the Holy League and of the victory of Lepanto”, Studies in
Renaissance and Baroque Art
“Zur Psychologie des Bilderlesens”, Röntgen-Blätter, 20
1968 “Methodenfragen der Symbolforschung”, Das Münster 21
1969 “The Variability of Vision”, C.S. Singleton (ed.), Interpretation: Theory and Practice, Baltimore
“The Evidence of Images”, C.S. Singleton (ed.), Interpretation: Theory and Practice, Baltimore
1970 Aby Warburg: an Intellectual Biography, London, the Warburg Institute
Myth and reality in German War-time broadcast, London, Athlone Press
1971 “Personification”, Classical influences on European Culture 500-1500
The Ideas of Progress and their Impact on Art, New York, circulação privada
1972 “Action and expression in Western Art”, Non-verbal Communication, Ed. R.A. Hinde,
Cambridge University Press, também em The Image and The Eye, (1982), Oxford, Phaidon
Press, 1986, pp.78-194*
“The Visual Image: Its Place in Communication”, Comunication, Scientific American, também
em The Image and The Eye, (1982), Oxford, Phaidon Press, 1986, pp.137-161*
“Zebra Crossing: Marian Wenzel: House decoration in Nubia”, The New York Review of
Books, Maio
Symbolic Images, Oxford, Phaidon Press, 1985
“The mask and the face: the perception of physiognomic likeness in life and in art” e “Post
scriptum”, em E.H. Gombrich, Julian Hochberg and Max Black, Art, Perception and Reality,
London, The John Hopkins University Press, também em The Image and The Eye, (1982),
Oxford, Phaidon Press, 1986, pp.105-136*
“The ‘What’ and the ‘How’: Perspective Representation and the ‘Phenomenal World’”,
R.Rudner e I. Scheffler (eds.), Logic and Art: Essays in Honor of Nelson Goodman, New York
1973 “The concept of cultural history”, c/ Peter Burke, The Listener 27
“Huizinga’s ‘Homo Ludens’”, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden 88
“Research in the humanities: ideals and idols”, Daedalus
“Illusion and Art”, em R.L. Gregory e E.H. Gombrich, Illusion in Nature and Art, London,
Duckworth
1974 “The Sky is the Limit: The Vault of Heaven and Pictorial Vision”, Perception: Essays in Honor of
James J. Gibson, Ithaca, também em The Image and The Eye, (1982), Oxford, Phaidon Press,
1986, pp.162-171*
112
“Art History and the Social Sciences”, Ideals and Idols, Oxford, 1979
“Mirror and Map: Theories of Pictorial Representation”, conf.ª Royal Society, também em
The Image and The Eye, (1982), Oxford, Phaidon Press, 1986, pp.172-214*
1976 The Heritage of Apelles, Oxford, Phaidon Press, 1994*
“Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye”, conf.ª Swarthmore College,
Pennsylvania, também em The Image and The Eye, (1982), Oxford, Phaidon Press, 1986,
pp.244-277*
Means and Ends: Reflections on the History of Fresco Painting, London, Thames and Hudson
1978 “Image and Code: Scopes and Limits of Convencionalism in Pictorial Representation”, conf.ª
Semiotics of Art, Michigan, Ann Arbor, também em The Image and The Eye, (1982), Oxford,
Phaidon Press, 1986, pp.278-297*
1978 recensão a Moshe Barash, Gestures of Dispair in Medieval and Early Renaissance, Burlington
Magazine, Nov.
participação no catálogo Henri Cartier-Bresson, Edinburgh, Scottish Arts Concil
1979 The Sense of Order - a study in the psychology of decorative art, Oxford, Phaidon Press, 1984*
In search of cultural history, Oxford, Clarendon Press
“Giotto’s portrait of Dante?”, Burlington Magazine 124
“The Primitive and its Value in Art”, The Listener
carta a Leonardo, XII
“The Museum: Past, Present and Future”, Ideals and Idols, Oxford
1980 “Four Theories of Artistic Expression”, Architectural Association Quarterly, 12
“Experiment and Experience in the Arts”, conf.ª Influence of the Arts and of Scientific Thought
on Human Progress, também em The Image and The Eye, (1982), Oxford, Phaidon Press,
1986, pp.215-243*
1981 Nature and Art as needs of the mind, Liverpool, Liverpool University Press
“Franz Schubert and the Vienna of his time”, The Yale Literary Magazine 149
1982 “Bicentennial Address: focus on the arts and humanities”, Bulletin of the American Academy of
Arts and Sciences 35
The Image and The Eye: further studies in the psychology of pictorial representation, Oxford,
Phaidon Press, 1986*
“Understanding Goethe”, Art History, 5
1984 Tributes: interpreters of our cultural tradition, Oxford, Phaidon Press
“The symbol of the veil: psychological reflections on Schiller’s poetry”, Freud and the
Humanities, Oxford
1985 “The embattled humanities”, Universities Quaterly 39
113
“Sind eben alles Menschen gewesen”, Kontroversen, Congresso Internacional
1986 New Light on Old Masters, London, Phaidon Press, 1993*
Kokoschka in his time, conf.ª Tate Gallery, London, The Gallery
“Pictorial instructions”, conf.ª para Simposium Internacional Rank Prize, Royal Society,
publicado em H. Barlow, C. Blakemore e M. Weston-Smith,(eds.),Images and Understanding,
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 26-45*
1987 “The problem of relativism in the history of ideas”, Storie delle idee: Problemi e prospettive, Sem.
Int. Roma
“The values of the Byzantine tradition”, The Documented Image
“They were all human beings - so much is plain”, Critical Inquiry, 13
Reflections on the history of art: views and reviews, Richard Woodfield, (ed.), University of
California Press
1987 participação no catálogo Orbis pictus, the prints of Oskar Kokoschka, Santa Barbara, Santa
Barbara Museum of Art
1989 dir. e pref. catálogo Giulio Romano, exposição em Mantua, Palazzo Te, Milão, Electa
recensão crítica a Edward S. Reed, James J. Gibson and the psychology of perception,
New York Review of Books, Janeiro
“The problem of explanation in the humanities”, Three Cultures, Symposium, Oosterbeek
1990 “My library was dukedom large enough: Shakespeare’s Prospero and Prospero Visconti of
Milan, England and the Continental Renaissance
1991 Topics of our time: twentieth-century issues in learning and in art, London, Phaidon Press, 1992
“Styles of Art and Styles of Life”, conferência na Royal Academy of Arts, Londres
1993 Looking for answers: conversations on art and science, New York, Harry N. Abrams
Künster, Kenner, Kunden, Viena, Picus
1995 Shadows: the depiction of cast shadows in Western Art, London, National Gallery Publications*
Antony Gormley, c/ John Hutchinson e Lela B. Njatin, London, Phaidon Press
1996 The Essencial Gombrich: selected writings on art and culture, Richard Woodfield, (ed.), London,
Phaidon Press
1999 The uses of images: studies in the social function of art and visual communication, London,
Phaidon Press
115
Obras de Nelson Goodman: 3 1940 “The Calculus of Individuals and Its Uses”, (c/ Henry S. Leonard), Journal of Symbolic Logic 5,
45-50
“Elimination of Extra-Logical Postulates”, (c/ W.V. Quine), Journal of Symbolic Logic 5, 104-109
1941 “Sequences”, Journal of Symbolic Logic 6, 150-153
A Study of Qualities, Diss. Harvard University; editado em New York, Garland, 1990
1943 “On the Simplicity of Ideas”, Journal of Symbolic Logic 8, 107-121
“Descartes as Philosopher”, Boston, Cartesian Research Bureau
“A Query on Confirmation”, Journal of Philosophy 43, 383-385
1944 recensão a Felix Oppenheim, Outline of a Logical Analysis of Law, Philosophy of Science, 11,
142-160
1946 recensão a Kaplan, “Definition and Specification of Meaning”, Journal of Symbolic Logic, 11, 80-
81
1947 “On Infirmities of Confirmation-Theory”, Philosophy and Phenomological Research 8, 149-151
“Steps toward a Constructive Nominalism”, (c/ W.V. Quine), Journal of Symbolic Logic 12, 105-
122
“The Problem of Counterfactual Conditionals”, Journal of Philosophy 44, 113-120
1948 recensão a Hans Reichenbach, Elements of Symbolic Logic, Philosophical Review, 58, 100-102
1949 “The Logical Simplicity of Predicates”, Journal of Symbolic Logic 14, 32-41
“Some Reflections on the Theory of Systems”, Philosophy and Phenomological Research 9,
620-626
“On Likeness of Meaning”, Analysis 10, 1-7; tb em Philosophy and Analysis, ed. Margaret
MacDonald, Oxford, Blackwell, 1966
1950 “An Improvement in the Theory of Simplicity”, Journal of Symbolic Logic 14, 228-229
1951 The Structure of Appearance, Harvard University Press; 3ªed. Boston, Reidel, 1977
1952 “New Notes on Simplicity”, Journal of Symbolic Logic 17, 189-191
“On a Pseudo-Test of Translation”, Philosophical Studies 3, 81-82
“Sense and Certainty”, Philosophical Review 61, 160-167
1953 “On Some Differences about Meaning”, Analysis 13, 90-96 1954 Fact, Fiction and Forecast, University of London, Athlone Press; 4ªed. Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1983
3 Esta bibliografia foi completada com a mais recente informação a que tivemos acesso, revista e aumentada em 1999 por John Lee, da Universidade de Edimburgo, a partir da bibliografia elaborada por S. Berka e supervisionada por P.
116
1955 “Axiomatic Measurment of Simplicity”, Journal of Philosophy 52, 709-722
1956 “Definition and Dogma”, Pennsylvania Literary Review 6, 9-14
“The Revision of Philosophy”, American Philosophers at Work, New York, Ed. Sidney Hook,
75-92
“A Study of Methods of Evaluating Information Processing Systems of Weapons Systems”, Univ.
of Pennsylvania, The Institute for Cooperative Research
“A World of Individuals”, The Problem of Universals: A Symposion, Notre Dame Univ.
recensão a William Craig, “Replacement of Auxiliary Expressions”, Philosophical Review, 65,
38-55
recensão a Hillary Putnam, “Reds, Greens, and Logical Analysis”, Philosophical Review, 65,
206-217
1957 “Determination of Deficiences in Information Processing”, Univ. of Pennsylvania, The Institute
for Cooperative Research
Letter to the Editor, Mind 66, 78
“Parry on Counterfactuals”, Journal of Philosophy 54, 442-445
“Reply to an Adverse Ally”, Journal of Philosophy 54, 531-533
1958 On Relations that Generate”, Philosophical Studies 9, 65-66
“The Test of Simplicity”, Science 128, 1064-1069
recensão a J.O. Urmson, Philosophical Analysis, Mind, 67, 107-109
1959 “Recent Developments in the Theory of Simplicity”, Philosophy and Phenomological Research
19, 429-446
1960 “The Way the World Is”, Review of Metaphysics 14, 48-56
“Positionality and Pictures”, Philosophical Review 69, 523-525
recensão a E.H. Gombrich, Art & Illusion, Journal of Philosophy, 57, 595-599
1961 “About”, Mind, 1-24
“Condensation versus Simplification”, Theoria, 27, 47-48
“Graphs for Linguistics”, Proceedings in Symposia in Applied Mathematics, Americal
Mathematical Society
“Safety, Strength, Simplicity”, Philosophy of Science, 28, 150-151
1963 “Faulty Formalization”, Journal of Philosophy, 60, 578-579
“Science and Simplicity”, Voice of America Philosophy of science Series, 16
“Uniformity and Simplicity”, 75th Anniversary Lecture, Geological Society of America
Hernandi, publicada em Journal of Aesthetic Education 25, nº1, 1991, pp.99-108. No entanto, referimos apenas a primeira e a última edição na língua original, excepto no caso em que consultámos uma outra edição.
117
recensão a David M. Armstrong, Berkeley’s Theory of Vision, Philosophy and Phenemological
Research, 23, 284-285
1965 “”’About’ Mistaken”, Mind, 74, 248
1966 “Merit as Means”, Art and Philosophy, Sidney Hook (ed.), New York, UP, 56-57
1967 “The Epistemological Argument”, Synthese, 17, 23-28
“Two Replies”, Journal of Philosophy, 64, 286-287
1968 Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis, Bobbs-Merrill; 2ªed.
Indianapolis, Hackett, 1976*
“Art and Inquiry”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 5-19
“Reality Remade”, L’Age de la Science, 1, 19-40
1969 “The Emperor’s New Ideas”, Language and Philosophy, Sidney Hook (ed.), New York UP, 138-
142
“Memorial Note”, The Logical Way of Doing Things, Karel Lambert (ed.), New Haven, Yale UP
“A Revision in the Structure of Appearance”, Journal of Philosophy, 66, 383-385
1970 “Some Notes on Languages of Art”, Journal of Philosophy, 67, 563-573
“An Improvement in the Theory of Projectability”, c/ Robert Schawrtz e Israel Scheffler, Journal
of Philosophy, 67, 605-608
“The Randolf Museum Case”, c/ Howard Gardner, para o Institute in Arts Administration,
Harvard University
“Seven Strictures on Similarity”, Modernism, Criticism , Realism, Charles Harrison e Fred Orton
(eds.), London, Harper & Row Publishers, pp. 85-92*
1971 “On J.J. Gibson’s New Perspective”, Leonardo, 4, 359-360
1972 Problems and Projects, Indianapolis, Bobbs-Merrill*
“Art and Understanding: The Need for a Less Simple-Minded Approach”, Music Educators
Journal, 58, 85-88
“Selected Confirmations and the Ravens: a Reply to Foster”, c/ Israel Scheffler, Journal of
Philosophy, 69, 78-83
“On Kahane’s Confusions”, Journal of Philosophy, 69, 83-84
Basic Abilities Required for Understanding and Creation in the Arts: Final Report (com D.
Perkins, H. Gardner e a assistência de J. Bamberger e outros), Cambridge-Harvard University,
Graduate School of Education, Proj. nº9-0283, Grant nº OEG-0-9-310283-3721 (010)
“That is: A Reply to Isaac Newton Nozick”, Journal of Philosophy, 70, 166
1974 “Much Ado”, Synthese, 28, 259
1975 “The Status of Style”, Critical Inquiry, 1, 799-811
“Words, Works, Worlds”, Erkenntnis, 9, 57-73
118
“A Message from Mars”, The Arts Spectrum, Harvard University
“Bad Company: A Reply to Mr. Zabludowski and Others”, c/ Joseph Ullian, Journal of
Philosophy, 72, 142-145
1977 “The Trouble with Root”, Linguistics and Philosophy, 1, 277-278
“Predicates without Properties”, Midwest Studies in Philosophy, 2, 212-213
“Truth about Jones”, c/ Joseoh Ullian, Journal of Philosophy, 74, 317-338
“When is Art?”, The Arts and Cognition, David Perkins e Barbara Leondar (eds.), John Hopkins
UP, 11-19*
1978 Ways of Worldmaking, Indianapolis, Hackett; paperback: Indianapolis, Hackett, 1985*
“The Short of It”, c/ Joseph Ullian, Journal of Philosophy, 75, 263-264
“Comments on Wollheim’s Paper: ‘Are Criteria of Identity that Hold for a Work of Art in the
Different Arts Aesthetically Relevant?’”, Ratio, 20, 49-51
“In Defense of Irrealism”, (carta ao editor), New York Review of Books, 25.20, 58
recensão a Ludwig Wittgenstein, Remarks on Color, Journal of Philosophy, 75, 503-504
1979 “On Matter over Mind”, (carta ao editor), New York Review of Books, 26.8, 42
“Metaphor as Moonlighting”, Critical Inquiry, 6, 125-130
“J.J. Gibson’s Approach to the Visual Perception of Pictures”, Leonardo, 12, 175
1980 “Twisted Tales - or, Story, Study and Symphony”, Critical Inquiry, 7, 103-119
“The Telling and the Told”, Critical Inquiry, 7, 799-801
“On Starmaking”, Synthese, 211-216
1981 “Perspective as Convention - on the Views of Goodman and Gombrich”, Leonardo, 14, 86
“Routes of Reference”, Critical Inquiry, 8, 121-132
“Ways of Worldmaking”, Leonardo, 14, 351
1982 “The Fabrication of Facts”, Relativism, Cognitive and Moral, J. W. Meiland e M. Krausz (eds.),
Notre Dame, Notre Dame UP, 18-29
“Implementation of the Arts”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 40, 281-283
“On Thoughts without Words”, International Journal of Cognitive Psychology, 12, 211-217,
também em Of Mind and Other Matters, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1984,
pp.21-28*
“Fiction for Five Fingers”, Philosophy and Literature, 6, 162-164, também em Of Mind and Other
Matters, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1984, pp.123-126*
1983 “Realism, Relativism and Reality”, New Literary History, 14, 269-272
“Modes of Symbolization” e “Afterword: An Illustration”, What is Dance?, R. Copeland e Marshall
Cohen (eds.), Oxford, Oxford UP, 66-84
119
“The Role of Notation”, What is Dance?, R. Copeland e Marshall Cohen (eds.), Oxford, Oxford
UP, 399-410
“Notes on the Well-made World”, Erkenntnis, 19, 99-108
“Representation and Realism”, c/ M. Brinker, Iyyun, 32, 216-222
1984 Of Mind and Other Matters, Cambridge, Mass., Harvard University Press*
“Relativism Awry: A Response to Feyerabend”, New Ideas in Psychology, 2, 125
1985 “Statements and Pictures”, Erkenntnis, 22, 265-270
“How Buildings Mean”, Critical Inquiry, 11, 642-653
“The End of the Museum”, Journal of Aesthetic Education, 19, 53-62
1986 “Pictures in the mind?”, conf.ª para Simposium Internacional Rank Prize, Royal Society,
publicado em H. Barlow, C. Blakemore e M. Weston-Smith,(eds.),Images and Understanding,
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 358-364*
“Interpretation and Identity - Can the Work Survive the World?”, c/ Catherine Z. Elgin, Critical
Inquiry, 12, 564-575
“A Note on Copies”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 44, 291-292
“Nominalisms”, The Philosophy of W.V. Quine, Lewis E. Haln, Paul A. Schilpp, La Salle, III, Open
Court
“The Nature And Function Of Architecture”, Domus, 672, 17-28
1987 “Changing the Subject”, c/ Catherine Z. Elgin, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 46, 219-
223
“Variations on Variation - or Picasso Back to Bach”, Essays in the Philosophy of Music, V.
Rantala, L. Rowell e E. Tarasti, Helsínquia, Acta Philosophica Fennica
1988 “On Some Wordly Worries”, publicado pelo Autor em Emerson Hall, Harvard University,
Cambridge, MA
Reconceptions in Philosophy and other Arts and Sciences, (c/ Catherine Z. Elgin), Indianapolis,
Hackett*
Introdução a “Aims and Claims”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 46, 419
1989 “Just the Facts, Ma’am!”, Relativism: Interpretation and Confrontation, Michael Krausz, Notre
Dame, U. Notre Dame Press, 80-85
“Savoir et Faire”, c/ Catherine Z. Elgin, trad. Jacques Riche, Encyclopedie Universelle 1:
L’Univers Philosophique, Andre Jacob (ed.), Paris, Presse Universitaire de France, 520-528
“Authenticity”, The Dictionary of Art, Jane S. Turner (ed.), London, Macmillan
1992 “Contraverting A Contradiction. A Note on Metaphor and Simile”, Poetics Today, 13, 807-808
1993 “Status and System: from the 1st Part of the Author’s Doctoral Thesis ‘A Study of Qualities’”,
Revue Internationale de Philosophie, 47, 99-139
121
BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA
Obras consultadas: ALBERTI, Leon Battista, De Pictura, (trad. it. Lodovico Domenichi, La Pittura, Arnaldo Forni editore, 1988) “ “ , (c.1450), De re aedificatoria, (trad, ing. J. Rykwert, N. Leach e R. Tavernor,
On the Art of Building in Ten Books, Cambridge, Mass., MIT Press, 1988, 441 pp.)
ARNHEIM, Rudolf, (1954), Art and Visual Perception, University of California (trad.port. Ivonne T.
Faria, Arte e Percepção Visual, Nova Versão, São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 3ªed., 1986, 503 pp.)
BARLOW, H.., BLAKEMORE, C., e WESTON-SMITH, M., (eds.), Images and Understanding, Cambridge,
Cambridge University Press, 1991, 401 pp. BAXANDALL, Michael, (1995), Shadows and enlightenment, Yale University Press (trad.cast. Amaya
Chamorro, Las sombras y el Siglo de las Luces, Madrid, Visor, 1997, 201 pp.) BOULEAU, Charles, (1963), Charpentes: La Géometrie Secrète des Peintres, Paris, Éditions du Seuil, 1987,
266 pp. CARPENTER, T.H., (1991), Art and Myth in Ancient Greece, London, Thames & Hudson, 1996, 256 pp. CARREÑO, Francisca Pérez, Los placeres del parecido - Icono y representación, Madrid, La Balsa de
Medusa,1988, 209 pp. CHÉDIN, O., Sur l’Esthétique de Kant et la Théorie Critique de la Representation, Paris, Librairie
Philosophique J. Vrin, 1975, 287 pp. CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, (1969), Dictionnaire des Symboles, Paris, Éditions Robert Lafont e
Éditions Jupiter, 1982 COMAR, Philippe, La Perspective en jeu - Les Dessous de l’Image, Paris, Découvertes Gallimard - Sciences,
1992, 128 pp. COOPER, David, “Gombrich, Sir Ernst”, em COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford,
Cambridge, Blackwell Publishers, 1995, pp. 172-175
122
D’OREY, Maria do Carmo, A Exemplificação na Filosofia da Arte de Nelson Goodman, Dissertação de Doutoramento em Filosofia, Universidade Clássica de Lisboa, 1992, 733 pp.
DAMISH, Hubert, L’Origine de la Perspective, Paris, Champs-Flammarion, 1993 DANTO, Arthur, The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1981 DIDI-HUBERMAN, Georges, Ce Que Nous Voyons, Ce Qui Nous Regarde, Paris, Les Éditions De Minuit,
1992, 209 pp. DIETER, Peetz, “Some current Philosophical Theories of Pictorial Representation”, The British Journal of
Aesthetics, Volume 27, nº3, Summer, 1987, pp. 227-237 ECO, Umberto, (1987), Arte e Bellezza nell’Estetica Medievale, Milão, Bompiani ( trad. António Guerreiro, Arte
e Beleza na Estética Medieval, Lisboa, Editorial Presença, 1989, 198 pp.) ELGIN, Catherine Z., “Depiction”, em COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford, Cambridge,
Blackwell Publishers, 1995, pp.113-116 “ “ , “Goodman, Nelson”, em COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford,
Cambridge, Blackwell Publishers, 1995, pp.175-177 ELKINS, James, (1996), The Object Stares Back - On the Nature of Seeing, NY, Harvest Book, Harcourt
Brace & Company, 1997, 271 pp. EROUART, Gilbert, Architettura come pittura, Milão, Electa Editrice, 1982, 247 pp. FISHER, John, “Some New Problems in Perspective”, The British Journal of Aesthetics, Volume 27, nº3,
Summer, 1987, pp. 201-211 FREEDBERG, David, “Iconoclasm and Idolatry”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics,
Oxford, Cambridge, Blackwell Publishers, 1995, pp.207-209 GAGE, John, Colour and Culture, London, Thames & Hudson, 1993, 335 pp. GARRONI, E., “Espacialidade”, trad. Maria Bragança, em GIL, Fernando, (coord.), Enciclopédia Einaudi,
Criatividade-Visão, Volume 25, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1992, pp.194-221
GREGORY, R.L., (1966), Eye and Brain - The Psychology of Seeing, London, Weidenfeld & Nicolson
(trad.port. Álvaro Cabral, Olho e Cérebro - psicologia da visão, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1979, 251 pp.)
HALL, Edward T., A Dimensão Oculta, Lisboa, Relógio D’Água, 1986, pp.230 HANSON, N.R., (1958), “Observation”, Patterns of Discovery, London, Cambridge University Press (em
Harrison, Charles e Orton, Fred, (eds.), Modernism, Criticism, Realism - Alternative Contexts for Art, London; Harper & Row, 1984, pp.69-83),
HARRISON, Charles e ORTON, Fred, (eds.), Modernism, Criticism, Realism - Alternative Contexts for Art,
London; Harper & Row, 1984
123
“ “ “ , Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas, Oxford, Massachussets; Blackwell Publishers, 1997 (10ª edição)
HOPKINS, Robert, Picture, Image and Experience, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 205 pp. HYMAN, John, “Language and pictorial art”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford,
Cambridge, Blackwell Publishers, 1995, pp.261-268 “ “ , “Perspective”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford, Cambridge,
Blackwell Publishers, 1995, pp.323-327 KEMP, Martin, The Science of Art - Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat, New Haven,
Yale University Press, 1990, 375 pp. KLEE, Paul, (1957), Tagebucher 1898-1918, Colónia, DuMont Buchverlag & Co (trad. Jas Reuter, Diarios
1898-1918, Madrid, Alianza Editorial, 1993, 322 pp.) KORSMEYER, Carolyn, “Instruments of the Eye: Shortcuts to Perspective”, emThe Journal of Aesthetics and
Art Criticism, Volume 47, Number 2, Spring 1989, ASA, pp.139-146 KUBOVY, Michael, (1986),The Psychology of Perspective and Renaissance Art, Cambridge, Cambridge
University Press, 1989, 192 pp. LAWLOR, Robert, Sacred Geometry, London, Thames & Hudson, 1995, 111 pp. LUCIE-SMITH, Edward, (1969), Movements in Art since 1945, London, Thames and Hudson, 1984, 288 pp. LYAS, Colin, “Nature’s Mirror: Imitaton, Representation & Imagination”, (pp.37-39), in Aesthetics, London: UCL
Press, 1997, 230 pp. MANDELBAUM, Maurice, em GOMBRICH, E.H., HOCHBERG, Julian, BACK, Max, (1972), Art, perception and
Reality, Baltimore, Londres, Johns Hoskins University Press, (Arte, Percepción y realidad, Barcelona, Paidós Comunicación, 1983, pp.9-12)
MILLON, Henry e LAMPUGNANI, Vittorio, (eds.), Rinascimento - da Brunelleschi a Michelangelo. La
Rappresentazione dell’Architettura, catálogo da mostra no Palazzo Grassi, Veneza, Milão, Bompiani, 1994, 734 pp.
MITCHELL, W.J.T., Iconology-Image.Text.Ideology, Chicago, The University of Chicago Press, 1986 MODICA, M., “Imitação”, trad. Maria Bragança, em GIL, Fernando, (coord.), Enciclopédia Einaudi,
Criatividade-Visão, Volume 25, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1992, pp.11-47
MULHALL, Sephen, On Being in the World. Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects, New York,
London, Routledge, 1990, 206 pp. NEANDER, Karen, “Pictorial Representation: A Matter of Ressemblance”, The British Journal of Aesthetics,
Volume 27, nº3, Summer, 1987, pp. 213-226
124
PANOFSKY, Erwin, “Die Perspektive als ‘symbolische Form’”, em Votrage der Bibliothek Warburg, The Warburg Institute (trad. port. Carlos Morujão, A Perspectiva como Forma Simbólica, Lisboa, Edições 70, 1993, 139 pp.)
“ “ , (1939), Studies In Iconology, Oxford University Press (trad. port. Olinda Braga de Sousa,
Estudos de Iconologia, Lisboa, Editorial Estampa, 1982, 237 pp.) “ “ , (1960),Renaissance and Renascences in Western Art, , Almqvist & Wiksells, Stockholm
(trad. port. Fernando Neves, Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental, Lisboa, Editorial Presença, 1981, 314 pp.)
PEDRETTI, Carlo, (1978), Léonard de Vinci Architecte, Milão-Paris, Electa Moniteur, 1988 PEETZ, Dieter, “Illusion”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford, Cambridge, Blackwell
Publishers, 1995, pp. 209-212 PEIRCE, Charles Sanders, (1932), “The Icon, Index and Symbol”, em Collected Papers of Charles Sanders
Peirce, Vol. II, Book 2, pp.156-173 (sel. e trad. Octanny Silveira da Mota e Leonidas Hegenberg, Semiótica e Filosofia, São Paulo, Editora Cultrix, 1975, pp. 115-134)
PLATÃO, La République, (ed.bilingue), Paris, Les Belles Letres, 1964 RAFFMAN, Diana, “Perception”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford, Cambridge,
Blackwell Publishers, 1995, pp. 317-320 READ, Herbert, A Filosofia da Arte Moderna, Lisboa, Editora Ulisseia, s.d., 313 pp. SARTWELL, Crispin, “Realism”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford, Cambridge,
Blackwell Publishers, 1995, pp.354-356 “ “ ,“Representation”, in COOPER, David, (ed.), A Companion to Aesthetics, Oxford,
Cambridge, Blackwell Publishers, 1995, pp.364-369 SERRES, Michel, (1993), Les Origines de la Géometrie, Éditions Flammarion (trad. Ana Simões e Mª Graça
Pinhão, As Origens da Geometria, Lisboa, Terramar, 1997, 291 pp.) SCHEFFLER, Israel, “Pictorial Ambiguity”, emThe Journal of Aesthetics and Art Criticism, Volume 47, Number
2, Spring 1989, ASA, pp.109-115 SOLSO, Robert L.; (1994), Cognition and the Visual Arts, Cambridge, London, The MIT Press,1997, 294 pp. SONTAG, Susan, Ensaios sobre a Fotografia, Lisboa, Publicações D.Quixote, 1986 TURNER, Norman, “Some questions about E.H. Gombrich on Perspective”, em Journal of Aesthetics and Art
Criticism, Volume 50, Spring, 1992, pp.139-150 VALERY, Paul, (1957), Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Éditions Gallimard (trad. port. José
Martins Garcia, Introdução ao método de Leonardo da Vinci, Lisboa, Arcádia, 1979, 136 pp.)
125
VASARI, Giorgio, (1550), Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri, coord. Luciano Bellosi e Aldo Rossi, 2 vols., Turim, Giulio Einaudi editore, 1986
VENTURI, Lionello, (1936), Storia della critica d’Arte, Giulio Einaudi editore (trad. Rui Eduardo S. Brito,
História da Crítica de Arte, Lisboa, Edições 70, 1984, 303 pp.) VINCI, Leonardo da, textos compilados por Edward Maccurdy, trad. Louise Servicien, Les Carnets de
Léonard de Vinci, 2 vols., Paris, col. Tel, Gallimard, 1994 “ “ , “Codice Vaticano Urbinate 1270”, edição integral em Trattato della pittura, Roma, Grandi
Tascabili Economici, Newton & Compton editori, 1996 VITRUVIO, Marco, The Ten Books on Architectura, trad.ing. Morris Hicky, New York, Morgan Dover
Publishers, 1960 WILLATS, John, Art and Representation - New Principles in the Analysis of Pictures, Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1997, 394 pp. WINNER, Ellen, Invented Worlds. The Psychology of the Arts, Cambridge and London, Harvard University
Press, 1982 WITTGENSTEIN, Ludwig, (1921), Logisch-philosophische Abhandlung (trad.port. M.S. Lourenço, Tratado
Lógico-Filosófico, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987) “ “ , (1953), Philosophische Untersuchungen (trad.port. M.S. Lourenço, Investigações
Filosóficas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987) WÖLFFLIN, H., (1915), Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Das Problem der Stilentwicklung in der neueren
(trad.ing. D.M. Hottinger, Principles of Art History, New York, Dover, 1950) WOLLHEIM, R., (1968), Art and its Objects, New York, Harper & Raw, 1978 “ “ , On Art and the Mind, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974 WOODFIELD, Richard, “Resemblance”, in SARTWELL, Crispin, “Realism”, in COOPER, David, (ed.), A
Companion to Aesthetics, Oxford, Cambridge, Blackwell Publishers, 1995, pp.369-372 WRIGHT, Lawrence, (1983), Perspective in Perspective, London, Routledge & Kegan, (trad. Francisco Martín,
Tratado de Perspectiva, Barcelona, Editorial Stylos, 1985, 400 pp.) Textos em HTML: CURRIE, Gregory, “ Art, the Mind and the Brain “, The Canadian Society for Aesthetics, Québèc, Universidade
de Montreal, http://tornade.ere.umontreal.ca:80/~guedon/AE/currie.html PRINZ, Jesse, “ Toward a Cognitive Theory of Pictorial Representation “, Chicago Philosophy Project,
Chicago, http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/philos.html