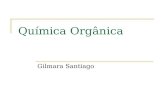1988 crianças, adolescentes e atividade física aspectos maturacionais e funcionais
-
Upload
sidney-carlos-nunes-garces -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
Transcript of 1988 crianças, adolescentes e atividade física aspectos maturacionais e funcionais

71
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
CDD. 20.ed. 612.044612.65
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ATIVIDADE FÍSICA:ASPECTOS MATURACIONAIS E FUNCIONAIS
Hugo TOURINHO FILHO*
Lilian Simone Pereira Ribeiro TOURINHO*
RESUMO
O presente artigo teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre os aspectosmaturacionais e funcionais da criança e do adolescente e sua relação com a prática da atividade física. Nessesentido, busca-se distinguir, em um primeiro plano, crescimento, desenvolvimento e maturação e aimportância da diferenciação entre idade biológica e idade cronológica no momento de se planejar umprograma de atividade física para uma população jovem. Em seqüência, abordam-se os assuntos adolescência,puberdade e maturação na discussão dos aspectos relacionados ao rendimento anaeróbio, à aptidão aeróbia eao limiar anaeróbio nessa faixa etária. Tendo em vista o crescimento do número de crianças e jovensengajados em atividades físicas, torna-se importante o desenvolvimento de estudos para avaliar as respostasfisiológicas que ocorrem nessa faixa etária, levando-se em consideração, sobretudo, a influência da maturaçãosobre tais respostas. Dentre as muitas razões que estimulam as pesquisas nesta área estão aquelas vinculadas àpreocupação de prevenção primária e à promoção da saúde dascriançase dosadolescentes.
UNITERMOS: Crianças; Adolescentes; Maturação; Potência anaeróbia; Aptidão aeróbia; Limiar anaeróbio.
INTRODUÇÃO
* UniversidadedePasso Fundo - RS.
Embora ainda não se tenhamexplicações adequadas para inúmerosquestionamentos relacionados com os efeitos daprática da atividade física envolvendo integrantesda população jovem, verifica-se que, nos últimosanos, uma grande quantidade de informações vemsendo acumulada com referência ao assunto.Certamente, as lacunas existentes têm a ver com ofato de alguns programas de atividade físicainduzirem modificações morfológicas e funcionaisna mesma direção do que é esperado para o próprioprocesso de maturação biológica (Guedes &Guedes, 1995).
Os especialistas em pediatriaenfatizam que as crianças, tanto funcional quantoestruturalmente, não são semelhantes aos adultos
(Astrand, 1992). Em pessoas adultas, tem-seassumido que as alterações que eventualmente,possam ocorrer caracterizam-se como uma respostaao processo de adaptação do estresse imposto peloesforço físico. Entretanto, em se tratando decrianças e adolescentes, as modificações quepresumivelmente ocorrem até que atinjam o estágiode maturidade podem ser tão grandes ou maioresaté do que as próprias adaptações resultantes de umprograma de atividade física (Guedes & Guedes,1995).
Nesse sentido, parece serfundamental, em estudos realizados com crianças eadolescentes, que se distinguam os efeitos dotreinamento dos possíveis efeitos provocados pelaação do crescimento, desenvolvimento e maturação

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
72
sobre asvariáveisanalisadas.
CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO EMATURAÇÃO: IDADE CRONOLÓGICA xIDADE BIOLÓGICA
A principal característica doprocesso da vida é a mudança, e basta observaranimais e vegetais para verificar que existe umciclo que é capaz de manter e perpetuar todas asespécies. O ser humano, por pertencer a essemacrossistema, não foge à regra, passando, nodecorrer de sua vida, por várias etapas, como ovo,embrião, recém-nascido, criança, adolescente,adulto e idoso (Araújo, 1985). Essas passagens oudegraus galgados pelo homem são um somatório detrês funções básicas inerentes a todo o processo: ocrescimento, o desenvolvimento e a maturação.
Segundo Araújo (1985), ocrescimento pode ser definido como as mudançasnormais na quantidade de substância viva; é oaspecto quantitativo do desenvolvimento biológico,é medido em unidades de tempo, como, porexemplo, centímetros por ano, gramas por dia, etc,resultando de processos biológicos por meio dosquais a matéria viva normalmente se torna maior. Ocrescimento enfatiza as mudanças normais dedimensão durante o desenvolvimento e poderesultar em aumento ou diminuição de tamanho e,ainda, variar em forma e/ou proporção (Araújo,1985). O desenvolvimento, por sua vez, pode serdefinido como um processo de mudanças graduais,de um nível simples para um mais complexo, dosaspectos físico, mental e emocional pelo qual todoser humano passa, desde a concepção até a morte(Barbanti, 1994); já, a maturação significa plenodesenvolvimento, a estabilização do estado adultoefetuada pelo crescimento e desenvolvimento(Araújo, 1985).
Para Gallahue (1989), o crescimentopode ser definido como o aumento na estruturacorporal realizado pela multiplicação ou aumentodas células; o desenvolvimento como um processocontínuo de mudanças no organismo humano quese inicia na concepção e se estende até a morte; porfim, ainda segundo Gallahue (1989), a maturaçãorefere-se às mudanças qualitativas que capacitam oorganismo a progredir para níveis mais altos defuncionamento e que, vista sob uma perspectivabiológica, é fundamentalmente inata, ou seja, égeneticamente determinada e resistente à influência
do meio ambiente. Por exemplo: a idadeaproximada em que uma criança aprende a sentar,ficar em pé e caminhar é altamente influenciadapela maturação.
A maturação biológica alcança níveisintensos de modificação durante a puberdade,definida por Marshall (1978) como todas aquelasmudanças morfológicas e fisiológicas queacontecem durante o crescimento devido àtransformação das gônodas de um estado infantil aum adulto. A puberdade, manifesta-se,basicamente, por um surto no crescimento,desenvolvimento das gônodas dos órgãos ecaracterísticas sexuais secundárias, mudanças nacomposição corporal e o desenvolvimento dosistema cardiorrespiratório.
A aplicação prática de tais conceitospara todos que lidam com crianças e adolescentesque participam de algum tipo de esporte estáespecialmente no fato de que, com sua claradefinição, possibilita-se o esclarecimento dedúvidas, como, por exemplo, por que, entremeninos da mesma faixa etária, o crescimento depêlos se efetua mais cedo em alguns e mais tardeem outros; ou, ainda, qual a razão para que atletasde uma mesma idade apresentem desempenhosfísicos significativamente diferentes entre os nove eos 17 anos? Segundo Araújo (1985), dessassituações, pode-se retirar pontos bem distintos:apesar de as idades dos indivíduos serem iguaisnosdois casos, eles apresentam características oumanifestações diferenciadas. Chega-se, dessamaneira, a dois importantes conceitos: a idadecronológica e a idade biológica.
A idade cronológica é a idadedeterminada pela diferença entre um dado dia e odia do nascimento do indivíduo. Gallahue (1989)apresenta a seguinte classificação para a idadecronológica: vida pré-natal (concepção a oitosemanas de nascimento); primeira infância (um mêsa 24 meses do nascimento); segunda infância (24meses a 10 anos); adolescência (10-11 anos a 20anos); adulto jovem (20 a 40 anos); adulto de meia-idade (40 a 60 anos) e adulto mais velho (acima de60 anos).
Conforme Araújo (1985), adeterminação da idade cronológica é umprocedimento que pode levar a um errometodológico por não garantir um grande poderdiscriminativo, o que pode ser importante quandoesses dados são utilizados em pesquisas científicas.Como solução para o problema, a apresentação daidade cronológica em forma de fração centesimal

Crianças, adolescentes eatividade física
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
73
parece ser o caminho menos desastroso paraaqueles que utilizam unicamente o critério da idadecronológica.
A idade biológica, por outro lado,corresponde à idade determinada pelo nível dematuração dos diversos órgãos que compõem ohomem. A determinação da idade biológica, fatorimportante nos estudos sobre aptidão física,treinamento desportivo e crescimento edesenvolvimento, pode ser efetuada por meio daavaliação das idades mental, óssea, morfológica,neurológica, dental e sexual, o que possibilita quese formem, basicamente, três grupos: pré-púbere,púbere e pós-púbere (Araújo, 1985).
Para Malina (1988), os indicadores maiscomumente usados para determinar a maturaçãobiológica nos estudos de crianças e jovens são amaturação esquelética e o desenvolvimento dascaracterísticas sexuais secundárias, ou seja, amaturação sexual. A estimativa da maturaçãobiológica por meio da maturação sexual propostopor Tanner (1962), utiliza as características sexuaissecundárias - pêlos axilares, pêlos pubianos edesenvolvimento escrotal para o sexo masculino e,desenvolvimento mamário, pêlos pubianos emenarca para o sexo feminino.
A classificação em função da idadebiológica é de suma importância aos estudos quedizem respeito à criança, ao adolescente e aoexercício, pois possibilita distinguir, de forma maisclara, as adaptações morfológicas e funcionaisresultantes de um programa de treinamento dasmodificações observadas no organismo,decorrentes do processo de maturação,principalmente intensificado durante a puberdade.
ADOLESCÊNCIA: CRESCIMENTO,PUBERDADE E MATURAÇÃO SEXUAL
Adolescência e crescimento
De acordo com Gallahue (1989), operíodo de tempo que compõe a adolescência éafetado pelo aspecto biológico e cultural: pelobiológico, no momento em que o fim da infância émarcado pelo início da maturação sexual; pelo
cultural, na medida que o fim da adolescência e oinício da fase adulta são marcados pelaindependência emocional e financeira da família.Como resultado disso, tem-se hoje que, nasociedade da América do Norte, o período daadolescência é significativamente mais longo doque foi há 100 ou 50 anos (Gallahue, 1989), ouseja, o início precoce da puberdade (início damaturação sexual), somado a um período maislongo de dependência da família, amplia a visão daadolescência para uma perspectiva muito maisampla.
O início da adolescência é marcadopor um período de aumento acelerado no peso e naestatura. A idade de início, duração e intensidadedeste estirão de crescimento, porém, é determinadageneticamente e varia consideravelmente deindivíduo para indivíduo. Isso ocorre porque ogenótipo estabelece os limites do crescimentoindividual, mas o fenótipo individual (condições domeio ambiente) tem uma influência marcante sobreeste fator (Gallahue, 1989).
Puberdade e maturação sexual
O início da puberdade é geralmentedenominado pubescência, que é o período maisprecoce da adolescência. Durante a pubescência,características sexuais secundárias começam aaparecer, como a maturação dos órgãos sexuais emudanças no sistema endócrino, iniciando-se oestirão de crescimento pré-adolescente (Gallahue,1989). Para Halbe, Cunha & Mantese (1981), apuberdade resulta da interação de fatores genéticose ambientais, com características bem definidas,como aceleração do crescimento, aparecimento depilosidade (pubarca e axilarca) e mamas (telarca),ativação funcional do sistema neuroendócrino(adrenarca e gonodarca), menstruação (menarca) e,finalmente, a ossificação dos discos epifisários dasepífises.
Para Farinatti (1995), a puberdadenão deve ser confundida com adolescência. Oinício da adolescência pode coincidir com apuberdade, mas pode também atrasar-se ouadiantar-se em relação a ela no seu desenrolar, jáque independe da capacidade reprodutora, sendouma fase de transição entre infância e maturidade.De modo geral, a puberdade tem uma duração dedois anos, ao passo que o tempo de adolescênciaseria difícil de definir (Farinatti, 1995).
Durante os períodos da primeira e dasegunda infância, garotos e garotas desenvolvem-se

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
74
de forma bastante similar, havendo poucasdiferenças na estatura, peso, tamanho do coração epulmões, ou composição corporal. Quando, porém,se inicia a segunda década da vida, ocorremdramáticas mudanças não somente nasmensurações de crescimento, mas, também, namaturação sexual. O início da puberdade marca atransição da infância para a fase adulta, no entanto,quando esse processo se inicia, e o que marca o seuinício ainda não está claro. O que se sabe é que otempo do processo é altamente variável e que podeiniciar cedo, como aos oito ou nove anos, ou maistarde, aos 13 ou 15 anos, para garotas e garotos,respectivamente (Gallahue, 1989). Está claro,assim, que a seqüência geral de eventos quemarcam a puberdade é muito mais previsível doque as datas específicas em que eles ocorrerão.Nesse sentido, conhecer os eventos que marcam apuberdade e aceitar a variabilidade individual emque eles ocorrem, é de suma importância para oprofissional que irá planejar os programas deatividade física voltados para essa populaçãoespecífica.
O RENDIMENTO ANAERÓBIO NACRIANÇA E NO ADOLESCENTE
Inúmeros estudos, usando diferentesmétodos de investigação, têm fornecido evidênciasde que ocorrem mudanças no metabolismoanaeróbio lático durante o crescimento. Lactatosangüíneo e muscular, atividade enzimáticaglicolítica, débito e déficit de oxigênio,“performance” de potência máxima em exercíciosde curta duração e velocidade máxima em testes decampo aumentam gradativamente da infância à faseadulta (Eriksson, 1980; Fellmann, Bedu,Spielvogel, Falgairette, Van Praagh, Jarrige &Coudert, 1988; Imbar & Bar-Or, 1986; Paterson,Cunningham & Bumstead, 1986). Nessesestudos, apuberdade tem aparecido como um período-chavedas mudanças no metabolismo anaeróbio lático degarotos (Eriksson, Gollnick & Saltin, 1973;Falgairette, Bedu, Fellmann, Van Praagh &Coudert, 1991; Paterson et alii, 1986).
Nas crianças, a capacidade pararealizar atividades do tipo anaeróbia ésignificativamente inferior à dos adolescentes eadultos (Bar-Or, 1983). Estudos transversais comitalianos, africanos, ingleses e americanos deambos os sexos têm indicado uma progressão em
relação à idade na “performance” de teste depotência máxima (Davies, Barnes & Godfrey,1972; Di Prampero & Cerretelli, 1969; Kurowski,1977; Margaria, Aghemo & Rovelli, 1966).Segundo dados apresentados por Imbar & Bar-Or(1986) de, aproximadamente, 300 homensisraelenses de 10 a 45 anos que realizaram o testeanaeróbio de Wingate para ciclismo ou com autilização dos braços (manivela), para ambos ostestes, a potência máxima em um período de cincosegundos e a potência média durante todo o teste(30 segundos), foram mais baixas nas criançasquando expressasem unidadesde potência absolutaou corrigidas pelo peso corporal. Disso concluíramos autores que a “performance” anaeróbia progridecom a idade e que este padrão é contrário ao que édescrito para o consumo de oxigênio porquilograma de peso corporal, o qual, em indivíduosdo sexo masculino, permanece virtualmente semmodificaçõesda infância à fase adulta.
Resultados semelhantes foramobservados por Matsudo & Perez (1986) aoavaliarem 300 escolares de ambos os sexos queparticipavam regularmente de aulas de EducaçãoFísica obrigatórias, três vezes por semana, com 50minutos de duração cada uma. Aplicando um testede 40 segundos, os pesquisadores concluíram que,em relação aos escores apresentados pelosescolares do sexo masculino com idade entre 11 e15 anos (11 anos - 213,33 m; 12 anos - 217,94 m;13 anos - 218,94 m; 14 anos - 232,94 m; 15 anos -240,69 m), a potência anaeróbia máxima aumentoude forma significativa com a idade. Por sua vez, aestrutura corporal pareceu não influenciaracentuadamente a “performance” deste teste (40 s),uma vez que tanto o peso como a altura nãoapresentaram correlações importantes com osresultadosdosescolaresnos40 segundos.
Com o objetivo de verificar a relaçãoentre velocidade de corrida no limiar anaeróbio e odesempenho em corridas de 50 metros, 40segundos e cinco minutos, em garotos de 14 anos ehomens jovens de 16 a 20 anos, Tanaka (1986)também realizou testes de 40 segundos (14 anos -245 m; 16 a 20 anos - 269 m), obtendo umaprogressão da potência anaeróbia com o avanço daidade.
Para Sobral (1988), uma daspossíveis causas para a “performance” inferior dascrianças em provas de potência anaeróbia deve-se,presumivelmente, a estoques inferiores defosfagênio (principalmente de CP, já que aconcentração muscular de ATP é semelhante no

Crianças, adolescentes eatividade física
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
75
adulto e na criança; 3,5 a 5 mmol/kg) e, também,ao menor valor, quer absoluto quer relativo, damassa muscular já que, embora aumentandoregularmente com a idade, os incrementos dapotência anaeróbia dos garotos são maisacentuados a partir dos 14 e 15 anos, isto é,imediatamente após o pico de velocidade decrescimento da musculatura esquelética.
Em comparação com o adulto, acriança e o adolescente são ainda mais deficitáriosquanto à sua capacidade anaeróbia, diferença queparece ter determinantes fundamentais de naturezabioquímica, pois a concentração de lactato nomúsculo e no sangue destes é mais baixa do que noadulto; também a sua taxa de glicólise anaeróbia éinferior (Sobral, 1988). Eriksson, Karlsson & Saltin(1971) verificaram que, numa mesma intensidadede exercício, garotos pré-púberes apresentavamvalores de concentração de lactato nos músculos35% inferiores aos observados no adulto.Igualmente, Sobral (1988) relata que, nos jovensdesportistas, foram observadas elevaçõesprogressivas da lactacidemia entre os 12 e os 15anos, sem diferenças significativas entre garotos egarotas, porém, tais valores ainda são inferiores aosdosadultos.
Para Tanaka & Shindo (1985), aconcentração de lactato sangüíneo, em geral,poderia ser afetada pela taxa de formação delactato e acúmulo durante a contração muscular;fluxo de lactato do músculo para o sangue;consumo de lactato do sangue pelo coração, fígado,em músculos ativos ou em repouso e rins. Emboranenhum dado esteja disponível para a taxa de fluxoe consumo de lactato em crianças, há algumassugestões a respeito do déficit de oxigênio e perfilmetabólico muscular em crianças, as quais indicammenos formação e acúmulo de lactato para amesma carga de trabalho relativo quandocomparado com adultos (Tanaka & Shindo, 1985).Nesse sentido, foi demonstrado que o nível delactato durante carga submáxima está relacionado àquantidade de déficit de oxigênio, isto é, quantomais tempo o organismo levar para se ajustar a umanova carga de trabalho maior será o acúmulo delactato (Tanaka & Shindo, 1985), assim, ambos,concentração de lactato sangüíneo e déficit deoxigênio na mesma carga de trabalho relativo, sãomenoresem garotosdo que em adultos.
Com relação ao perfil metabólicomuscular, a atividade da succinato-desidrogenase(SDH) na musculatura esquelética de garotos de 11a 13 anos, como relatado por Eriksson et alii
(1973), é um tanto mais alta quando comparada aosvalores apresentados por adultos destreinados. Emadição, os estudos de Eriksson et alii (1973) e deFournier, Ricci, Taylor, Ferguson, Montpetit &Chaitman (1982), com garotos de 16 e 17 anos,mostraram que a atividade da fosfofrutoquinase(PFK), que é a enzima reguladora da glicóliseanaeróbia, apresentou-se de forma mais baixa namusculatura esquelética dos garotos quandocomparados com adultos. A atividade mais baixada PFK nos garotos é uma das prováveis causas dopico de concentração de lactato maisbaixo.
Uma outra explicação para ocomportamento dos níveis de lactato de crianças eadolescentes baseia-se na hipótese de uma relaçãoentre o estado da maturação e a lactacidemia. Estahipótese decorre de experimentação animal, tendosido verificada uma associação direta entre a taxade produção de lactato e a testosterona circulante.Krotkiewski, Kral & Karlsson (1980), estudando oefeito da castração de ratos sobre o metabolismomuscular, verificaram que houve uma diminuiçãona atividade da fosforilase, fosfofrutoquinase edesidrogenase lática na porção branca damusculatura dos ratos castrados, tendo sido essamudança reversível com de dosesde testosterona.
Duas outras explicações também têmsido apontadas para a deficiência da capacidadeanaeróbia da criança e do jovem adolescente: aprimeira remete para uma concentração e taxa deutilização maisbaixasdo glicogênio muscular antesda puberdade, o que constitui uma desvantagem emsituações de “performance” máxima com 10 a 60segundos de duração (Imbar & Bar-Or, 1986); asegunda, que lhe é complementar, aponta para amenor atividade da enzima fosforilase (Sobral,1988).
Segundo Sobral (1988), resta aindacomo hipótese explicativa das limitações dapotência anaeróbia na criança e adolescente o fatorneuromuscular, o qual sugere que o recrutamentodas unidades motoras em condições deperformance máxima torna-se mais eficiente com aidade. A verificação de tal hipótese, no entanto,requer técnicas invasivas muito sofisticadas eeticamente excluídas. Em síntese, parece razoávelsugerir que a capacidade anaeróbiasignificativamente inferior das crianças em relaçãoaos adolescentes e adultos está ligada a menoresestoques de creatina-fosfato (CP) e glicogêniomuscular, menor atividade das enzimas fosforilase,fosfofrutoquinase (PFK) e lactato-desidrogenase(LDH) e a níveis mais baixos de testosterona.

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
76
Como conseqüência, há uma menor ação dessehormônio sobre a musculatura esquelética e, porfim, uma menor capacidade de recrutamento dasunidades motoras em condições de “performance”máxima (Bar-Or, 1983; Butler, Walker, Walker,Teague, Fahmy & Ratcliffe, 1989; Eriksson et alii,1973; Fournier et alii, 1982; Gutman, Hanzlikova& Lojdaz, 1970; Imbar & Bar-Or, 1986;Krotkiewski et alii, 1980; Sobral, 1988).
Através dos estudos realizados sobreo comportamento do rendimento anaeróbio láticode crianças e adolescentes, fica evidente que, estetipo de exigência motora deva ser visto comextrema precaução ao se elaborar programas detreinamento, principalmente com relação aos pré-púberes que não se encontram ainda preparadospara esta intensidade de atividade física como foiobservado pelosautoresacima citados.
A APTIDÃO AERÓBIA NA CRIANÇA E NOADOLESCENTE
Além das modificaçõesdimensionais, o período pubertário é tambémassinalado por modificações fisiológicasimportantes, as quais afetam os sistemas orgânicosde uma forma geral e, como tal, tendem a refletir-sena capacidade de esforço (Sobral, 1988).
A potência aeróbia máxima, isto é, omáximo volume de oxigênio que o indivíduo écapaz de consumir em uma unidade de tempo,aumenta ao longo da segunda infância,acompanhando o crescimento das dimensõescorporais (Bar-Or, 1983). Até os 12 anos, ascurvasde crescimento do consumo de oxigênio nãoapresentam diferenças significativas de perfil entreos sexos, embora os rapazes obtenham valoressuperiores desde os cinco anos de idade. Adiferenciação sexual instala-se, porém, após os 14anos, idade em que as garotas atingem um platô, aopasso que os rapazes continuam a apresentarvalores crescentes até os 18 anos (Mirwald, Bailey,Cameron & Rasmussen, 1981). No entanto,segundo Imbar & Bar-Or (1986), numerososestudos têm mostrado que o consumo de oxigênioem homens, quando expresso em mililitros deoxigênio por minuto por quilograma de pesocorporal (ml/kg.min), é virtualmente independenteda idade dentro da faixa etária de oito a 18 anos; já,entre as mulheres, é até mais alto na fase pré-púbere do que durante a fase púbere ou pós-púbere.
Para se medir os efeitos fisiológicosdo treinamento da resistência em crianças eadolescentes, o consumo máximo de oxigênio(VO2máx) é uma variável indispensável na avaliaçãoda potência aeróbia. Normalmente, as criançaspossuem um consumo de oxigênioconsideravelmente alto, com valores variando entre48 e 58 ml/kg.min, bem acima de 42 ml/kg.min, oque indica um bom nível de condicionamento físicoem adultos (Stanganelli, 1991). Indivíduosclassificados como pré-púberes de elite atléticaapresentam um consumo máximo de oxigênio de15 a 20% maior que o consumo máximo de seuscompanheiros não atletas. Essas diferenças não sãomuito grandes se, por exemplo, compara-se oVO2máx de corredores de elite adultos comindivíduos sedentários, o qual pode ser até 100%maior (Rowland, 1985).
Com relação à “performance” emtestes de corrida de média e longa duração,entretanto, constata-se que alguns estudosutilizaram esses testes (Guedes, 1994; Tanaka,1986), obtendo como conclusão que rapazesapresentam resultados continuamente superioresdos sete aos 20 anos. Considerando a alta potênciaaeróbia de crianças, por que, então, elas nãodominam a corrida de média e longa distância?
Um fator bastante interessanteapontado como explicação para o comportamentoevolutivo em relação ao desempenho em testes decorrida de média e longa distância envolve o que setem denominado de economia de corrida,originalmente “running economy” , que leva emconsideração a relação entre trabalho produzido eenergia consumida (Guedes, 1994). Seguindo essalinha de raciocínio, Bar-Or (1983) observou que,entre moças e rapazes de cinco a 17 anos de idade,o consumo de oxigênio necessário para correr oucaminhar numa mesma velocidade decresce com aidade em ambos os sexos, porém ocorre de formamais acentuada entre os rapazes. Ainda nesteestudo, o pesquisador pôde observar que,deslocando-se a 10 km/h, o consumo de oxigêniode uma criança aos cinco anos foi, em média, 8ml/kg.min maior do que o de um adolescente de 17anos de idade. Dessa forma, considerando 40ml/kg.min como o valor esperado para o consumomáximo de oxigênio nessa faixa etária,adolescentes podem realizar a mesma tarefa motoracom economia de, aproximadamente, 20% noconsumo de oxigênio em comparação com ascrianças.
Em uma revisão realizada por

Crianças, adolescentes eatividade física
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
77
Morgan, Martin & Krahenbuhl (1989), os autoresalertam para a possibilidade de o menor gastoenergético na realização de uma corrida oucaminhada entre os adolescentes em relação àscrianças não ser unicamente conseqüência dasdiferenças observadas em seus respectivosmetabolismos, destacando-se a maneira menoseconômica de se locomover destas últimas, tendoem vista a necessidade de uma freqüência depassadas mais elevada em razão do menorcomprimento de suas pernas. Portanto, talvez amenor economia de corrida observada entre ascrianças mais jovens possa explicar o fato de odesempenho em testes de média e longa duraçãoficar tão distante daquele verificado naadolescência, considerando que ambos, crianças eadolescentes, apresentam valores de consumomáximo de oxigênio bastante semelhantes (Guedes,1994; Imbar & Bar-Or, 1986). SegundoKrahenbuhl, Skinner & Kohrt (1985), no sexomasculino, o consumo máximo de oxigênio(ml/kg.min) permanece estável por toda a infânciae adolescência, enquanto que, no sexo femininodiminui ao longo da adolescência.
Um outro aspecto que podeinfluenciar a “performance” nos testes de corridade média e longa duração foi evidenciado pelosestudos realizados por Thomas et alii, citado porGuedes (1994), os quais, procurando avaliar arelação de seus escores com alguns fatoresbiológicos e ambientais, constataram que a únicavariável biológica, ao longo de toda a infância e aadolescência, que se relacionou com os resultadosde testes com essas características foi a quantidadede gordura corporal, o que fez com que as criançase os adolescentes que apresentavam maioresquantidades de gordura percorressem longasdistânciasmais lentamente.
Em relação à treinabilidade dapotência aeróbia, de acordo com Bar-Or (1989),em adultos, quanto mais jovem o indivíduo, maistreinável é sua “performance” aeróbia; tal relaçãocom a idade já não pode ser encontrada emcrianças e adolescentes. Em jovens adultos, umaumento de 10% e 20% no consumo máximo deoxigênio é um resultado comum se seguido de umprograma de exercício aeróbio de duração de doisaquatro meses. Diversos estudos têm sugerido que,quando o consumo máximo de oxigênio porquilograma de peso corporal é feito para refletir apotência aeróbia máxima, pré-púberes são menostreináveis do que seus equivalentes maismaturados. As razões sugeridas para tão baixa
treinabilidade consistem em que: crianças sãoativas mesmo quando não fazem parte de umprograma de treinamento regimentado, dessamaneira, um programa adiciona pouco à suaaptidão; o VO2máx não reflete potência aeróbiamáxima em crianças e, ainda, indicadoresalternativos da condição aeróbia, como o limiaranaeróbio, deveriam ser utilizados neste tipo deestudo (Bar-Or, 1989). Por outro lado, em umarevisão apresentada por Rowland (1985), pode-seobservar uma longa lista de estudos em que foidemonstrado que o consumo máximo de oxigêniode crianças realmente aumentou com otreinamento. O autor concluiu que, quando oregime de treinamento aeróbico é realizadoconforme a orientação estabelecida para adultos,pré-púberessão treináveis.
Tanto os estudos que não mostraramum aumento do VO2máx quanto os estudos quetiveram um aumento dessa variável apresentaramqueda de freqüência cardíaca submáxima. Assim,de acordo com esses dados, haveria uma melhorada potência aeróbia nas crianças apenas após umprolongado e vigoroso programa de treinamentoaeróbio (Stanganelli, 1991). Para Rowland (1985),as conclusões obtidas nos estudos sobre atreinabilidade da potência aeróbia de crianças eadolescentes padecem de uma série de defeitos nos“designs” , incluindo número reduzido de sujeitos,inadequado controle destes e insuficientes ouinexistentes dados sobre a intensidade detreinamento. Além disso, para Stanganelli (1991), émuito difícil comparar os resultados desses estudosdevido às diferenças iniciais nos níveis decondicionamento das amostras, razão pela qual,antes de iniciar o treinamento, o tipo de atividadefísica, a freqüência, a duração e a intensidadedevem ser consideradas.
Apesar da dificuldade em sedeterminar a treinabilidade da resistência aeróbiade crianças e adolescentes, o treinamento aeróbio,ao contrário da resistência anaeróbia lática, quandorealizado com intensidade, freqüência e duraçãoadequada, é fundamental dentro de um programade atividade física, principalmente ao levar-se emconsideração à preocupação de prevenção primáriae à promoção da saúde dos jovens.
LIMIAR ANAERÓBIO EM CRIANÇAS EADOLESCENTES

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
78
O limiar anaeróbio parece ofereceruma melhor correlação do que o VO2máx quando dapredição da “performance” dos adultos em corridasde longa distância. No entanto, existem poucasinformações disponíveis sobre o limiar anaeróbio eseu relacionamento com outros critérios nodesempenho de atividades de resistência aeróbiaem crianças e adolescentes (Stanganelli, 1991). Deacordo com Wolfe Washington, Daberkow,Murphy & Brammel (1986), o limiar anaeróbio,expresso como um percentual do VO2máx, éconsistente durante toda a infância e é ligeiramentemaior daquele em adultos.
Wolfe et alii (1986), investigando olimiar anaeróbio como predição da “performance”atlética em 10 garotas corredoras pré-púberes, nafaixa etária dos 10 aos13 anos, apósum período detrês meses, combinando “ interval-training” ecorridas contínuas durante quatro dias por semana,concluíram, ao final da investigação, que o limiaranaeróbio, expresso como percentual de tempo deexercício e percentual da freqüência cardíacamáxima parecem ser variáveis que mais predizem o“ranking” de desempenho e que o limiar anaeróbio,expresso como percentual do VO2máx, foi menossignificante. Assim, segundo os autores, quantomais tarde o limiar anaeróbio for alcançado em umprotocolo progressivo e padrão durante o teste deexercício gradual, melhores serão as possibilidadesde os sujeitos terem uma “performance” emeventosde resistência aeróbia.
Rotstein, Dotam, Bar-Or &Tenenbaum (1986) estudaram o efeito dotreinamento sobre o limiar anaeróbio, potênciaaeróbia máxima e “performance” anaeróbia em 28garotos pré-púberes, com idades variando entre10,2 e 11,6 anos, utilizando o “ interval-training”três vezes por semana, com 45 minutos deatividade por sessão, durante nove semanas. Olimiar foi determinado enquanto os indivíduosestavam correndo na esteira rolante com grau deelevação de 1%; cada corrida durava cincominutos, com intervalos de dois a três minutos,sendo a velocidade inicial de 8 km/h e elevada nascorridas subseqüentes por 1 km/h ou 0,5 km/h,dependendo da velocidade na qual se supunhaocorrer o limiar anaeróbio. Segundo os autores,como existem poucas informações para osmelhores critérios de obtenção do limiar anaeróbioem crianças, quatro diferentes índices foramcalculados, o que levou à conclusão de que: avelocidade de corrida em que a concentração delactato no sangue foi de 4 mmol/L não apresentou
mudanças significativas; a velocidade de corrida naqual o ponto de flexão da curva de lactato ocorreuapresentou um aumento de 0,5 km/h; o percentualdo VO2máx em que a concentração de lactatoalcançou 4 mmol/L apresentou uma diminuição de4,4% do consumo máximo de oxigênio. De possedesses resultados, os autores sugerem que o limiaranaeróbio lático de garotos pré-adolescentes,especialmente quando determinado pelo critério delactato no sangue, parece ser maior do que emadultos e que os valores absolutos e relativos dolimiar anaeróbio são menos sensíveis aotreinamento intervalado do que o VO2máx, pois,neste estudo, o consumo máximo de oxigênio teveaumento de 7% em l/min e de 8% em ml/kg.min.Os índices de limiar anaeróbio diminuíram emrelação ao percentual do VO2máx, provavelmenteem função da alta intensidade imprimida durante otreinamento intervalado, já que esse tipo deatividade caracteriza-se pela utilização dometabolismo anaeróbio para a produção de energia.Sabe-se que o aumento do limiar anaeróbio emrelação ao percentual do consumo máximo deoxigênio está estreitamente relacionado aos efeitosfisiológicos de programas de treinamento queenvolvam trabalhos submáximos contínuos delonga duração (Rotstein et alii, 1986).
Pesquisando as mudanças no limiaranaeróbio e no consumo máximo de oxigênio, apóstreinamento aeróbio em crianças na faixa etária de12 anos de idade, Mahon & Vaccaro (1989)concluíram, ao final do experimento, que houve umaumento significativo do limiar anaeróbio de 19%,não importando a maneira como era expresso,l/min ou ml/kg.min ou como percentual do VO2máx .Segundo os autores, o grande aumento ocorrido nogrupo de treinamento significou que o treinamentoda resistência aeróbia promoveu alterações nolimiar anaeróbio.
Becker & Vaccaro (1983),realizando um estudo com 22 garotos saudáveiscom idadesentre nove e 11 anos, com o objetivo dedescrever as alterações do limiar anaeróbio,consumo máximo de oxigênio e taxa cardíacamáxima após treinamento de resistência aeróbia emcicloergômetro, durante três dias por semana, comcada sessão de treinamento tendo a duração de 40minutos, por um período de oito semanas -verificaram que o grupo experimental aumentou olimiar anaeróbio de 25,9 ml/kg.min (67% doVO2máx) para 33,23 ml/kg.min (71% do VO2máx); oconsumo máximo de oxigênio aumentou de 39,0ml/kg.min para 46,99 ml/kg.min e a taxa cardíaca

Crianças, adolescentes eatividade física
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
79
máxima, de 196,63 para 200,5 bpm.Com o objetivo de examinar a
relação entre a área muscular da perna e coxa e olimiar anaeróbio medido durante corrida em esteirarolante em crianças pré-púberes, os pesquisadoresAtomi, Fukunaga, Hatta, Yamamoto & Kuroda(1988) avaliaram 30 garotos saudáveis com idadeentre nove e 12 anos. O limiar anaeróbio foideterminado por meio de um protocolo em esteirarolante com estágios de três minutos e intervalos deum minuto, sendo a velocidade inicial igual a 80m/min, com aumentos de 10 a 15 m/min até aexaustão. Durante cada intervalo, foi realizada umacoleta de sangue do lóbulo da orelha para a análisedo lactato. A área muscular da perna e da coxa foimedida por meio de um método ultra-sônico. Combase nos resultados obtidos, os autores puderamconcluir que as mudanças longitudinais ocorridasno limiar anaeróbio, medido por meio de corridaem esteira rolante, podem ser explicadas pelasdiferenças de composição muscular durante ocrescimento.
Nessa linha de raciocínio, Tanaka(1986), investigando o efeito da maturação sobre a“performance” em corrida e sobre a velocidade decorrida no limiar anaeróbio (VCL), cita algunsestudosque têm mostrado uma alta correlação entreVCL e “performance” em corrida de média e longadistância em corredores treinados e em homensativos (Farrel, Wilmore, Coyle, Billings & Costtil,1979; Tanaka, Matsuura, Kumagai, Matsuzaki,Hirakoba & Asano, 1983). No entanto, umconsiderável número de mudanças anatômicas efisiológicas que ocorrem durante a adolescênciapodem influenciar na “performance” de umacorrida.
Geralmente é aceito que, em garotos,a “performance” em corrida melhora durante aadolescência (Guedes, 1994; Tanaka, 1986).Entretanto, Tanaka & Shindo (1985) mostraramque a velocidade de corrida no limiar anaeróbio(VCL) apresenta uma tendência a diminuir durantea adolescência. Reybrouck, Weymans, Stijns,Knops & Vander Hauwaert (1985), medindo 257crianças (140 meninos e 117 meninas) entre seis e18 anos de idade, para o VO2máx e para o limiaranaeróbio (LA), constataram uma nítida tendênciaa um comportamento em que o VO2máx aumentavacom a idade, ao passo que o LA sofria umaredução. Meninos de 15 a 18 anos exibiam limiaresbem menores que os de seis a 12 anos; da mesmaforma, as meninas de 15 e 16 anos tiveram osmenores valores para o limiar, apesar de o VO2máx
não ter se alterado significativamente. Em termosde %VO2máx,os resultados se repetiram, sendo
observado um declínio entre 10 e 16%: ao mesmotempo, a elevação do consumo máximo de oxigênionão ultrapassou os4%.
Há, assim, com a idade, um declíniosignificativo dos percentuais do consumo máximode oxigênio nos quais as concentrações de lactatoafetam o desempenho. Paralelamente, observar-se-ia um aumento no lactato sangüíneo máximo quepoderia ser produzido (Farinatti, 1995).
Bale (1992) observou níveis delactato sangüíneo de crianças de 11 anos emexercícios máximos variando em torno de 7,5 a 8,5mmol/L. Dessa maneira, segundo Reybrouck(1989), uma limitação para o uso de níveis fixos delactato sangüíneo em crianças para indicar o LAjustifica-se uma vez que tais valores podem nãorepresentar a mesma intensidade relativa deexercício nas crianças e nos adultos. Pelo fato decrianças apresentarem níveis máximos de lactatosangüíneo significativamente mais baixos que osdos adultos, valores fixos deste de 4mmol/L, paraindicar o LA, poderiam estar muito próximos dosvalores máximos que podem ser alcançados pelascrianças. Considera-se, nesse caso que 4mmo/Lrepresentam uma fração muito abaixo dos níveismáximos de lactato sangüíneo observados emadultos (Reybrouck, 1989). Tolfrey & Armstrong(1995) consideram que, apesar de apropriado parao uso com adultos, o valor referente ao lactatosangüíneo fixo de 4mmol/L pode não serapropriado para crianças porque corresponde a umesforço mais próximo do máximo do que dosubmáximo. Os autores, contudo, ressalvam que talobservação está baseada somente em uns poucosestudos, os quais diferem metodologicamente.
Para Tanaka & Shindo (1985), umapossível razão para que crianças apresentem umlimiar anaeróbio mais alto está nas característicasda musculatura esquelética. Níveis mais baixos detestosterona e, por conseguinte, uma ação hormonalmais baixa sobre os músculos poderiam conduzir auma capacidade oxidativa relativamente mais alta,além do fato de as crianças possuírem umalimitação real em relação ao metabolismoglicolítico e, consequentemente, à produção delactato (Farinatti, 1995). Nesse sentido, tem-sesugerido, por meio de estudos em animais comadministração de testosterona ou castração, que atestosterona age sobre a musculatura esquelética,

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
80
aumentando a porção relativa de fibras deconcentração rápida e a atividade da fosforilase,que é uma enzima-chave da glicogenólise e umindicador da capacidade glicolítica (Gutman et alii,1970; Krotkiewski et alii, 1980). Os resultadostambém mostraram que a VCL apresentou umarelação inversamente proporcional à maturaçãoóssea. Portanto, segundo Tanaka & Shindo (1985),esses resultados indicam que a maturação é um dosfatores que influenciam o limiar anaeróbio, o queprovavelmente se deve, em parte, a uma ação maisbaixa da testosterona sobre a musculaturaesquelética.
Sannikka, Terho, Suominen & Santti(1983), ao compararem a concentração detestosterona em garotos de diferentes níveis dematuração sexual, observaram diferençassignificativas entre os níveis 2 - 3 e 3 - 4, o que nãoocorreu nos níveis 4 e 5 e no nível 5, comparadoaos valores de adultos. Já Butler et alii (1989)confirmaram, por meio de análise de variância, umaumento nos níveis de testosterona com aprogressão da puberdade, com diferençassignificativas em todos os níveis de maturação(cinco estágios). Tal diferença entre os resultadosobservados no estudo de Butler et alii (1989), emcomparação aos apresentados por Sannikka et alii(1983), deve-se segundo os primeiros, à técnicautilizada em seu estudo, que se apresentou maissensível e precisa às variações dos níveis detestosterona. De qualquer maneira, é possívelobservar que ambos os estudos mostram que, nosníveis 2 e 3 de maturação sexual, a ação datestosterona é mais baixa sobre a musculaturaesquelética, tornando-se no decorrer docrescimento, progressivamente maior a cadaavanço nosestágiosde maturação.
Em relação à idade cronológica,pode-se também observar um aumento nos níveisde testosterona com o avanço da idade. Butler etalii (1989), ao avaliarem 84 garotos com idadeentre 10 e 15 anos, verificaram um aumentoprogressivo nos níveis de testosterona salivar dosgarotos (10 anos - 19,3 pmol/L; 11 anos - 34,6pmol/L; 12 anos - 49,8 pmol/L; 13 anos - 57,6pmol/L; 14 anos - 119,6 pmol/L e 15 anos - 222,1pmol/L), com um aumento desproporcional a partirdos14 anosde idade.
Com relação ao máximo “steadystate” do lactato (SSmaxla), o ponto de equilíbrioentre a produção e a remoção do lactato - e que,presumivelmente, representa a carga de trabalhosubmáxima mais alta que pode ser realizada pelo
metabolismo do sistema oxidativo - e os valoresfixos de lactato de 4,0 mmol/L não apresentam umaalta correlação em crianças. No entanto, o consumode oxigênio e a freqüência cardíaca correspondentea 2,5 mmol/L em crianças não diferemsignificativamente daquelas mensuradas noSSmaxla. Por essa razão, 2,5 mmol/L de lactato emcrianças pode ser usado de maneira similar aosvalores de 4,0 mmol/L em adultos (Tolfrey &Armstrong, 1995).
Por outro lado, em estudos relatadospor Beneke, Schwars, Leithäuser, Hütler &Duvillard (1996), o SSmaxla obtido por criançasvariou de 2,1 ± 0,5 mmol/L, passando por valoresde 4,6 ± 1,3 mmol/L e chegando a alcançar até 5,0± 0,89 mmol/L de lactato sangüíneo. Para osautores acima citados, diferenças nos tipos deexercícios (a maioria realizados em cicloergômetroe esteira rolante), nos protocolos de testes edefinições do SSmaxla podem ter influenciado osresultados.
Considerando que a menor potênciaglicolítica deve ser levada em consideração durantea execução de cargas de resistência na idadeinfantil e jovem e, ainda, que a escolha dosmétodos e conteúdos de treinamento assim como adosagem da intensidade e duração das cargas detreinamento devem ser adaptadas à realidadefisiológica da idade (Weineck, 1991), acredita-seser de suma importância a realização de maisestudos, que possam esclarecer melhor a relação daprodução de lactato, maturação e limiar anaeróbioem crianças e adolescentes, tendo em vista ascontrovérsias ainda existentes sobre o assunto nocampo da fisiologia do exercício.
CONCLUSÃO
Através da análise dos aspectosmaturacionais e sua relação com a atividade físicade criançase adolescentespode-se verificar que:- a determinação da idade biológica apresenta-secomo um importante parâmetro nas pesquisas quedizem respeito à criança, ao adolescente e aoexercício, pois possibilita distinguir as adaptaçõesmorfológicas e funcionais resultantes de umprograma de treinamento das modificaçõesobservadas no organismo, decorrentes do processode maturação. Além disso, fica evidente que,conhecer os eventos que marcam a puberdade e

Crianças, adolescentes eatividade física
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
81
aceitar a variabilidade individual em que elesocorrem, é de suma importância para o profissionalque irá planejar os programas de atividade físicavoltadospara essa população específica.
Com relação ao rendimentoanaeróbio, a potência aeróbia e o limiar anaeróbiopode-se concluir que:a) a potência anaeróbia progride com a idade e queeste padrão é contrário ao que é descrito para oconsumo de oxigênio por quilograma de pesocorporal, o qual, em indivíduos do sexo masculino,permanece virtualmente sem modificações dainfância à fase adulta e entre as mulheres é até maisalto na fase pré-púbere do que durante a fase
púbere e pós-púbere;b) na maioria dos estudos que investigaram apotência anaeróbia lática de crianças e jovens, apuberdade foi reconhecida como um período chavedasmudançasno metabolismo anaeróbio;c) a determinação da intensidade de treinamentoaeróbio para crianças e adolescentes baseado nolimiar anaeróbio deve ser visto com cautela,principalmente com o limiar anaeróbiodeterminado a partir de valores fixos de lactato,pelo fato de as crianças possuírem uma limitaçãoreal em relação ao metabolismo glicolítico e,consequentemente, à produção de lactato.
ABSTRACT
CHILDREN, ADOLESCENTS AND PHYSICAL ACTIVITY:MATURATIONAL AND FUNCTIONAL ASPECTS
The purpose of this paper was to review the literature concerning children’s maturational andfunctional aspects in relation to physical exercise. In the first part of this review, a distinction was madebetween growth, development and maturation, and it was stressed the importance of the distinction betweenbiological and chronological ages for planning physical exercise programs for children and adolescents.Moreover, puberty, adolescence and maturation were considered in the discussion of topics such as anaerobicperformance, aerobic performance and anaerobic threshold related to these age groups. Considering theincreasing number of children and adolescents engaged in physical activities and also the lack of specificinformation, it seems advisable and necesary to conduct additional research to evaluate the relationshipbetween maturation and their physiological responses to exercise. Primary prevention and health promotionfor the youth should be sufficient to justify the development of research in thisarea.
UNITERMS: Children; Adolescents; Maturation; Anaerobic power; Aerobic power; Anaerobic threshold.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, C.G.S. Fundamentos biológicos: medicinadesportiva. Rio deJaneiro, Ao Livro Técnico, 1985.
ASTRAND, P.O. Crianças e adolescentes: desempenho,mensurações, educação. Revista Brasileira deCiência eMovimento, v.6, n.2, p.59-68, 1992.
ATOMI, Y.; FUKUNAGA, T.; HATTA, H.;YAMAMOTO, Y.; KURODA, Y. Lactatethreshold: its change with growth and relationship toleg muscle composition in prepubertal children. In:MALINA, R.M. Young athletes, biological,psychological, and educational perspectives.Champaign, Human Kinetics, 1988. p.79-83
BALE, P. The functional performance of children inrelation to growth, maturation and exercise. SportsMedicine, v.13, n.13, p.151-9, 1992.
BARBANTI, V.J. Dicionár io de educação física e doesporte. São Paulo, Manole, 1994. p.75
BAR-OR, O. Pediatr ic spor ts medicine for thepractitioner . New York, Springer Verlag, 1983.
___. Trainability of the prepubescente child. ThePhysician and Sports Medicine, v.17, n.5, p.65-82,1989.
BECKER, D.M.; VACCARO, P. Anaerobic thresholdalteration caused by endurance training in youngchildren. International Journal of SportsMedicine and Physical Fitness, v.23, p.445-9,1983.
BENEKE, R.; SCHWARS, V.; LEITHÄUSER, R.;HÜTLER, M.; DUVILLARD, S.P. Maximal lactatesteady state in children. Pediatr ic ExerciseScience,v.8, p.328-36, 1996.

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
82
BUTLER, G.E.; WALKER, R.F.; WALKER, R.V.;TEAGUE, P.; FAHMY, R.D.; RATCLIFFE, S.G.Salivary testosterone levels and the progress ofpuberty in the normal boy. Clinical Endocr inology,v.30, p.587-96, 1989.
DAVIES, C.T.M.; BARNES, C.; GODFREY, S. Bodycomposition and maximal exercise performance inchildren. Human Biological, v.44, p.195-214, 1972.
DI PRAMPERO, P.E.; CERRETELLI, P. Maximalmuscular power (aerobic and anaerobic) in africannatives. Ergonomics, v.12, p.51-9, 1969.
ERIKSSON, B.O. Muscle metabolism in children: areview. Acta Pediatr ica Scandinavica, v.283, p.20-7, 1980. Supplement.
ERIKSSON, B.O.; GOLLNICK, P.D.; SALTIN, B.Muscle metabolism and enzyme activities aftertraining in boys 11-13 years old. Acta PhysiologicaScandinavica, v.87, p.485-97, 1973.
ERIKSSON, B.O.; KARLSSON, J.; SALTIN, B.Muscle metabolism during exercise in pubertal boys.Acta Pediatr ica Scandinavica, v.217, p.154-7,1971. Supplement.
FALGAIRETTE, G.; BEDU, M.; FELLMANN, N.;VAN PRAAGH, E.; COUDERT, J. Bio-energeticprofile in 144 boys aged from 6-15 years withspecial reference to sexual maturation. EuropeanJournal of Applied Physiology, v.62, p.151-6,1991.
FARINATTI, P.T.V. Criança e atividade física. RiodeJaneiro, Sprint, 1995.
FARREL, P.A.; WILMORE, J.H.; COYLE, E.F.;BILLINGS, J.E.; COSTTIL, D.L. Plasma lactateaccumulation and distance running performance.Medicine and Science in Sports and Exercise,v.11, p.338-44, 1979.
FELLMANN, N.; BEDU, M.; SPIELVOGEL, H.;FALGAIRETTE, G.; VAN PRAAGH, E.;JARRIGE, J.F.; COUDERT, J. Anaerobicmetabolism during pubertal development at hightaltitude. Journal of Applied Physiology, v.64,p.1382-6, 1988.
FOURNIER, M.; RICCI, J.; TAYLOR, A.W.;FERGUSON, R.J.; MONTPETIT, R.R.;CHAITMAN, B.R. Skeletal muscle adaptation inadolescent boys: sprint and endurance training anddetraining. Medicine and Science in Sports andExercise, v.14, p.453-6, 1982.
GALLAHUE, D.L. Understanding motordevelopment: infants, children, adolescents.Indiana, Benchmark, 1989.
GUEDES, D.P. Crescimento, composição corporal, edesempenho motor em cr ianças e adolescentes domunicípio de Londr ina-Pr. São Paulo, 1994.189p. Tese (Doutorado) - Escola de EducaçãoFísica, UniversidadedeSão Paulo.
GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Influência daprática da atividade física em crianças eadolescentes: uma abordagem morfológica efuncional. Revista da Associação dos Professoresde Educação Física de Londr ina, v.10, n.17, p.3-25, 1995.
GUTMAN, E.; HANZLIKOVA, V.; LOJDAZ, Z. Effectof androgen on histochemical fiber type.Histochemie, v.24, p.287-91, 1970.
HALBE, H.W.; CUNHA, D.C.; MANTESE, J.C.Puberdade normal e anormal. Revista BrasileiraClínica eTerapêutica, v.10, n.7, p.469-92, 1981.
IMBAR, O.; BAR-OR, O. Anaerobic characteristics inmale children and adolescents. Medicine andScience in Sports and Exercise, v.18, p.264-9,1986.
KRAHENBUHL, G.S.; SKINNER, J.S.; KOHRT, W.M.Development aspects of maximal aerobic power.Exercise and Sport Sciences Reviews, v.13, p.503-38, 1985.
KROTKIEWSKI, M.; KRAL, J.G.; KARLSSON, J.Effects of castration and testosterone substitution onbody composition and muscle metabolism in rats.Acta Physiologica Scandinavica, v.109, p.233-7,1980.
KUROWSKI, T.T. Anaerobic power of children fromages 9 through 15 years. Florida, 1977. Thesis (M.Sc.) - FloridaStateUniversity. p.18-43.
MAHON, A.D.; VACCARO, P. Ventilatory thresholdand VO2max changes in children following endurancetraining. Medicine and Science in Sports andExercise, v.4, p.425-31, 1989.
MALINA, R.M. Biological maturity status of youngathletes. In: MALINA, R.M. Young athletes,biological, psycological and educationalperspectives. Champaign, Human Kinetics, 1988.p.121-40.
MARGARIA, R.; AGHEMO, P.; ROVELLI, E.Measurement of muscular power (anaerobic) in man.Journal of Applied Physiology, v.21, p.1662-4,1966.
MARSHALL, W.A. Puberty. In: FALKNER, F.;TANNER, J.M. Human growth: posnatal growth.New York, Plenun, 1978. v.2, cap.8, p.171-209.
MATSUDO, V.K.R.; PEREZ, S.M. Teste de corrida dequarenta segundos: características e aplicação. In:CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DEAPTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL.CELAFISCS: dez anos de contribuição as ciênciasdo esporte. São Caetano do Sul, CELAFISCS, 1986.p.151-96.
MIRWALD, R.L.; BAILEY, D.A.; CAMERON, M.;RASMUSSEN, P.L. Longitudinal comparison ofaerobic power on active and inactive boys aged 7 to10 years. Annals of Human Biology, v.8, n.5,p.405-14, 1981.

Crianças, adolescentes eatividade física
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
83
MORGAN, D.W.; MARTIN, P.E.; KRAHENBUHL,G.S. Factors affecting running economy. SportsMedicine, v.7, n.5, p.310-30, 1989.
PATERSON, D.H.; CUNNINGHAM, D.A.;BUMSTEAD, L.A. Recovery O2 and blood lacticacid: longitudinal analysis in boys aged 11-15.European Journal of Applied Physiology, v.55,p.93-9, 1986.
REYBROUCK, T.M. The use of the anaerobicthreshold in pediatric exercise testing. In: BAR-OR,O., ed. Advances in pediatr ic spor t sciences.Champaign, Human Kinetics, 1989. v.3, cap.5,p.131-49.
REYBROUCK, T.M.; WEYMANS, M.; STIJNS, H.;KNOPS, J.; VANDER HAUWAERT, L.Ventilatory anaerobic threshold in healthy children.European Journal of Applied Physiology, v.54,p.278-84, 1985.
ROTSTEIN, A.; DOTAN, R.; BAR-OR, O.;TENENBAUM, G. Effect of training on anaerobicthreshold, maximal aerobic power and anaerobicperformance of preadolescent boys. InternationalJournal of Sports Medicine, v.7, p.281-6, 1986.
ROWLAND, T.W. Aerobic response to endurancetraining in prepubescent children: a critical analysis.Medicine and Science in Sports and Exercise, v.5,p.439-96, 1985.
SANNIKKA, E.; TERHO, P.; SUOMINEN, J.;SANTTI, R. Testosterone concentrations in humanseminal plasma and saliva and its correlation withnon-protein-bound and total testosterone levels inserum. International Journal of Andrology, v.6,p.319-30, 1983.
SOBRAL, F. Adolescente atleta. Lisboa, LivrosHorizonte, 1988.
STANGANELLI, L.C.R. Mudanças no VO2máx e limiaranaeróbico em crianças pré-púberes ocorridas apóstreinamento de resistência aeróbia. Festur , v.3, n.2,p.42-5, 1991.
TANAKA, H. Predicting running velocity at bloodlactate threshold from running performance tests inadolescents boys. European Journal of AppliedPhysiology, v.55, p.344-8, 1986.
TANAKA, H.; SHINDO, M. Running velocity at bloodlactate threshold of boys aged 6-15 years comparedwith untrained and trained young males.International Journal of Sports Medicine, v.6,p.90-4, 1985.
TANAKA, K.; MATSUURA, Y.; KUMAGAI, S.;MATSUZAKI, A.; HIRAKOBA, K.; ASANO, K.Relationship of anaerobic threshold and onset ofblood lactate accumulation with enduranceperformance. European Journal of AppliedPhysiology, v.52, p.51-6, 1983.
TANNER, J.M. Growth at adolescent. Oxford,Blackwell Scientific, 1962.
TOLFREY, K.; ARMSTRONG, N. Child - adultdifferences in whole blood lactate responses toincremental treadmill exercise. British Journal ofSports Medicine, v.29, n.3, p.196-9, 1995.
WEINECK, J. Biologia do esporte. São Paulo,Manole, 1991.
WOLFE, R.R.; WASHINGTON, R.; DABERKOW, E.;MURPHY, J.R.; BRAMMEL, H.L. Anaerobicthreshold as a predictor of athletic performance inprepubertal female runners. American Journal ofDiseases of Children, v.140, p.922-4, 1986.
Recebido para publicação em: 16 out. 1997Revisado em: 07 ago. 1998
Aceito em: 21 set. 1998

TOURINHO FILHO, H. & TOURINHO, L.S.P.R.
Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, 12(1): 71-84, jan./jun. 1998
2
ENDEREÇO: Hugo Tourinho FilhoFaculdade de Educação FísicaUniversidade de Passo FundoCampusUniversitário s/n°99001-970 - Passo Fundo – RS - BRASIL